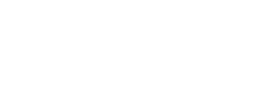“Ensaios de Cinema Brasileiro"
 Os arrebatadores “Ensaios de Cinema Brasileiro”, de Andrea Ormond
Os arrebatadores “Ensaios de Cinema Brasileiro”, de Andrea Ormond
A maior e melhor notícia sobre a fortuna crítica sobre o cinema brasileiro é a publicação dos três volumes dos “Ensaios de Cinema Brasileiro”, da pesquisadora, crítica, escritora e curadora carioca Andrea Ormond, que acabaram de chegar para lugar de honra nas prateleiras de todo cinéfilo amante do cinema brasileiro, pesquisadores e público em geral. São novíssimas, pois ainda que os volumes I e II foram publicados, respectivamente, em 2016 e 2017, Andrea revisou e ampliou o conteúdo deles, e o que já era uma maravilha virou um espanto, pois eles praticamente dobraram de tamanho, O primeiro abarca “Dos filmes silenciosos à pornochanchada” e o segundo “Os anos 1980 e 1990”. Já o terceiro, totalmente inédito, abarca “Os anos 2000 e 2010”. Além deles, é importante ressaltar também o ensaio petardo “Walter Hugo Khouri, o ensaio singular”, publicado em 2023, publicação de fôlego sobre a obra do genial e singular cineasta
Tive a honra de participar do Volume II com um texto sobre a autora e sua obra, e lá eu já dizia, como em outras vezes que escrevi ou falei sobre a Andrea Ormond, que ler seus escritos sobre o cinema brasileiro é aprender sobre a História do Brasil, sobre o que é o Brasil e sobre o que é o brasileiro. Seus textos sedutores nos ensinam e nos abrem novas portas, janelas e frestas para a nossa riquíssima filmografia. É sobre cinema. E é também sobre história, geografia, política, filosofia, , psicanálise, arquitetura, jornalismo, música, teatro, costumes, sexo. Enfim, é sobre todos, todas e todes nós.
No meu texto, que, marotamente, chamei de “Apertem os cintos!”, procurei, em breve síntese, sinalizar todo esse abissal estado de coisas que permeiam os escritos de Andrea. Afinal, de que outra pena podemos sentir a temperatura do que é o Brasil, tanto no seu olhar sobre filmes como Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, quanto em Viagem ao Céu da Boca (1981), de Roberto Mauro; de Amor Maldito (1984), de Adélia Sampaio, quanto de Cinema de Lágrimas (1995), de Nelson Pereira dos Santos; de O Ébrio (1946), de Gilda de Abreu, quanto No Coração do Mundo (2019), de Gabriel Martins e Maurílio Martins?
Andrea Ormond é a criadora do indesviável Blog "Estranho Encontro", que, há quase 20 anos, no planeta internet, refunda a história do cinema brasileiro por uma lente e uma pena impressionante e singularíssima. Seus textos, como ela já disse uma vez, são "líveis", são deliciosamente líveis. Ela também escreve e escreveu em muitas outras publicações, como Zingu!, Cinética, Revista Filme Cultura e Folha de S. Paulo, assim como para projetos em que fez a curadoria, como a Mostra Curta Circuito - Cinema Permanente, em Belo Horizonte. Agora, nessas publicações, que Ormond dedica ao pesquisador, escritor, e seu marido, Carlos Ormond, parceiro fundamental na edificação dessa fortuna crítica, o leitor tem a oportunidade de se esbaldar com esse tesouro reunido.
O site Mulheres do Cinema Brasileiro convidou Andrea Ormond para falar sobre esse seu e nosso momento - sim, porque o momento de Andrea diz, intrinsecamente, sobre o nosso momento e de todo o país -, o que ela faz abaixo com sua costumeira e arrebatadora maestria, inteligência e fino humor.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Andrea, já são quase duas décadas do Blog “Estranho Encontro”, esse tesouro sobre o cinema brasileiro no planeta internet. O que te moveu a publicar em livros os volumes “Ensaios de Cinema Brasileiro – Volume I, II e III”?
Andrea Ormond: Muita coisa aconteceu dentro e fora do cinema brasileiro, desde que publiquei a primeira edição do volume I (2016) e do volume II (2017). Também escrevi em tempo real sobre filmes que estavam sendo lançados, nos anos 2010. Além disso, meus textos estavam dispersos em fontes diferentes. Então criei uma missão para mim mesma: juntar tudo, fazer com que um livro dialogasse com o outro. Revisei os volumes I e II, atualizei, ampliei com textos novos. O volume I aborda desde o nascimento do cinema brasileiro até o fim dos anos 1970. O volume II aborda as décadas de 1980 e 1990. O volume III é inédito, não foi publicado antes, e trata das décadas de 2000 e 2010. A Casa Rex elaborou o projeto gráfico dos três livros. No total, os 248 ensaios cobrem desde século XIX até o século XXI. Ciclos, pessoas, filmes, Brasis diferentes.
MCB: Os ensaios abarcam desde a fase silenciosa até o cinema brasileiro da década de 2010, o que é um feito e tanto, pois, geralmente, a fortuna crítica se atém muito mais à produção contemporânea, ou, pelo menos, sobre momentos específicos do cinema brasileiro. De onde vem todo esse fôlego de pesquisadora?
AO: Como você disse, são vinte anos de trabalho. A vontade de ver e descobrir filmes não acaba. Ela vai se espichando, junto com novas leituras, com novas experiências que não se esgotam no cinema. Nasci e renasci diversas vezes nesse período. A minha obra é um reflexo de tudo isso.
MCB: Impressiona a revisão e a ampliação dos volumes 1 e 2, pois eles quase dobraram de tamanho. Ainda assim, há muita produção crítica sua fora deles, assim como se dá com o volume 3. Como foi fazer essa seleção?
AO: Um texto dialoga com outro, com outro, com outro. E os livros conversam entre si. Costurei os três livros para trazer ao leitor bastidores e reflexões críticas sobre o cinema brasileiro. Gente do mainstream, gente iconoclasta, gente esquecida, em mais de 100 anos de filmes.
MCB: Nessa revisão, poderia citar alguns exemplos do que permaneceu e do que mudou sobre esses filmes, atores e momentos históricos?
AO: Retirei dos volumes I e II os filmes do Walter Hugo Khouri, para quem reservei um livro específico: Walter Hugo Khouri, o ensaio singular, publicado no ano passado. Pessoas queridas se foram, eventos históricos tumultuaram o balé todo. O terceiro volume, por exemplo, acaba antes da pandemia de 2020, o que é significativo. No volume I, dei ênfase a nomes como Carmen Santos, Grande Otelo, Mazzaropi. O volume II ganhou novas perspectivas para tratar da quebra da Embrafilme e a suposta Retomada. Assunto não faltou.
MCB: No volume 3, tem um belo ensaio com o nome provocativo “Como gostar de cinema brasileiro?”, e no qual, entre outros pontos, você diz que “precisamos refundar de maneira geral nossa relação com a filmografia brasileira". Poderia dizer aqui algumas palavras sobre isso?
AO: O cinema brasileiro não aparece do nada, não é feito para servir ao paladar de um grupo isolado em uma ilha deserta. Nesse texto eu cito nomes como Xavier de Oliveira, Carlos Hugo Christensen e Alberto Salvá. Se não entendemos o passado, podemos achar que, por um golpe de sorte, alguém salvou a pátria. Exemplo: dei o nome de “moneychanchada” para as comédias dos anos 2010. Por quê? Ora, porque a chanchada e a pornochanchada existiram antes, firmes e fortes, com várias tendências em um estirão de tempo. Antes delas, Lulu de Barros. Jece Valadão precedeu Capitão Nascimento e Zé Pequeno. Quando encararmos os fantasmas e o espelho, conseguiremos refundar nossa relação com o cinema brasileiro.
MCB: No seu entender, qual é o papel do crítico de cinema e qual o papel do pesquisador de cinema?
AO: Vamos usar uma metáfora aqui: vamos pensar nos sambaquis. Eles realmente existem e são encontrados com restos humanos, conchas, detritos, em vários pontos do Brasil. É a pré-história brasileira. Sou fascinada pelo tema. A pesquisa permite que encontremos os sambaquis, que fixemos o período histórico. A crítica permite que tenhamos uma reflexão estética, uma tomada de posição sobre os sambaquis que descobrimos no cinema. Para essa reflexão estética, sair de cima do muro é importante. Requer, no mínimo, conhecimento sobre o tema e a voz autoral, marcante do crítico. Sem isso, a crítica é murcha e não se comunica com o leitor.
MCB: Como espera que o público em geral receba essas suas importantes publicações, que, como você mesma já disse, complementam-se – os três volumes e o ensaio sobre o Walter Hugo Khouri?
AO: Criei os livros para as pessoas sentirem-se em casa. Ou em um sonho. A casa e o sonho são o cinema brasileiro. Eu amo o Brasil. Quando era mais jovem passei um período na Inglaterra que foi importante, mas hoje nunca moraria em outro lugar do mundo. Quero que o público entenda, e sinta, este pertencimento histórico através da minha obra.
MCB: Zélia Costa e o filme As testemunhas não condenam, de 1962, são relíquias escondidas na história do cinema brasileiro. Você tem conhecimento sobre esse capítulo da nossa filmografia?
AO: É natural, no cinema, que muita coisa se perca com o tempo. Até por conta dos incêndios, das enchentes. Outras coisas são desprezadas por herdeiros. Outras são encontradas ou recuperadas. Um exemplo recente de resgate aconteceu em A praga, do José Mojica Marins, depois de um trabalho exaustivo da Heco Produções. É com esse pano de fundo que nós precisamos entender o fenômeno da Zélia. Com um agravante histórico e social: 1962, ano de As testemunhas não condenam, é o mesmo ano do Estatuto da Mulher Casada, Lei n° 4.121. A Lei atualizou o Código Civil e suavizou o horror jurídico de ser mulher no Brasil, um país em que as mulheres não podiam sequer trabalhar sem autorização dos maridos. Dizem que Zélia Costa seria um pseudônimo, mas sua existência é citada por Jorge Loredo, entre outros. É mais um exemplo dos corredores do cinema brasileiro. Outro exemplo que gosto de lembrar: Cajado Filho. O homem era um espetáculo, preto, gay, a mão por trás de O Homem do Sputnik, e mal se fala dele. Relíquias não faltam. Viu a beleza da arqueologia amorosa e crítica? Um fio puxa o outro. E podemos ir nos perdendo neles.
MCB: Tempos atrás, te solicitei , em uma entrevista, que escrevesse algumas linhas sobre algumas atrizes brasileiras. Dessa vez te peço sobre diretoras. Topa? São elas:
AO: Topo. Vou usar o método surrealista e falar as primeiras ideias que me vierem à cabeça. Deixar meu inconsciente falar.
Cléo de Verberena: Jacyra Silveira, a pioneira do dominó preto.Carmen Santos: criatura ímpar, diva e CEO antes de isto ser comum.Gilda de Abreu: a loba que amou Vicente Celestino e se reinventou viúva e idosa.Maria Basaglia: Itália, São Paulo, exotismo, melodrama, embrulhados nos anos 1950.Carla Civelli: na linha da Vera Cruz, mas com uma bomba feminista por dentro.Tereza Trautman: curtir longamente a contracultura do mundo em ebulição da década de 1970.Vanja Orico: Multidimensional, para muito além de O Cangaceiro.Tizuka Yamasaki: idas e vindas entre o TV e o cinema, entre a historiografia e o pop.Maria do Rosário Nascimento e Silva: não se conformar com a beleza física é uma ótima estratégia. Ana Carolina: “Deus está morto!”, tudo se partiu.Suzana Amaral: Macabéias dançam valsas.Rosângela Maldonado: de Rainha do Carnaval para o cinema de horror, com Mojica.Adélia Sampaio: lembro de conversar com José Louzeiro sobre o roteiro que escreveu para Amor Maldito, de Adélia. Parceria sólida.Carla Camurati: Além de Carlota Joaquina, alguém que consegue entender o escracho de Irma Vap e a melancolia de Copacabana.Tata Amaral: Cinema policial, desordem, família debaixo da lupa.Eliane Caffé: Documentário na ficção. Laís Bodanzky: Sem temor reverencial com a obra do pai.Anna Muylaert: Incontornável na década de 2010 do cinema brasileiro.Helena Ignez: Protagonista de vários ciclos do cinema brasileiro, à frente, ao lado, atrás das câmeras. Sempre.Paula Gaitán: Fluidez de gêneros em poucos filmes.Glenda Nicácio: Café com canela foi uma estreia certeira.Juliana Rojas: Talento raro, que transborda.Viviane Ferreira: O rosto de Léa Garcia, em Em um dia com Jerusa.Júlia Katherine: “This is not Dancin Days”, diria Gilda Nomacce.Grace Passô: Estreia recente como diretora no cinema e um dos sinônimos da produtora “Filmes de Plástico”.
Entrevista realizada por e-email no dia 02 de setembro de 2024.
::Voltar