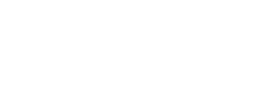Tiradentes - Televisão e Cinema, Aurora
 Seminário/Debate - Trânsito entre telas
Ontem, quinta, 29, na 18ª Mostra de Cinema de Mulheres, o Mulheres acompanhou um Seminário, assistiu dois longas, e colheu três depoimentos.
Seminário/Debate - Trânsito entre telas
Ontem, quinta, 29, na 18ª Mostra de Cinema de Mulheres, o Mulheres acompanhou um Seminário, assistiu dois longas, e colheu três depoimentos.
A Mostra reservou seu espaço da tarde, com um horário de mais fôlego – 15h às 17 – para o Seminário/Debate “Trânsito entre Telas”, reunindo cineastas com experiência no cinema e na televisão.
José Luiz Vilamarin é o nome da vez, pois muito justamente vem fazendo trabalhos excepcionais na televisão como diretor: “Avenida Brasil”, “O canto da sereia”, “Amores roubados” e “O rebu”.
Marcos Bernstein é roteirista com folha corrida importante no cinema, como “Central do Brasil”, além de cineasta de talento – “O outro lado da rua”, “Meu pé de laranja lima” -, e escreveu a novela (com Carlos Gregório) “Além do horizonte”.
Juliana Rojas é das mais talentosas cineastas da atual geração, com um cinema voltado para o gênero horror, o que faz dela um caso quase único entre as mulheres que estão fazendo cinema hoje – “Um ramo”, “O duplo”, “Trabalhar cansa” (com Marco Dutra). Realizou uma versão televisiva de “Sinfonia da necrópole” para a TV Cultura.
José Alvarenga, que também participaria da mesa não compareceu.
Já o mediador foi o crítico Rodrigo Fonseca, que devido a duração do debate mais alongada em relação aos outros, pode participar mais efetivamente com falas e perguntas estimulantes, já que é admirador tanto da televisão quanto do cinema.
De todas as colocações, as mais pertinentes foram, mais que as questões estéticas que permeiam cada veículo e o que cada um possa ter levado de um para o outro, foi a questão público.
Interessante ouvir, sobretudo dois profissionais da maior emissora do país, a Globo, e como eles veem seu ofício e relação com o público.
Sugestionado pela plateia, de que em produções recentes da TV há espaço para elementos trabalhados no cinema, como o silêncio, por exemplo, Bernstein afirmou que “há espaço para o silêncio sim, mas ele ainda é um privilégio”. Segundo ele, sobretudo, para novelas para o horário das seis ou das sete, trabalhar com o silêncio é complicado, pois o público pode ser dispersar, já que, neste horário, as pessoas ainda estão em estado de alerta, fazendo milhões de coisas. Já para as produções mais tarde, como as minisséries e novelas das 23h, o espectador já se aquietou, daí a fruição ser outra.
Essa colocação provocou outra reverberação na plateia: "isso quer dizer, então, que a TV aberta se dirige apenas ao telespectador tradicional, já que muitos, hoje, assistem as obras não mais ali na hora, mas gravadas para assistir depois ou mesmo pela internet? "Se a TV procura, sempre, aumentar seu público, o que ela está fazendo para contemplar esse novo panorama de telespectadores?"
Ambos, tanto Bernstein quanto Vilamarin, apenas roçaram no tema, dizendo que a TV já presta atenção nisso, mas sem aprofundar em como isso se dá, para além de pesquisas e repercussão nas redes sociais.
José Luis Vallamarin, ao falar do público, disse que a TV condicionou suas plateias, daí que há agora, pelo menos de sua parte, um caminho de tentativa de “reeducação do público”: “Muita coisa mudou, mas ainda somos analfabetos”. Ilustrando sua fala, citou o remake de O rebu: “a novela foi feita pelo Bráulio Pedroso há décadas, uma realização moderna, com a trama em um dia, que não foi sucesso, mas se tornou cult. Hoje, as pessoas tinham dificuldades do tipo ‘mas como aqueles policiais só chegaram no terceiro capítulo?’”
O questionamento mais duro veio da plateia: “se a TV aberta quer aumentar seu público, como explicar a ausência de atores negros nas novelas, se o país tem tantos negros e, nas novelas, há apenas a burguesia branca?”. O seriado e a repercussão de Miguel Falabella, claro, vieram à tona, mas o interessante foi observar o “desconforto” da mesa: “mas não temos grandes atores negros”, disse Villamarin; “Aqui mesmo nessa plateia, onde estão os negros, só estou vendo três”, emendou. “Enfim, temos um problema aí, do país, e que precisamos dar jeito”.
Mostra Aurora
A Mostra Aurora apresentou dois longas: “Mais do que eu possa me reconhecer”, de Allan Ribeiro; e “A casa de Cecília”, de Clarissa Appelt.
“Mais do que eu possa me reconhecer” reconfirma o talento de Allan Ribeiro, que já impactara com seu primeiro longa, o belíssimo “Esse amor que nos consome”.
O filme entra na casa do artista plástico Darel Valença Lins. Mostra o artista, mostra sua casa, mostra sua história, mostra a sua obra. Mostra também sua paixão pelo cinema – o filme conta com imagens realizadas pelo próprio Darel.
E ao mostrar tudo isso, e mais relação do artista com o cineasta, que aparece no próprio filme – aparece no áudio, além de uma cena sensacional em que a equipe é filmada por Darel, que sem a menor cerimônia deleta a imagem gravada logo depois de mostrar.
Ao mostrar tudo isso, o filme mostra também, subterraneamente, a solidão de um artista em sua fase crepuscular – estava com 85 anos durante a filmagem, e hoje com 90. Não aquela solidão que paralisa uma pessoa, e no caso dele um artista consagrado. Mas a solidão que se instala no cotidiano: “de manhã tomo cinco xícaras de café, pois acordo muito deprimido”, “Quando acordo penso, o que vou fazer hoje?”.
“Mais do que eu possa me reconhecer” é daqueles filmes que focalizam um personagem extremamente interessante. Só que o melhor é que não fica refém dele e nem o exibe como único trunfo, já que Allan Ribeiro é um baita diretor.
“A casa de Cecília” é filme de graduação da jovem cineasta Clarissa Appelt, um dado formidável, tanto por ser um filme de universidade e já ter sido selecionado para uma mostra importante como a Tiradentes, que tem todo o mundo do cinema no país olhando para ela, como pelo fôlego revelado pelo filme.
“A casa de Cecília” tem problemas? Sim, tem. Sobretudo em muitos diálogos entre as duas adolescentes – é um filme muito verborrágico e os diálogos muitas vezes não conseguem soar naturais. E também em algumas escolhas da direção.
Ainda assim, “A casa de Cecília” é filme que se acompanha com interesse do início até o final. E assusta em alguns momentos.
Sim, porque o filme aborda o universo adolescente, mas por um viés não comumente trabalho: o impacto da morte. Aqui, uma garota de 14 anos que não consegue se refazer da morte da mãe, quando tinha cinco anos, e nem da relação com pai. E, o grande achado do filme, com a introdução do horror no cotidiano da adolescente.
“A casa de Cecília” é filme irregular e deficiente, mas chama atenção para os próximos trabalhos da cineasta.
Mais informações sobre a 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes.www.mostratiradentes.com.br
::Voltar
 Seminário/Debate - Trânsito entre telas
Seminário/Debate - Trânsito entre telas