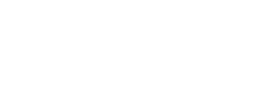Wilma Henriques
 Wilma Henriques nasceu em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, em 15 de fevereiro de 1931. Ainda criança, veio com os familiares para Belo Horizonte, e a veia artística já pulsava: “Nas festas de família, eu sapateava, dançava, recitava. Eu devia ser uma chata, não é? Porque no meio de todo mundo, daquelas belezuras todas, ninguém fazia, era só eu, todo mundo achava lindo, maravilhoso”. Começou a carreira artística na televisão, em 1959, na TV Itacolomi, onde apresentou o programa feminino Espelho. Depois foi garota propaganda, apresentou outros programas e atuou em teleteatros e novelas: “Eu nunca tinha entrado em um estúdio de televisão na minha vida, cheguei no Acaiaca (edifício) e fiquei apavorada, porque era no Acaiaca, no 24º andar. Era uma coisa, um negócio enorme, com eletrodomésticos, móveis, tinha tudo quanto é set, de tudo quanto era montagem, tudo ali, porque era tudo ao vivo”.
Wilma Henriques nasceu em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, em 15 de fevereiro de 1931. Ainda criança, veio com os familiares para Belo Horizonte, e a veia artística já pulsava: “Nas festas de família, eu sapateava, dançava, recitava. Eu devia ser uma chata, não é? Porque no meio de todo mundo, daquelas belezuras todas, ninguém fazia, era só eu, todo mundo achava lindo, maravilhoso”. Começou a carreira artística na televisão, em 1959, na TV Itacolomi, onde apresentou o programa feminino Espelho. Depois foi garota propaganda, apresentou outros programas e atuou em teleteatros e novelas: “Eu nunca tinha entrado em um estúdio de televisão na minha vida, cheguei no Acaiaca (edifício) e fiquei apavorada, porque era no Acaiaca, no 24º andar. Era uma coisa, um negócio enorme, com eletrodomésticos, móveis, tinha tudo quanto é set, de tudo quanto era montagem, tudo ali, porque era tudo ao vivo”.
A estreia profissional no teatro foi com a peça O macaco da vizinha, dirigida por Carlos Laerte. Daí não para mais e jamais abandona os palcos, com espetáculos importantes e premiados no currículo que lhe renderam o título de Primeira Dama do Teatro Mineiro, como a montagem de Fala baixo se não eu grito, em 1973 : “Foi um estouro, foram quatro meses de temporada lá no Senac, uma peça que ganhou tudo quanto era prêmio que você pode imaginar. É da Leilah Assumpção, de São Paulo, um espetáculo lindo. Eu coloco a minha carreira antes e depois do Fala baixo”.
A estreia no cinema se dá em grande estilo no filme O menino e o vento, dirigido por Carlos Hugo Christensen. Baseado no conto O iniciado do vento, de Aníbal Machado, O menino e o vento é um grande filme da década de 1960 e um dos melhores do grande cineasta Carlos Hugo Christensen. Wilma Henriques tem papel de destaque como a principal personagem feminina, contracenando com o protagonista interpretado por Ênio Gonçalves. No filme, ela faz a dona do hotel, que se apaixona pelo personagem do Ênio, o hóspede, e, recusada em suas investidas amorosas, mostra todo o seu recalque: “Eu sei que, quando eu botei o figurino, e uma das roupas era minha, eu comecei a senti-la. Eu li o texto todo, eu comecei a sentir e comecei a ver realmente quem ela era, pesada, recalcada, mas um vulcão, não é? Um vulcão”. Depois, atua em mais três filmes, Ela e os homens, de Schubert Magalhães; Aleijadinho, paixão, glória e suplício, de Geraldo Santos Pereira; e Vinho de rosas, da cineasta Elza Cataldo.
Wilma Henriques recebeu o site Mulheres do Cinema Brasileiro em sua casa em 2012, em ótima entrevista em que relembra sua infância, revisita sua carreira, fala sobre seus trabalhos, conta casos de bastidores da televisão, do teatro, e, claro, do cinema.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Wilma, você nasceu em Lafaiete, não é isso?
Wilma Henriques: Eu nasci em Conselheiro Lafaiete e vim para cá com dois anos. Minha família toda mudou para cá e aqui eu fiquei.
MCB: Como foi viver em Belo Horizonte na década de 30?
WH: Na década de 30 eu não lembro não, porque eu estou com 80 anos, nasci em 1931.
MCB: Sim, você era muito criança...
WH: Muito criança. Fui para o Colégio Santa Maria. Eu tive uma infância muito bonita, linda, maravilhosa, uma família muito boa. Eu era filha única. Meu pai e minha mãe cuidaram de mim de uma forma já bastante avançada para a época, porque eu participava de desfile de beleza, enfim, de eventos daquela época, de acordo com a época. Com sete anos, por exemplo, participei de um concurso de beleza no Minas Tênis Clube, eu me lembro perfeitamente disso e vivia sendo dama de honra de casamentos, coroação de Nossa Senhora. Na época, o Colégio Santa Maria era um dos melhores de Belo Horizonte, era o Sacre Coeur de Marie, eram irmãs francesas. Lá eu fiquei desde a primeira série, antigamente era ginásio. Depois fui fazer o clássico, o científico e um outro que eu não me lembro. Mas aí, quando eu estava com 14 anos, eu estava no colégio ainda, meu pai, um ano antes, faliu, perdeu tudo, ficou sem nada e foi aquele abalo, aquela confusão toda, a família muito desorientada. Eu tinha uma outra irmã menor, eu no colégio e tal, então a nossa vida fez assim... Quando fez um ano ou dois, ele morreu, eu fiquei sem pai com 14 anos, de Cinderela que eu era virei uma gatinha borralheira.
MCB: Você não era filha única?
WH: Não. Eu fui filha única até oito anos, aí nasceu a outra. Mas quando ele morreu, a outra tinha cinco e eu tinha 14, era novinha, então mudou a nossa vida toda. Eu continuei no colégio, porque as freiras não me deixaram sair, chamaram mamãe lá, falaram que ela não precisava pagar nada, que eu era uma menina muito inteligente. Eu vivia no colégio, participava de divulgações, de teatrinho, aquelas coisas que tinha tudo lá, garden party. Continuei estudando, quando eu me formei eu queria continuar, eu ia fazer o clássico, sempre gostei muito de línguas. Mas aí a mamãe falou que eu não podia continuar, que teria que trabalhar, porque ela tinha um irmão que assumiu a despesa dela. Você sabe, não é? Família é família, e eu não me incomodei com aquilo não. Eu já estava com 16 anos, fui trabalhar para sustentar minha casa, parei de estudar, começou a minha vida ali. Eu não achava ruim, achava tudo lindo, vivia sorrindo, achava tudo maravilhoso. Eu acho que as coisas que acontecem com a gente aqui é porque têm que acontecer, a gente vem pra isso, não é? Então aí passou, eu comecei a trabalhar, trabalhei num lugar, noutro, depois comecei no Sesiminas, em 1948 eu entrei no Sesiminas.
MCB: Nesse período você já imaginava que seria atriz?
WH: Já. Desde criança. Nas festas de família, eu sapateava, dançava, recitava. Eu devia ser uma chata, não é? Porque no meio de todo mundo, daquelas belezuras todas, ninguém fazia, era só eu, todo mundo achava lindo, maravilhoso. Era uma menina muito saudável, muito bonita, muito inteligente. Eu queria muito, papai não, porque quando eu era criança, bem antes dele morrer, ele já falava, ele era um homem muito adiantado para a época, que queria que eu fizesse química industrial. Olha só, em 1945 e esse homem já falava isso. Eu comecei a trabalhar no Sesi em 48, lá eu fiquei durante um tempo. Eu fui noiva, era para casar, mas não me casei, desisti de duas pessoas com quem eu namorei. Mamãe era muito difícil, mandava em mim mesmo. Para você ter uma ideia, foi com 23 anos que eu tive a minha primeira saída mesmo, como mulher, eu fui para a rua. O primeiro relacionamento mais sério com homem, porque não podia, ela me repreendia muito, eu fui criada assim. Aí os anos foram passando, eu conheci uma pessoa e fiquei noiva, a gente pretendia se casar, mas a família dele não queria porque era uma família tradicional, daqui de Belo Horizonte. Eles achavam que eu não estava à altura. Essas coisas de rico, de gente rica boba, idiota, cai tudo, não é? A gente ficou naquele “casa não casa” e acabou que eu convivi com ele, eu não vivi, por 16 anos, viajávamos muito. Tive uma vida muito saudável e tal, mas em 1959 eu comecei minha carreira na TV
MCB: Que foi no programa Espelho...
WH: Não, ainda era Teatro Lourdes.
MCB: Mas você apresentou um programa chamado Espelhos, não apresentou?
WH: Espelho? Ah, Espelho, foi. O meu lançamento na televisão, com imagem, foi em um programa feminino que era produzido por esse homem que me lançou, que era o Otávio Augusto Lamprê, que tinha sido diretor da TV Itacolomi. Nessa época ele já não estava mais como diretor lá dentro, mas tinha uma agência de propaganda em que ele comprava os horários, tinha o elenco dele. Eu me lembro da Itacolomi, um elenco dele, eu comecei no teleteatro com ele. Mas a primeira coisa que eu fiz na televisão foi a apresentação de um programa feminino, chamava Espelho. Eu nunca tinha entrado em um estúdio de televisão na minha vida, cheguei no Acaiaca (edifício) e fiquei apavorada, porque era no Acaiaca, no 24º andar. Era uma coisa, um negócio enorme, com eletrodomésticos, móveis, tinha tudo quanto é set, de tudo quanto era montagem, tudo ali, porque era tudo ao vivo. Bom, aí comecei fazendo esse programa, em todas as sextas-feiras, às seis e meia da tarde. Um mês depois, ele me chamou para fazer uma substituição num teatro dele, num personagem muito mais velho que eu, ele estava fazendo o Pigmaleão, do Bernard Shaw. Ele me chamou para fazer a mãe, que era a Lea Delba. Ela estava ensaiando e quebrou o pé. Lá fui eu, com 26, 27 anos, não me lembro bem, fazer. Foi uma dificuldade, porque maquiagem não podia, com essa idade que eu estou hoje não estou enrugada, imagine com aquela idade.
MCB: Isso foi em 59...
WH: Isso já foi em 59. Entrei, comecei ali, fiz a substituição que tinha que fazer, e aí não parei mais, não é? Comecei a fazer teatro com ele, ele era ator e a mulher dele também era atriz, ele era de São Paulo, a mulher dele era gaúcha, Glória Elizabete era o nome dela. A Itacolomi já tinha um elenco, eu trabalhava como escola de televisão mesmo, aí parou a programação dele e a TV Itacolomi me contratou em 61.
MCB: Os teleteatros eram todos feitos ao vivo.
WH: Tudo ao vivo. A gente ensaiava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ia para o ar.
MCB: Nessa época, ou um pouco depois, você passou por outras emissoras, não foi isso?
WH: Não. Eu fiquei de 59 até 65 na Itacolomi. Quando chegou o videotape, programação gravada, parou o teleteatro, mas mesmo assim eu ainda continuei. Veio um diretor do Rio dirigir as emissoras aqui e, então, ele me chamou para fazer um programa também na TV Alterosa, que era associada. Tinha um dono e tinha os Diários Associados, com sócios. Eu fui fazer um programa feminino, chamava O Assunto é mulher, fiz durante muitos anos. Fiz algumas novelas. Depois comecei a fazer cinema, em 66 eu fiz o primeiro filme, que foi o Menino e o vento.
MCB: Você se lembra dessas novelas?
WH: Ah, lembro, eram novelas bíblicas. Tinha uma moça que adaptava as obras do Chico Xavier. Uma era Há 2000 anos, que falava do senador Publio Lentulus, que é o Emannuel, o guia espiritual do Chico. Eu fiz uma daquelas romanas lá na época, não me lembro se era A Mulher de Pilatos, uma coisa assim. Fiz 50 Anos Depois, que era o Publio em outra encarnação, foi na época da epidemia de varíola na Europa, eu fiz a heroína da novela, chamava Diana, me lembro o nome dela até hoje. Depois fiz Renúncia, que é outra obra dele baseada em outra encarnação do senador Publio Lentulus, aí ele fazia um padre, era uma novela muito bonita. Nessa eu era uma mulher mal casada, apaixonada pelo marido, que traía ela, enfim, era uma confusão danada, ela fazia tudo quanto era maldade possível e eu não gostava da personagem. A gente ia na casa do Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, para conversar com ele sobre os trabalhos. Você conheceu o Chico?MCB: Não.
WH: Você perdeu! Depois parou de vez e eu continuei como garota propaganda, durante muitos anos, fazendo propaganda ao vivo.
MCB: O que era uma função um tanto clássica, não é? Muito famosa nessa época.
WH: É, era clássico. Eu fiz durante muitos anos.
MCB: Tinha a Neide Aparecida...
WH: É, aqui tinha Clausi Soares, Neide Albani, Ana Lúcia Kattah, que também foi famosa na época dela. Eu fiquei como garota propaganda, e aí já era através de agências, contratada pela Starlight Propaganda. Na época, eu fui fazer propaganda de uma casa, a Radiante, que tem até hoje na cidade, era muito engraçada, o bordão do comercial era "Comprar na Radiante é uma barbada" (risos). Isso eu fiz na TV Belo Horizonte, que depois passou a ser da Globo. Eu fiquei uns quatro anos fazendo comercial ao vivo, e aí comecei a fazer teatro, em 66. A minha primeira peça de teatro no palco foi O Macaco da vizinha, dirigida pelo professor Carlos Leite.
MCB: Gostaria que você citasse alguns espetáculos da sua trajetória nos palcos. Eu sei que você tem um carinho especial, por exemplo, por A prostituta respeitosa.
WH: É, foi em 77.
MCB: Eu gostaria que você deixasse registrados alguns espetáculos.
WH: Olha, em 66 eu fiz O Macaco da vizinha. Em 67 eu fiz uma comédia muito boa, Uma cama para três, o Elvécio Guimarães que dirigiu, nós fomos inclusive a Brasília com ela, fizemos muito sucesso. Logo depois eu fiz À Margem da vida, em 67, direção de Bittancourt, foi um sucesso, fomos a Brasília também com essa peça. Em 69 nós montamos Geração em revolta, eu, Jota D´Ângelo, Rogério Falabella, Wilma Patrícia e Antônio Eustáquio, acho que com cenário e figurino de Alberei Machado e com Zé Maria Muniz, que fazia toda a cenotécnica. Em 70 e 71 não fiz nada, porque eu já estava no Sesi. Eles criaram uma divisão de cultura e eu fui chefiar essa divisão nessa época, fiquei muito puxada para o meu trabalho lá, não podia fazer outra coisa. Eu fiquei sem fazer teatro, fazia comercial, gravação simples, essas coisas, mas teatro não dava pra fazer. Em 73, eu fiz o meu grande sucesso naquela época, Fala baixo se não eu grito, uma produção do Zé Mayer. Fizemos no Teatro Senac, com direção do grande Eid Ribeiro e com o Arildo de Barros, que hoje está no Galpão. Foi um estouro, foram quatro meses de temporada lá no Senac, uma peça que ganhou tudo quanto era prêmio que você pode imaginar. É da Leilah Assumpção, de São Paulo, um espetáculo lindo. Eu coloco a minha carreira antes e depois do Fala baixo, o Eid me descabaçou como atriz, como mulher. Eu nunca tinha entrado só de calcinha e sutiã no palco para ensaiar, eu comecei a fazer isso, coisa que eu nunca tinha feito, concessões, nunca tinha feito antes. Na televisão havia feito, tipo assim, você tirava uma roupa e a câmera pegava só os pés, você tirava a roupa e só o estúdio é que via você de sutiã e anágua. Ainda tinha aquele pudor, mas também estava tudo em família, não é? Não podia contar aqui, não podia contar ali, porque não tinha essa coisa que tem hoje, era muito proibido, tinha um preconceito terrível. O Fala baixo fez muito sucesso, foi um espetáculo muito bom. Depois eu parei um pouco. Aí o Alcione escreveu Há vagas para moças de fino trato, que ele produziu logo em seguida, com direção do Eid também, um espetáculo lindo, maravilhoso. Ficamos dez meses em cartaz no Senac. Usaram o Jairo Arco e Flexa, de São Paulo, para fazer a crítica, e botaram na Veja. Foi uma estupidez linda, uma foto minha e da Lenise de Almeida. Rio e São Paulo ficaram doidos com a peça, então queriam o texto para fazer lá. O José Mayer não quis ir com a peça, com a produção dele, aí o Alcione perguntou se eu iria. Mas como iria sozinha? Se a produção não ia, eu não podia ir. Era eu, Lenise de Almeida e Vera Cajado, mulher do Mayer. Aí levaram para o Rio, depois fizeram até um filme, que foi com a Norma Bengell.
MCB: O Paulo Thiago dirigiu, com Norma Bengell, Lucélia Santos e Maria Zilda Bethlem.
WH: Exatamente. Eu fiz o personagem da Maria Zilda. Depois do Há vagas, que terminou em 76, eu parei um pouco, eu estava muito cansada. Em 77, eu fiz um espetáculo que o Antônio Grassi produziu, com texto do Marcílio Morais, direção do Murtinho, irmão da Rosamaria Murtinho, que ele trouxe do Rio para dirigir. E eu fui fazer, chamava Mumu, a vaca metafísica. Era uma loucura, uma loucura, tinha uma vaca pendurada, era uma loucura, mas era ótima. O Grassi fez uma produção muito boa, trabalhou como ator também. Éramos eu, Antônio Grassi, Regina Reis, Ezequias Marques. Um dia, eu encontrei com o Orlando Pacheco e ele falou comigo: “Por que você não faz A prostituta respeitosa?. Eu falei: “Ah, eu não, não foi coisa de racismo, não existe racismo”. “O quê? Não existe o quê, Wilma? Existe sim!”. Acabou que fizemos e foi um estouro, lotado do primeiro ao último dia, um espetáculo lindo, ele fez uma direção primorosa. Pedro Paulo fez a trilha, ele fez a luz com a Miriam Blum. Éramos eu e um ator, que nunca mais trabalhou, Valdir Fernando. Tinha o Geraldo, que tinha sido meu colega na TV Itacolomi, e que morreu, foi para o Nordeste e morreu. Eu era a protagonista. Tinha alguns seguranças, que apareciam numa cena do trem, pessoas que nem estão mais no teatro. Eu fiz 60 apresentações de A Prostituta, eu só não continuei, e eu ia viajar com ela, porque quando a gente estava ensaiando, a SBAT (Sociedade Brasileira de Autores Teatrais) mandou comunicado, dizendo que o Sartre teria proibido todas as obras dele onde havia a ditadura. Nessa época, eu tinha fundado o Grupo Gambiarra, em 75, que existe até hoje. Eu fiquei doida, a gente não tinha dinheiro, não tinha lei de incentivo, não tinha nada, a gente tinha arranjado 1500, não sei que moeda era, com um deputado da Assembleia, e começou a produção assim. Tudo o que comprávamos era faturado, o cenário o Raul Belém Machado comprou numa beira. Eu disse que não tinha um tostão, mas todos queriam fazer, eu não esperava que ia dar o estouro que deu. Aí, quando chegou essa carta, o Orlando, que era formado em Direito, falou comigo: “Pode deixar que eu vou escrever uma carta para lá”. Ele escreveu uma carta, ele era o diretor da peça, dizendo que a gente estava em fase de montagem e que não podia parar, que nós íamos perder, inclusive, material que tinha sido comprado, tempo de ensaio e tal. E aí ele autorizou a fazer a peça, só em Minas Gerais.
MCB: Mesmo?
WH: A autorização foi só para essa temporada que estava programada para Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, só aqui em Belo Horizonte, nem no interior. Ele cortou tudo, só voltou muito tempo depois. E aí fizemos a peça já proibida, mas Deus foi muito bom, abençoou, foi um estouro, artisticamente foi muito bom, financeiramente eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Em 78, fizemos O interrogatório, que eu já tinha feito com o Jota Dangelo. Ah, tinha me esquecido, em 1973 eu fiz O interrogatório com o Dangelo, o primeiro Interrogatório que ele fez. Depois a gente remontou em 78, no Chico Nunes (Teatro Francisco Nunes), também foi muito bom, fomos a São João Del Rey, participamos do Festival de Inverno. Em 79 eu não fiz nada. Em 80, entrei no Dona Beja, no Palácio das Artes, aí fiquei lá dentro nove meses ensaiando uma peça, contratada. Eram mais ou menos umas 40 pessoas, entre figurantes e atores, com direção de Paulo César Bicalho e texto de Mário Prata. Porque ninguém quis escrever o texto aqui, ele teve que procurar uma pessoa em São Paulo, com roteiro de Mário Prata, que é maravilhoso. Foi linda a peça, lotou o Palácio das Artes, o Nestor Santana chegou como interventor e deu muito apoio, foi um sucesso o espetáculo, era diferente de tudo que eu já tinha feito. Durante os laboratórios, a gente saía e ia para um restaurante que tinha ali em frente ao Palácio, não sei se ainda tem, o Rococó?
MCB: Fechou.
WH: Pois é, a gente ia para lá jantar. Eu falava “gente, eu não quero fazer essa peça, eu não vou fazer essa peça”. E aí eu comecei a namorar um ator da peça, o Tadeu Fonseca, que conhecia de muito tempo. O Tadeu dizia “não, você tem que fazer, vai matar a pau”. E eu: “Não quero fazer, não aguento fazer”. Era uma loucura, o laboratório era uma loucura (risos). Era uma alucinação de 40 pessoas, era uma loucura, eu achei que eu ia pirar, sabe. Eu sempre fui muito corajosa, eu sempre peitei muito e aí fizemos, ficamos lá nove meses. Quando o Nestor chegou para ser interventor, ele pegou a Fundação na mão, ele mandou fazer um ensaio para ele ver e aí disse que dali a 30 dias queria que a peça estreasse, foi um corre-corre daqueles. Enfim, estreamos a peça, fizemos, daí a uma semana fomos para Brasília, Goiânia, viajamos com a peça, foi um sucesso. Logo depois, eles montaram À margem da vida, em 81, a própria Fundação, e eu fui fazer, com direção de Ronaldo Brandão. Eu tinha feito À margem da vida como a filha, que tem um defeito na perna, aí em 80 eu fui fazer a mãe, a mãe da Winnifield, que é o nome da personagem. Foi maravilhoso, o Ronaldo Brandão fez um trabalho primoroso, ele fez uma coisa mais moderna, obedecendo à época e tudo. Era lindo o espetáculo, muito bonito, estreamos aqui no Teatro Marília, depois fomos pra Brasília e Goiânia também. Isso foi em 81. Em 82, o Eid quis remontar o Fala baixo se não eu grito. Aí fizemos no Teatro Marília, foi um sucesso também muito grande. Em 83 eu fiz As pulgas, com direção do Carlão (Carlos Rocha). Em 84 eu fiz Rasga coração, com Pedro Paulo, mas fiz ainda no primeiro semestre o Ensina-me a viver, que foi maravilhoso, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, porque era uma personagem de 80 anos.
MCB: Foi no Francisco Nunes, não foi?
WH: Foi.
MCB: Eu assisti.
WH: Produção de Anilson Vaz e Márcio Machado, direção de Elvécio Guimarães. Quase enlouqueci, porque eu não conseguia “pegar” aquela velha. Na época, eu tinha 50 anos, eu me considerava muito espevitada, então eu não conseguia fazer, porque ela era espevitada, ela trepava em árvore, ela fazia tudo, não é? Uma cabeça maravilhosa. Até que um dia eu consegui, eu vi minha mãe andando aqui em casa, foi pelo pé que eu comecei a “pegar” o personagem. Foi muito bom, a peça fez muito sucesso, não sei por que não continuou. Em 85 ou 86, eu fiz, do Roberto Drummond, O estripador da rua G. Eu me aposentei no Sesi em 81, e em 85 eu voltei, eles me chamaram para voltar. Fui fazer um programa de teatro no Expresso Melodia. Eu contratava grupos ou então pegava um espetáculo meu mesmo, que a gente tinha feito, por exemplo, O macaco e a vizinha. Eu remontava e a gente viajava pela periferia, mas aí com direção minha, tudo por minha conta, e com uma verba do Sesi. O estripador da rua G foi uma produção da Ágata Chaves, que fazia o figurino também, com direção de Elvécio Guimarães, vídeo do Breno Milagres. Fizemos no Imprensa Oficial, ganhamos muito bem, fomos bem pagos no cachê, o elenco enorme. Eu não queria fazer, porque o Pedro Paulo Cava queria que eu fizesse Lua de cetim, já estava, inclusive, com o texto. Eu queria fazer Lua de cetim, mas acabei fazendo O estripador. Eu não arrependi não, não era bom, eu não gostava, apesar de tudo, do texto, de ser Roberto, com direção do Elvécio Guimarães, que é um grande amigo e um grande ator e diretor. Mas Lua de cetim, não sei se você chegou a ver...
MCB: Vi, com a Andreia Garavello.
WH: Eu ia fazer, era eu que ia fazer. Eu não fiz, mas não tem importância. Isso foi em 86. Em 87 eu fiz Ciranda de pedra.
MCB: Que eu vi também.
WH: Era lindo.
MCB: Era você, Maria Lúcia Schettino...
WH: Sim, Yara de Novais fazia a moça.
MCB: Você fazia a Laura.
WH: Eu fazia a mãe.
MCB: Pois é, a Laura.
WH: Que na novela quem fez foi...
MCB: A Eva Wilma.
WH: Eva Wilma. Eu fazia a mãe, depois fiz a Fräulein também, a alemã. Era muito bom o espetáculo. Era lindo. Fomos ao Festival de Inverno de Poços de Caldas. Foi um sucesso na biblioteca, com direção do Kalluh Araújo. Direção e produção dele e do Kléber Junqueira, que foi um grande produtor também, gosto muito dele. Em 88, eu não fiz nada, foi o ano em que a minha mãe morreu, aí eu não cogitava, já tinha voltado para o Sesi e fiquei só fazendo trabalho lá. Em 89, resolveram fazer o Navalha na carne, aí me chamaram, fizeram uma cooperativa, eu fui fazer. O Cesário Amorim era louco para fazer o cafetão, ele queria fazer a peça, nós fizemos a cooperativa. Ronaldo Torres fez o Veludo, eu fiz a Norma Sueli, com direção de Mamélia Dorneles. Foi maravilhoso, acho que cenário e figurino eram do Décio Novielo, assistente de direção do Jair Raso, luz e trilha do Dangelo. Em 90, eu passei a fazer um trabalho no Sesi, que não era mais aquele de levar grupos para a periferia. Eu passei a integrar um convênio que eles tinham de fazer teatro de qualidade, então formaram um elenco. A Tânia que produzia, com patrocínio, na época, da Telemig, e o Sesi dava o apoio cultural. Ficamos fazendo até 91. Em 92, eu fui convidada para fazer uma peça com o Rogério Cardoso, com texto do Chico Anysio, eu tive o prazer de fazer um texto do Chico Anysio, A Filha da. Você não pode imaginar o que era trabalhar com aquele homem, o talento dele, o cavalheirismo, a educação, os improvisos dele em cena. Eu não aguentava, eu tinha ataque de riso em cena. Sabe aquelas mesas de montar? Um dia a mesa desmontou em cena e não montava de jeito nenhum, a gente pelejava e não montava, e a gente às gargalhadas, ele às gargalhadas. Ele queria servir uma cerveja e falava “oh, meu Deus, essa loura não consegue montar uma mesa para botar uma loura em cima” (risos). Tinha coisas incríveis. Uma vez, teve uma enchente no Marília, começou a chover no palco e a gente estava em cena. Começou a ter goteira no cenário e quando eu olhei para trás, ele estava de pijama, debaixo da goteira (risos), ele estava de pijama com uma bacia, esperando a goteira. Foi um presente ter trabalhado com aquele moço, ter conhecido ele e aprendido com ele. A direção foi do Walmir José, um trabalho lindo. Em 93, eu comecei a ensaiar Boa noite, mãe, foi quando o Marcos Vogel veio do Rio, porque era o Paulo César que estava dirigindo, com produção do Mariano Schettino, era a mãe e a filha. Você viu a peça?
MCB: Eu vi. Era a do suicídio, não é?
WH: É, que ela se mata. Você viu tudo o que eu fiz então. Até agora, você viu tudo (risos). O estripador você não viu, não é?
MCB: Não.
WH: Mas foi a única até agora que você falou que não viu. Você viu Rasga coração? Direção de Pedro Paulo de Castro.
MCB: Não. Eu vi do Ensina-me a viver para frente.
WH: Mas no mesmo ano eu fiz o Rasga coração.
MCB: O Rasga coração eu não vi.
WH: Lindo. A viúva dele, do Vianninha, veio assistir à estreia. O Pedro Paulo é muito bom, produção e direção dele. Mas, onde é que eu estava? Boa noite, mãe. O Paulo César não deu conta, brigou, não deu conta, entrou em choque com a Maria Lúcia e largou a direção. A Maria Lúcia tinha ganhado três mil dólares da Vale do Rio Doce para fazer a peça, ia fazer de qualquer jeito, tinha que estrear em Itabira. Mas aí não tinha diretor, ela ficou alucinada, ela era muito amiga do Aderbal Freire-Filho, que já tinha estado aqui dirigindo teatro. Como o Aderbal não pôde vir, ele mandou o Marcos Vogel, foi quando ele veio para Belo Horizonte fazer teatro e está aqui até hoje.
MCB: Inclusive o seu último espetáculo, Sonhos, foi dirigido por ele.
WH: Foi. É meu amigo, adoro ele. Enfim, foi lindo o Boa noite com ele, a gente foi a Ouro Preto, era um espetáculo lindo, aquele cenário do Helder Marinho, todo de caixa de sapato. Lindo. Eu fui muito feliz na minha carreira, viu. Só veio coisa boa na mão da menininha aqui. Em 95, eu fiz o Velório à brasileira, uma remontagem do Márcio Machado. Em 96 e 97, eu não estou me lembrando agora, e em 98 comecei a trabalhar com o Jair Raso, fiz As mulheres solteiras.
MCB: É. Você fez alguns espetáculos dele.
WH: Comecei em 98 com ele, fazendo As mulheres solteiras, depois fizemos A paixão de um Deus, um texto dele também, a gente fez aqui, fez na campanha, a gente não viajou com ela não. Depois ele escreveu Três mães, o grande espetáculo dele, e aí a gente fez uma temporada muito grande aqui, viajamos pela Trilha da Cultura, fomos a vários lugares. Era lindo aquilo, para mim é o melhor texto dele. Aí paramos. Em 2004, ele começou a fazer Chico rosa, fez A corda e o livro. Ele escreveu um texto para mim, que é A Dama do beco, uma abordagem de toda a minha carreira, muito bom, mas não conseguimos captar. Nesse ínterim de 2004, eu tive que fazer uma peça na correria. Eu estava ainda viajando com Três mães, e o Rogério Falabella precisou substituir a Ana Elita, que tinha saído do elenco de Cara e coroa. Era ótima, uma mulher viúva que conhece o namorado, feito pelo Raul Starling, tinha também a Cynthia Falabella, o Olavino Marçal. Em 2005 eu não fiz nada, em 2006 eu fiz a peça do Carlos Gradim, Quando você não está no céu.
MCB: Eu assisti também.
WH: Você viu lá que eu quase enlouqueci, não é? Era uma loucura. MCB: Era uma peça com um personagem ousado.
WH: Era uma velha que botava o cabelo branco, botava o seio de fora, ela usava só um corpete, tinha uma capinha pequenininha nas pernas, não usava meia-calça, ela aparecia só no final. Em 2008, eu participei do FIT (FIT BH - Festival Internacional de Teatro Palco e Rua), fiz uma leitura dramática com o pessoal do Arena, que foi indicação do Marcos Ouro. Em 2009, a gente começou a pesquisar o Borges (Jorge Luís Borges) e, em 2010, fizemos o Sonhos. Ensaiamos praticamente de janeiro até maio, estreamos em maio. Depois, a gente foi a um festival lá em Lafaiete, Festival de Teatro de Lafaiete, e a Poços de Caldas, pelo edital do BDMG. No ano passado eu não fiz nada, estou enlouquecendo. Entramos com um projeto agora no BDMG, o Isaias escreveu uma comédia e a gente fez uma leitura no ano passado. Ele entrou na lei estadual, foi autorizado e eu fui avisada de que ele iria produzir essa peça neste ano mesmo, no segundo semestre. Uma comédia com três atrizes, eu, Jussara e Madalena. Fizemos só a leitura, agora vamos montar.
MCB: Vamos falar agora de cinema. Sua estreia foi em O Menino e o vento, o grande filme do Carlos Hugo Christensen.
WH: Foi o seguinte. O Carlos Hugo Christensen tinha na equipe dele um ator de teatro que trabalhava na TV Itacolomi e que era muito meu amigo, o Jota Barroso. Quando ele falou que queria fazer O Menino e o vento, uma atriz do Rio é que ia fazer, uma judia, mas ela não pôde fazer. Então, o Barroso falou assim para o Christensen: “Vamos para Belo Horizonte, para você conhecer a Wilma Henriques”. Daí me telefonou e disse “olha, eu vou trazer o Christensen aqui, e você, pelo amor de Deus, não vai com essas roupas suas, que você sempre foi muito solta. Vai assim mais composta, pois a personagem é mais séria, é mais centrada e tal. Eu vou te apresentar para ele, eu quero que você faça esse filme”. O encontro foi na casa do Marco Túlio Braga, que era o diretor de produção dele e que morava aqui na época, depois mudou-se para o Rio, a gente ficou na casa dele, lá, várias vezes. Ele morava em um apartamento na Rua Tupis, então, na hora em que cheguei, o Christensen já tinha entrevistado alguns atores, aí conversou comigo. Ele era muito simpático, muito manso, muito inteligente, ele já tinha feito grandes coisas, já tinha uma carreira longa. Ele começou a carreira na Argentina, era casado com uma atriz argentina famosa (Suzana Freyre).
MCB: Ele fez filmes em vários países e depois ficou no Brasil um tempão.
WH: Ele tinha uma filha, ou um filho com essa atriz. E aí ele conversou comigo, falou do cachê, que eu ia ficar em Visconde do Rio Branco filmando, que era a terra do Barroso. Disse que o Barroso conseguiu apoio da prefeitura, a logística toda, que a gente ia filmar lá e perguntou se eu estaria interessada. Eu disse “olha, eu nunca fiz cinema na minha vida”, e ele falou “mas fez televisão”. Ele disse que o cinema ficava entre um e outro, entre o teatro e a televisão, e que eu ia gostar. Mas não falou nada de concreto comigo na hora não, ficou um pouco sentado lá na sala de estar, conversando. De repente, o Barroso veio e falou comigo “olha, é você que vai fazer”. Aí, o Marco Túlio veio e falou que ia fazer o contrato, que era para depois eu ir lá assinar. Então eu fui para Visconde do Rio Branco, quando eu cheguei lá, encontrei o Germano Reis, que já morreu, o Emiliano Queiroz, o Oscar Felipe, que era lindo, maravilhoso, o Odilon de Azevedo, marido da Dulcina de Moraes, a Antônia Marzullo, avó da Marília Pera. Daqui de Belo Horizonte foram a Palmira Barbosa, o Thales Penna, o Barroso, a Mariazinha Loureiro, que fazia uma figurante, o Antônio Naddeo, que fazia o promotor. Eu era protagonista com o Ênio Gonçalves, que chegou do Rio, mas era gaúcho.
MCB: E o menino, o Luiz Fernando Ianelli...
WH: Ianelli, que ele pegou lá. Conheceu ele na praia, ele era muito bonito, inclusive a mãe não queria deixar ele ir para lá de jeito nenhum. Mas foi, com o Christensen como responsável por ele, ele não saía para lugar nenhum, a não ser para trabalhar. E eu fui e gostei da turma, aquela alegria. No dia em que o Ênio chegou, eu achei ele lindo, você não pode imaginar que beleza que era o Ênio Gonçalves, aquele homem alto, bonito, bom, educado. Era uma coisa carinhosa, dava vontade de você pegar aquele homem grande, botar no colo e levar para casa. Ficamos muito amigos e acabamos namorando. Quando eu fui fazer a primeira cena, eu falei “Jesus de Nazaré, eu não sei fazer isso não, isso é muito difícil, eu não consigo fazer isso não”. Aí eu falei para o Ênio, e ele me disse que cinema era aquilo mesmo, cenas fora de ordem, uma loucura. Depois, comecei a pegar gosto, gostei de fazer.
MCB: Como você construiu aquela personagem, aquela dona do hotel? Ela era ressentida, porque queria continuar a ficar com ele...
WH: Aquilo foi assim. Antes de ir, o Barroso me falou como era o personagem, e aí eu já comecei a pensar nela. Quando eu fui para lá, nem me lembrava dela mais, não me lembro mais qual foi a primeira cena que a gente gravou, não me lembro mesmo. Eu sei que, quando eu botei o figurino, uma das roupas era minha, eu comecei a senti-la. Eu li o texto todo, eu comecei a sentir e comecei a ver realmente quem ela era, pesada, recalcada, mas um vulcão, não é? Um vulcão.
MCB: E a relação com a direção do Christensen?
WH: Muito boa, muito boa. Era um homem educado, muito fino. Ele é acadêmico, tudo dele era muito plástico, marcadinho.
MCB: Você acompanhou o filme depois?
WH: Não. Eu não vi o copião, todo mundo ia ver, eu não ia não. Eu sei como é que eu sou, eu não gosto de mim, eu só quero ver o trem pronto, porque eu sei que eu vou me odiar e vou voltar para casa aos berros e chorando. Depois nós fomos dublar no Rio, chamava-se J. Barroso Neto, na Nossa Senhora de Copacabana. Dublamos lá, o moço gostou demais de mim, queria me contratar na época como dubladora. Foi muito divertido, ficamos na casa do Marco Túlio, aí eu não tinha tanto contato mais com o Christensen não. Ele tinha uma coisa, assim, que eu não sei explicar, de repente ele mudava, ficava triste, falava pouco. Ele era homossexual, não é? Falava pouco. Dizem que ele tinha um caso com o Chiquinho, que era da equipe, que era o assistente dele. Era um moço até muito bonito, não sei por onde anda. Como é que era a coisa da filmagem... Quando ele precisava de uma coisa ele enlouquecia, ele gritava “Chico, Chico”. Mas foi tudo muito bom e, para fazer o vento, foi um negócio muito difícil, porque foi um motor de avião de Juiz de Fora para lá, para eles rodarem. Colocaram na praça, porque a filmagem foi na prefeitura, botaram a hélice para rodar, veio um caminhão de Juiz de Fora...
MCB: Aquela cena do julgamento?
WH: É. Aquilo ali era o avião. Veio um caminhão de Juiz de Fora, acho que foi de lá mesmo, até Visconde do Rio Branco. O povo ficava lá fora e a cena acontecendo dentro do salão. Na hora em que ligavam a hélice, era papel para tudo quanto é lado, uma loucura, eu fiquei apavorada, eu falei “gente, eu nunca mais faço isso na minha vida”. Cinema é muito difícil, é muito difícil, pelo menos é o que o José Wilker fala, que é a arte da espera.
MCB: É de frente para trás, de trás para frente.
WH: É, e você espera o tempo todo, você fica pronto lá, esperando, aí vai lá e fala, o outro vem e fala, agora é você de novo. Nem! Teatro é que é bom, foi lá e acabou. Televisão ao vivo também era assim, agora com o videotape a gravação deve ser assim também, como no cinema. Enfim, a estreia do filme foi lá em Visconde do Rio Branco, eles fizeram uma passarela que saía da prefeitura e entrava diretamente no cinema, o elenco todo passou ali, cobertura nacional, teve uma festa, um jantar muito bom. A gente ficou ainda uns dias lá, depois eu vim embora. Eu cheguei com saudade, sabe, foi muito bom, porque a gente ria o que você não pode imaginar, o Germano e o Emiliano Queiroz juntos, você não pode imaginar o que eram aqueles dois em matéria de deboche. A gente ia aos coquetéis, as famílias abriam a casa para oferecer um chá, e eles lá, achando defeito em um quadro, na dona da casa, no corpo dela, na roupa, nos quitutes. Aí eles começavam a cochichar, eu não aguentava. Era maravilhoso, os dias que nós passamos lá.
MCB: Depois, o seu próximo encontro com o cinema foi com o Schubert Magalhães.
WH: É, depois do Menino e o vento foi Ela e os homens, com produção do Paulo Leite Soares.
MCB: E como foi atuar em Ela e os homens?
WH: Muito bom. A locação foi Pirapora, Schubert era o diretor, mas o Schubert... Ele bebia muito. Daí, trouxeram um cara do Rio que se chamava Sanin (Sanin Cherques), que era irmão do Cherques (Jorge Cherques), um ator do Rio. Ele veio porque tinha que fazer o filme, não é? O elenco todo lá. Tinha muita gente daqui, do Rio, uma menina que tinha sido chacrete e um ator, esqueci o nome dele agora.
MCB: De BH tinha a Wanda Fernandes, atriz falecida do Grupo Galpão.
WH: Eu era a dona do bordel, as prostitutas eram a Wandinha, a Jussara (Costa), a Marlene Trindade, a Míriam Pereira, tinha umas cinco, seis atrizes. A gente pegou umas pessoas lá de Pirapora, tinha um fazendeiro, que até ficou apaixonado comigo, queria me namorar (risos). Para ficar livre do homem foi uma dificuldade, porque ele ia à boate dela, que era só boate, ele ia tomar cerveja e eu tinha que fazer algumas misuras para ele, ele não era ator, era um personagem. Aí, acabou me levando a Montes Claros, para conhecer a cidade, jantamos lá. Eu não aguentava ele, acabou vindo aqui em Belo Horizonte, ele tinha uma ligação com a mãe do Toninho Cerezo, com alguém que nós fomos visitar até num prédio da Rua São Paulo, acho que era a avó dele. Um dia, eu cismei e disse para mim mesma que não queria esse homem de jeito nenhum. Mamãe era viva, aqui não entrava homem nenhum, mamãe não deixava, era um custo um homem entrar aqui. Com muito custo entrou, ficou, passou a noite, mas eu não podia olhar para a cara do homem, eu tinha uma antipatia dele, não podia nem ver. Ele era um munheca, não me trazia nem uma flor, e era fazendeiro. Daí eu falei “quer saber de uma coisa, não me procura mais não, você é muito pão-duro” (risos). Ele dormia de meia, você acredita? (risos).
MCB: Foi muito mais tranquilo fazer cinema nessa segunda vez?
WH: Foi tranquilo, mas bem desorganizado. O Christensen tinha um outro padrão, um cronograma certinho que ele seguia. O Schubert vivia bêbado, até que o Sanin chegou para pegar, mas ele tinha uma rixa com esse cara que veio do Rio. O Sanin fazia a luz, punha o ator esperando, montava a cena, quando estava tudo pronto, ele falava “vem cá, Schubert, para você ver se está bom”. Ele só rodava depois que o Schubert via, olhava lá na lente e dizia que estava bom. Eu achava isso tão bonito, porque ele era o titular, ele morreu pouco tempo depois, não é? Depois eu fiz uma participação no Aleijadinho.
MCB: Você faz a Tereza, a mãe do Carlos Vereza (em Aleijadinho, paixão, glória e suplício, de Geraldo Santos Pereira)?
WH: É, a mãe dele. Foi bom, nós fomos para Ouro Preto e eu tive contato com o Carlos Vereza, que eu não conhecia. Tinha conhecido há muitos anos, no Rio, em uma peça de teatro em que esse meu amigo, o Jota Barroso, trabalhou, mas não conhecia já mais para cá. Ele é uma pessoa fascinante, uma pessoa muito espiritualizada, eu gostei muito, uma equipe muito boa, o Geraldo era maravilhoso. Eu fiz a mãe do Tomaz Antônio Gonzaga, uma participação especial.
MCB: Depois veio o Vinho de Rosas, da Elza Cataldo.
WH: Sim. Não foi uma experiência boa não, tive problemas com a produção do filme, com a diretor. Ela chamou todos os atores para conversar e disse que o filme era uma homenagem aos atores de Minas Gerais. Se aparecesse escrito na tela que era assim, tudo bem, mas não apareceu isso não. Eu fiz uma beata, que tinha uma cena com o Jota Dangelo e uma cena com as lavadeiras, que ela cortou. Uma cena lindíssima que foi cortada, dizem que o montador cortou, não sei por quê. Na hora caiu uma chuva, e ela perguntou se eu continuaria a fazer a cena e eu disse que sim, fiz debaixo de chuva. Essa cena foi cortada, só ficou aquela em que eu entro com os paramentos. O filme é bonito, mas não foi uma experiência boa, foi a minha última no cinema até agora. Eu fiz uma minissérie da Rede Minas, do Breno Milagres, Palmeira seca. Eu odiei, ficou péssimo, eu estou péssima, nunca me vi tão ruim na minha vida. O Breno é uma criatura ótima, maravilhosa, mas eu não gosto desse trabalho não.
MCB: Para encerrar, as únicas duas perguntas fixas da entrevista. A primeira é qual foi o último filme brasileiro a que você assistiu? A segunda é qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e área, você deixa registrada em sua entrevista como homenagem?
WH: O cinema brasileiro tem muita gente. Esse pessoal que fez filmes na Vera Cruz fez um trabalho muito importante, hoje estão vendo a importância daquilo. Antigamente, criticavam o Mazzaropi, hoje os filmes vão até para festival, são 100 anos de nascimento dele. Bom, eu gosto muito da Glória Pires, mas não quero colocar ela não, quero alguém daquela época. Me lembre os nomes das atrizes da Vera Cruz.
MCB: As estrelas da Vera Cruz eram Tônia Carrero, Ruth de Sousa, Marisa Prado, Eliane Lage...
WH: Tem Sinhá moça, que eu vi há pouco tempo.
MCB: Ilka Soares, Cacilda Becker...
WH: Ah, nem precisa falar mais, você falou a única que tem que se homenagear: Cacilda Becker. Por tudo, pelo cinema que ela fez, o Floradas na serra é lindo, pelo filme, pelo teatro, pela mulher que ela foi, enfim, Cacilda Becker.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada em 2012.

Veja também sobre ela