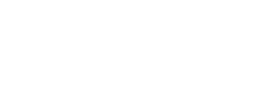Ana Rieper
 A cineasta Ana Rieper nasceu em 29 de maio de 1975, no Rio de Janeiro. Graduada em Geografia pela UFF – Universidade Federal Fluminense -, também estudou Cinema, ainda que não tenha terminado o curso: “Estudei Cinema na UFF, na mesma faculdade, mas não me formei, não concluí o curso. Estudei só cerca de um ano e meio e larguei, justamente para morar em Aracaju. Eu fui chamada pela ONG Sociedade Canoa de Tolda, que tinha um trabalho com as populações ribeirinhas do baixo rio São Francisco”.
A cineasta Ana Rieper nasceu em 29 de maio de 1975, no Rio de Janeiro. Graduada em Geografia pela UFF – Universidade Federal Fluminense -, também estudou Cinema, ainda que não tenha terminado o curso: “Estudei Cinema na UFF, na mesma faculdade, mas não me formei, não concluí o curso. Estudei só cerca de um ano e meio e larguei, justamente para morar em Aracaju. Eu fui chamada pela ONG Sociedade Canoa de Tolda, que tinha um trabalho com as populações ribeirinhas do baixo rio São Francisco”.
Essa mudança para o Nordeste, entre 1998 e 2002, vai marcar definitivamente sua carreira de cineasta, em filmes como Na veia do rio, sobre as populações ribeirinhas, e Vou rifar meu coração: “Nesse tempo em que eu vivi lá, eu andei muito pelo interior e convivi muito com famílias do interior, uma conversa muito íntima, muito próxima. Foi na época em que nasceu a ideia de fazer o Vou rifar meu coração”. O filme é sobre a sexualidade no sertão e a música brega, e traz para a cena artistas famosos desse universo da canção e também anônimos da região. “Na verdade eram dois filmes diferentes. Um era sobre a sexualidade no sertão, no interior, e outro era sobre música brega. Eu comecei a entender que as duas coisas dialogavam profundamente e os transformei num só projeto”, ela relata.
Desde a exibição no Festival de Brasília, e a partir daí também em outros festivais, que Vou rifar meu coração suscita polêmicas devido à participação do cantor Lindomar Castilho, sem que se faça menção ao fato dele ter assassinado a esposa. Rieper se defende: “O filme não trata sobre biografia, trata sobre as impressões desses artistas a respeito dos assuntos do amor e do desamor. Então nesse aspecto é que acontece a participação do Lindomar Castilho, assim como a participação de todos os outros”. E continua: “Eu acho muito natural, sabe? Eu sabia que esse filme era um filme polêmico, justamente porque ele não se propõe a fazer julgamento moral a respeito do comportamento das pessoas.”.
Ana Rieper lançou Vou rifar meu coração na 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2012. A cineasta conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro e falou sobre sua formação, o diálogo entre geografia e cinema - suas duas áreas de estudo e trabalho -, e, sobretudo, sobre Vou rifar meu coração e os temas que estão no documentário, como também sobre as polêmicas que envolvem a produção.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Ana, para começarmos, diga-nos sua origem, data de nascimento e formação.
Ana Rieper: Nasci em 29 de maio de 1975, sou uma geminiana e tenho 36 anos. Sou formada em Geografia. Estudei Cinema na UFF - Universidade Federal Fluminense - , na mesma faculdade, mas não me formei, não concluí o curso. Estudei só cerca de um ano e meio e larguei, justamente para morar em Aracaju. Eu fui chamada pela ONG Sociedade Canoa de Tolda, que tinha um trabalho com as populações ribeirinhas do baixo rio São Francisco.
MCB: E a cidade onde você nasceu?
AR: Eu nasci no Rio de Janeiro. Passei parte de minha infância na cidade de Cabo Frio. Fiz a faculdade de Geografia na UFF, em Niterói, entre 1993 e 97. Entrei para o curso de Cinema também na UFF, até então o único curso regular de formação universitária na área no Rio de Janeiro. Era muito interessante, tinha uma convivência com os alunos, com os meus colegas, o que foi uma parte muito importante da minha formação. Eram pessoas que tinham uma trajetória dentro do cinema de muita liberdade, de muita transgressão. Então, foi um grupo que eu considero muito especial, inclusive o cineasta André Sampaio foi meu contemporâneo da UFF. Eu fiz cinema na UFF de 97 até metade de 98, mas aí fui morar em Sergipe, em Aracaju.
Fui convidada pela ONG Sociedade Canoa de Tolda para fazer um trabalho com as comunidades ribeirinhas do baixo rio São Francisco, um trabalho com vídeo de implantação de uma TV comunitária, que fizesse um diálogo entre essas comunidades que existiam outrora. Esse diálogo, essa comunicação eram realizados pelas canoas de tolda, grandes embarcações à vela que faziam esse trajeto no baixo rio São Francisco e que não existem mais. A ideia era refazer esse contato a partir do vídeo. Nesse tempo em que eu vivi lá eu andei muito pelo interior e convivi muito com famílias do interior, uma conversa muito íntima, muito próxima. Foi na época em que nasceu a ideia de fazer o Vou rifar meu coração.
MCB: Qual foi exatamente esse período?
AR: Eu morei em Sergipe de 98 a 2002. Voltando um pouco, eu fiz o meu primeiro filme na UFF, um filme universitário, um documentário chamado Saara. É sobre aquela região do centro do Rio que tem esse mesmo nome e é composta por imigrantes árabes e judeus que vieram refugiados em várias levas, ao longo de muito tempo. É uma região de comércio popular no Rio de Janeiro. O filme fala sobre como as pessoas se encontraram ali, de origens tão diversas e povos que são historicamente inimigos. Se encontraram ali e se tornaram profundamente brasileiros.
MCB: Antes que você fale especificamente em Vou rifar meu coração, diga como se deu essa ponte entre as graduações de Geografia e Cinema. Por que ocorreu e como foi esse momento de transição?
AR: Olha, eu nem veria como uma transição não, eu veria como aspectos diferentes do mesmo impulso, que era a vontade de ter um trabalho que me permitiria viajar muito e viajar de uma maneira especial, conhecendo e trocando experiências com pessoas e com tipos de culturas diferentes da minha. Eu tenho também um estudo forte na área de Antropologia, então eu entrei na faculdade de Cinema para estudar documentário. Eu sempre quis ser documentarista, então tem um pouco a ver também com a leitura que a Geografia faz dos diferentes lugares, das diferentes formas de organização social, espacial, da vontade de desbravar. Isso me moveu para fazer Geografia e me moveu também pra fazer Cinema.
Sempre fui cinéfila, mas eu achava que cinema era uma coisa pra artistas muito sofisticados, que não era pra mim, sabe? Que eu era uma simples geógrafa e uma pessoa que gostava de ir ao cinema e ver os filmes. Eu tinha um amigo que me falou: “Por que você não vai fazer cinema na UFF?”. Aquilo me surpreendeu tanto! Eu falei: “Fazer cinema? Como assim?”. Mas aquilo ficou na minha cabeça e eu fui fazer, e estamos aqui hoje. Eu exerço ambas as profissões. Trabalho com consultoria de meio ambiente e faço direção de filmes, documentários institucionais, programas de televisão etc.
MCB: Essa trajetória me parece sinalizadora do universo que você retratou no seu filme, e aí já estou falando especificamente do Vou rifar meu coração. Ele não parece ter sido uma ideia do tipo “achei o tema e vou fazer”. Não, ele já estava dentro dessa trajetória de um olhar, inclusive in loco, desse universo, não é?
AR: É um filme que surgiu do meu envolvimento com um tema muito material, sabe? Andando naqueles espaços, atentando para aqueles sentimentos, ouvindo a música nos seus lugares, sentindo, percorrendo mesmo aqueles espaços e conhecendo aquelas pessoas, tendo um contato assim um pouco carnal com esse universo. E foi daí, desse contato, dessa experiência pessoal, que surgiu a ideia de fazer o filme.
MCB: Você se recorda do momento em que disse para si mesma que queria fazer um filme sobre isso? Quando surgiu essa vontade?
AR: Olha, eu me lembro que foi em torno de 2002, e na verdade eram dois filmes diferentes. Um era sobre a sexualidade no sertão, no interior, e outro era sobre música brega. Eu comecei a entender que as duas coisas dialogavam profundamente e as transformei num só projeto. Eu não me lembro quando foi que eu falei para mim mesma que ia fazer esse filme, mas me lembro que eu escrevi o projeto e mandei para o primeiro edital no começo de 2003.
MCB: E o edital, ele foi aprovado já dessa vez?
AR: Não. (Risos). Eu fiquei mandando esse filme para editais e ganhando “não” na cara desde 2003 até 2009.
MCB: Então você nunca abandonou o projeto, você deu sequência a ele?
AR: Continuei. Esse projeto já passou por várias produtoras, já teve vários parceiros diferentes e já esbarrou em finais de vários editais nacionais e internacionais. Mas nunca ia às vias de fato. Esse meu encontro com a Suzana (a produtora Suzana Amado) foi muito importante.
MCB: Quando ocorreu esse encontro?
AR: Em 2007. A Maria Byington, que é uma parceira de trabalho da Suzana e uma pessoa também que eu já conhecia, me falou que a Suzana queria fazer um projeto sobre música brega. Então, a gente se juntou e tem sido muito bom todo esse trabalho de parceria.
MCB: Eu sinto um desconforto, não gosto muito dessa expressão “música brega”. Não acho que seja isso. Acho que se trata de uma música popular, uma música romântica. Mas entendo essas classificações, para não termos que explicar o que é. Não é isso?
AR: É basicamente isso. Porque a mim também incomoda um pouco porque brega tem um lado pejorativo. Agora tem uma outra questão em relação a isso que é a seguinte: eu considero esse filme um filme etnográfico. Porque ele parte de uma pesquisa etnográfica, de campo, de convivência e de entendimento daquela realidade dentro dos pressupostos das pessoas sobre as quais a gente queria falar. Então, o filme não tem comentadores, não é esse o filme. É um filme que tem a proposta etnográfica e é nesse ponto de vista também que eu assumi a nomenclatura que a galera dá para essa música. A ideia surgiu quando eu morei no Nordeste e lá as pessoas chamam essa música de música brega, tranquilamente. Falam: “Eu adoro brega”,” Brega é a música que eu gosto de ouvir”. Não é uma pessoa nem duas, é uma coisa estabelecida mesmo, sabe? Então eu assumi isso também, embora em algum momento me incomode um pouco.
MCB: E eu acho também que isso pode ser uma coisa atual. Porque na minha infância e juventude, não falávamos que essa música era brega.
AR: É claro.
MCB: Parece que hoje essas classificações de massa acabam se incorporando... Mas, voltando ao encontro com a Suzana, como vocês colocaram esse projeto de pé?
AR: Bom, o projeto estava de pé há muito tempo.
MCB: Mas falo especificamente sobre o filme.
AR: A gente continuou mandando o projeto pra editais e acabamos ganhando o da Petrobras, em 2009. Isso foi fundamental na história do filme e foi a partir daí que a gente começou realmente a botar o filme de pé. Era um projeto tão antigo, tão querido, que já tinha pensado em fazer na guerrilha várias vezes. Os amigos se ofereceram, mas não dava, não tinha dinheiro para fazer, porque é um filme com muita viagem, muito direito, então, caro.
MCB: O fato de você ter vivido lá deve ter te ajudado a fazer esse mapeamento geográfico que é retratado na tela. Mas como encontrou aqueles personagens todos?
AR: Eu sempre faço pesquisa de personagens dos meus filmes e é uma parte que eu acho muito importante, fundamental, prazerosa e que eu tenho muita afinidade por realizar. Só que dessa vez eu estava com dois filhos pequenos e eu não poderia me ausentar durante um período de tempo tão longo para fazer essa pesquisa. Então, a gente achou duas pessoas que foram fundamentais nessa pesquisa, que foram a Ive Almeida e o Rafael Borges, um casal de cineastas sergipanos que entenderam exatamente a proposta do filme. Eu mandei um briefing inicial pra eles bastante preciso, bastante completo, a partir do qual eles saíram na busca dessas pessoas.
Eu descrevia lugares iniciais pra onde eles poderiam ir para começar a procurar e tipos que a gente estava procurando, lugares e pessoas. Aí eles achavam, me mandavam e eu ia lá. Eu fiz umas quatro viagens ao longo desse período de pesquisa, passei uma semana, dez dias, quer dizer, eu acompanhei bastante também. Alguns outros personagens do filme surgiram na minha presença, eles surgiram de maneira casual, sem que a gente soubesse, sem ter ido atrás. Eu queria que tivesse uma conversa de mulheres, daí, eu vi três mulheres sentadas numa mesa, num sábado, bebendo cerveja e conversando. Eu sentei para conversar com elas, então foi esse trabalho de campo.
MCB: Há um fator muito polêmico, que suscita muita discussão, que é a presença do cantor Lindomar Castilho, que assassinou a esposa, e esse fato não é mencionado. Os outros cantores que lá estão não têm suas biografias contadas, como é o caso do Wando, do Nelson Ned...
AR: O filme não trata sobre biografia, trata sobre as impressões desses artistas a respeito dos assuntos do amor e do desamor. Então nesse aspecto é que acontece a participação do Lindomar Castilho, assim como a participação de todos os outros.
MCB: Mas é uma participação polêmica. Como é para você lidar com isso, de todo mundo se remeter a isso quando fala do filme? Para você é difícil ou é tranquilo? Você se sente acuada? Como é?
AR: Eu acho muito natural, sabe? Eu sabia que esse filme era um filme polêmico, justamente porque ele não se propõe a fazer julgamento moral a respeito do comportamento das pessoas. O Lindomar Castilho está no filme nessa mesma maneira assim como eu tratei todos os outros, são muitas as pessoas que estão no filme. Várias pessoas ali têm comportamentos que são socialmente condenáveis e eu não os condeno dentro do filme. Eu sabia que isso poderia incomodar, como de fato incomoda alguns, mas aí faz parte do jogo.
MCB: Eu vejo ali um respeito com aquele repertório musical e a minha percepção se dá porque eu, inclusive, compartilho daquele repertório musical, não só na minha própria formação, mas até hoje. Eu vejo que há um respeito ali naquele universo musical retratado.
AR: O respeito do filme?
MCB: É, o filme tem um respeito por aquele universo musical. As músicas são colocadas inteiras ou num bom pedaço, não tem clipagem de música. Já quando chega nos personagens, eu percebo, em alguns momentos, que no resultado da montagem às vezes se constrói um discurso.
AR: Sempre.
MCB: É. Mas constrói um discurso contrário, contrário a isso.
AR: As pessoas?
MCB: Vou te dar um exemplo. Quando os dois homossexuais estão dançando, eles estão numa boate. Você disse no debate que essa cena dialoga com o depoimento do Agnaldo Timóteo. Mas nessa cena, a gente escuta uma voz em off de homem falando sobre o seu lado feminino. Achei que era um dos dois que estava falando, mas não era, era um motorista de uma cena seguinte. Dá a impressão de associar a homossexualidade ao feminino.
AR: É, aqui...
MCB: Como se dão esses resultados de discurso de montagem?
AR: Nesse caso especificamente que você está falando, eu queria justamente mostrar a complexidade e os conflitos, sobre a opção de ser, que nem sempre é uma opção, é uma realidade de cada um, não é? De ser homossexual no interior de Sergipe. Eu quis contrapor realmente, numa cena que é de uma delicadeza, de um romantismo muito grande, com uma visão que é uma visão corrente, que é machista, que é uma visão pejorativa a respeito desse tipo de comportamento.
MCB: Eu gostaria que você falasse sobre o depoimento do Agnaldo Timóteo. Você diz que o depoimento dele dialoga com essa cena. A presença do Timóteo é, para mim, uma das participações mais impactantes do filme.
AR: Eu também acho.
MCB: Eu queria que você falasse um pouco dessa construção e do Agnaldo Timóteo dentro do filme.
AR: Foi a partir de uma análise longa e atenta do conjunto de canções. Eu não ouvi todas as músicas populares românticas dos anos 70 e nem todas as músicas românticas populares que vêm de Recife e que também são chamadas de brega. Mas eu procurei entender esse universo, as músicas mais importantes, a discografia dos artistas. Então surgiram temas relevantes, recorrentes e fundamentais dentro desse cenário mais geral e, a partir desses temas estruturais, eu parti para o filme. Um desses temas foi a questão da homossexualidade, que veio através do Agnaldo Timóteo e sua Trilogia da Noite, que são os três discos que ele fez nos anos 70 e que eu acho maravilhosos: Eu Pecador, Galeria do Amor e Aventureiro. São três discos antológicos, que falam de uma maneira muito corajosa, muito bonita, sobre a questão da homossexualidade. A partir daí eu fui procurar, no filme, falar sobre isso também, nos personagens populares, anônimos, no que as pessoas pensam. Então eu cheguei naquele lugar, uma cozinha da casa de um cara que mora numa cidade no interior de Sergipe. Ele faz as festas ali na casa dele, as pessoas dançam, aquele globo, aquelas músicas que são todas dele. Então, a gente chegou nessa temática a partir desse caminho.
MCB: Outro momento marcante é quando ocorre aquela roda das três mulheres, na qual se percebe, num ambiente de muito machismo, uma sexualidade interessante daquelas mulheres, assumindo a delas.
AR: São momentos como esse que me chamaram a atenção pra realização desse filme. Momentos em que eu vi que as pessoas, nesses ambientes que eu considerava machistas e patriarcais, tradicionais e conservadores, falavam e lidavam com a sua sexualidade de uma maneira tão livre, tão aberta e tão no êxito de romper com esse estado de coisas. A participação dessas mulheres, dessas personagens, a pessoa que consegue se libertar, apesar dos pesares dessa ordem social opressora.
MCB: Como é lidar com a recepção do público? Por exemplo, as risadas de alguns em momentos em que talvez elas não caberiam. Você esperava isso? Como é lidar com essa recepção de um universo que você pesquisou durante muito tempo, retratou e colocou ali e agora está na mão do público, que tem sua forma particular de reagir?
AR: Eu acho fantástico. Porque é sinal de que, se as pessoas reagem e se manifestam, o filme cumpriu o seu papel. Eu procuro fazer com que os meus filmes sejam um convite para o diálogo, então, quando um filme é recebido de uma maneira diferente da que eu esperava, acho incrível, porque é muito rico, coloca em questão o meu processo de realização. Eu acho muito positivo, por isso eu gosto de fazer filme, para ver, para oferecer a minha leitura, para que ela seja ressignificada pelo olhar dos outros. Agora, você me pergunta por que as pessoas riem, como eu vejo isso. Não sei por que as pessoas riem. Houve umas teorias possíveis, mas são coisas da ordem da recepção, que escapam, e eu acho bom que escapem.
MCB: Você dedica-se hoje a cuidar desse filme ou já está envolvida em algum outro projeto?
AR: Eu estou envolvida com o desenvolvimento de outros projetos, com a escrita, com a pesquisa...
MCB: Então o cinema chegou de vez?
AR: Ah, totalmente. Mas eu estou há muito tempo já assim, sabe? Eu fico lá e cá, de vez em quando eu faço trabalho de consultoria, de vez em quando resolvo arrumar um emprego formal. Mas o cinema está sempre presente, sempre, sempre. Nunca abandono os meus projetos.
MCB: Agora, as duas únicas perguntas fixas das entrevistas. Primeira: qual o último filme brasileiro a que você assistiu? Sem ser aqui na mostra de cinema.
AR: O Céu sobre os Ombros (Sérgio Borges).
MCB: Segunda: qual a mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que você quer registrar na sua entrevista, como uma homenagem?
AR: Helena Ignez, que é genial, que é transgressora, que é propositiva, rompe com paradigmas, e que está envolvida num momento do cinema brasileiro que me é muito caro. Ah, acrescenta também a Darlene Glória, maravilhosa.
MCB: Obrigado pela entrevista.
AR: Muito obrigada.
Entrevista realizada na 15a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2012.

Veja também sobre ela