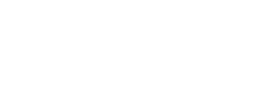Raquel Hallak
 Raquel Hallak é sinônimo de excelência em mostras de cinema em Minas Gerais. À frente da Universo Produção, com Quintino Vargas e Fernanda Hallak, Raquel é a coordenadora de três mostras mineiras: Mostra de Cinema de Tiradentes; Mostra de Cinema de Ouro Preto – Cineop; e Mostra de Cinema de Belo Horizonte – MostraBH. Na Mostra de Tiradentes, o público tem um encontro com o cinema contemporâneo; em Ouro Preto a mola-mestra é a preservação da memória cinematográfica; e em Belo Horizonte o eixo central é a questão do mercado. Em todas as mostras, além dos inúmeros filmes exibidos, há espaço permanente para amplas discussões e reflexões sobre o cinema brasileiro a partir de debates, seminários, fóruns e oficinas.
Raquel Hallak é sinônimo de excelência em mostras de cinema em Minas Gerais. À frente da Universo Produção, com Quintino Vargas e Fernanda Hallak, Raquel é a coordenadora de três mostras mineiras: Mostra de Cinema de Tiradentes; Mostra de Cinema de Ouro Preto – Cineop; e Mostra de Cinema de Belo Horizonte – MostraBH. Na Mostra de Tiradentes, o público tem um encontro com o cinema contemporâneo; em Ouro Preto a mola-mestra é a preservação da memória cinematográfica; e em Belo Horizonte o eixo central é a questão do mercado. Em todas as mostras, além dos inúmeros filmes exibidos, há espaço permanente para amplas discussões e reflexões sobre o cinema brasileiro a partir de debates, seminários, fóruns e oficinas.
Raquel Hallak nasceu em São João Del Rei, mas foi em Tiradentes, cidade vizinha com apenas cinco mil habitantes, que começou a carreira no cinema como coordenadora daquele que se tornou um dos maiores eventos do cinema brasileiro, e que acabou de realizar sua 11ª edição – A Mostra de Cinema de Tiradentes: “Quando eu pensei no projeto inicialmente, eu tinha pensado em São João Del Rei, porque eu tinha vontade de voltar na minha terra trazendo alguma ação cultural, já como uma contrapartida da minha atuação profissional. E a gente acabou encontrando em Tiradentes um respaldo dentro de um contexto interessante, que era em relação ao Centro Cultural Yves Alves, que é hoje onde funciona a sede do evento”.
As Mostras realizadas pela Universo Produção são hoje parada obrigatória para quem quer acompanhar a produção e a reflexão sobre o cinema brasileiro: “A gente começou em 1998 com quatro curtas-metragens de editais que já tinham sido ganhos. Outro dia eu estava lembrando com o José Eduardo Belmonte, o primeiro curta dele foi exibido aqui, tinha acabado de ficar pronto. Tinham dois de Minas, um do João Vargas, o outro não me lembro agora, acho que era da Patrícia (Moran), e mais um outro. Eu sei que eu fui atrás desses curtas igual uma alucinada, porque em um curto espaço de tempo eu estudei o cenário dos festivais, sem nunca ter ido a algum festival”.
Durante a “11ª Mostra de Cinema de Tiradentes”, em janeiro de 2008, Raquel Hallak conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro. Na entrevista, ela fala sobre a gênese da Mostra e de sua inserção no panorama do cinema brasileiro. Fala sobre as três mostras que coordena, sobre a curadoria, sobre a Universo Produção e seus projetos, avalia o cinema nacional, mostras e festivais, e homenageia mulheres do cinema brasileiro.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Pelo que li a seu respeito, eu sei que você se encantava com as sessões no Cine Glória, em São João Del Rei, onde você nasceu, não é?
Raquel Hallak: Sim, foi.
MCB: A sua relação com o cinema veio daí, da primeira infância? Como o cinema surgiu com essa importância na sua vida, e que viria, inclusive, determinar o seu espaço de atuação no cinema brasileiro?
RH: Na verdade, eu despertei a minha paixão pelo cinema até um pouco mais tarde. Eu era frequentadora, mas eu sou de uma geração que pouco cinema tinha para se ver, cinema brasileiro, né? Então a gente não foi educada para ver cinema e foi exatamente por isso que me despertou pra essa questão de criar uma movimentação em torno de uma geração que cresceu num vazio de consumir o cinema brasileiro, porque não existia. Numa época em que se pensava numa retomada, que iniciava uma política pública para o cinema.
Quando eu pensei no projeto inicialmente, eu tinha pensado em São João Del Rei, porque eu tinha vontade de voltar na minha terra trazendo alguma ação cultural, já como uma contrapartida da minha atuação profissional. E a gente acabou encontrando em Tiradentes um respaldo dentro de um contexto interessante, que era em relação ao Centro Cultural Yves Alves, que é hoje onde funciona a sede do evento. E isso devido eu ter uma proximidade muito grande com o Yves, porque eu fui uma das mentoras do projeto Ação Global. Eu comecei minha vida profissional na área social, sócio-cultural, eu não atuava só na área cultural. E eu desenvolvi esse projeto de cidadania e tive a oportunidade de estar muito próxima dele pela Globo, e o Yves era uma pessoa que tinha uma inquietude muito grande. Então ele, com o Paulo Gil Soares, que fez, inclusive, o seu primeiro longa aqui, em 1968, o Proeza de Satanás (Proeza de Satanás na vila do leve e traz). Eu falo que a vida é muito interessante, porque quando a gente se encontrava para tratar desses assuntos da Ação Global, eles, na verdade, o Yves e o Paulo Gil, se conheceram pelo cinema e eu fui acabar lidando com o cinema. Eu nunca podia imaginar, foi uma coisa que foi despertada nesse decorrer. Quando eu me inseri na área cultural, quando eu abri minha empresa, foi o primeiro projeto que eu desenvolvi pela Universo. Porque a gente tinha intenção de ter uma empresa que não fosse de agenciamento de artistas, mas que fosse de projetos sócio-culturais, com o objetivo de existência, com conteúdo, eu sempre atuei fazendo alguma coisa que pudesse provocar alguma mudança, alguma transformação.
Então eu me inseri na área cultural pensando em projetos que pudessem dar essa contribuição. Eu comecei com cinema e fui parar aqui exatamente porque o Yves veio a falecer quando o Centro Cultural não tinha sido terminado. E eu me senti co-responsável de fazer alguma coisa pra poder pressionar a inauguração desse espaço, que já estava fechado há oito meses e tinha sido reformado pela Fundação Roberto Marinho, que por sua vez não queria entregar para a prefeitura com medo exatamente do destino que podia ter o espaço. Então dentro dessa coisa do destino do centro cultural eu me inseri e falei “vamos fazer alguma coisa” e tomei partido de uma causa, vamos dizer assim, de que a gente precisava fazer uma programação cultural pra falar assim “pode inaugurar porque já tem programação cultural”. E aí veio essa ideia do cinema, que era exatamente o que a gente não tinha. Então eu sempre busco atuar naquilo que pode ser diferente ou fazer diferente, ou que seja uma carência, seja uma deficiência em algum setor, alguma coisa que esteja precisando.
MCB: Mas nesse momento já é uma ação, inclusive, de caráter político, de transformação cultural pensada e sedimentada inclusive por essa observação da falta. Mas lá nas sessões do Cine Glória, independente de ser cinema brasileiro ou não, qual era a sua ligação ali?
RH: É porque o cinema era a diversão do interior. Cinema era o que a gente tinha para fazer. Então ir ao cinema era o programa mais chique da época, era onde a gente namorava, era o ponto de encontro, quer dizer, a própria magia do cinema começa muito cedo na gente. É muito diferente de você ir a um show, o cinema impregna, sabe? Então é uma coisa que fica guardada para todo mundo, ele desperta, eu falo que é arte mais poderosa porque ela trabalha o inconsciente, ela tem uma capacidade não só de atravessar fronteiras, mas como trabalhar você internamente, psicologicamente. Então você sai do cinema, às vezes, emocionado, então esse poder que o cinema tem, como ele age, isso é que me fascina.
O meu olhar não é em função da produção em si ou de quem faz, mas do resultado que ela é capaz de provocar. Eu acabei planejando um projeto de cinema para cá, pra gente inaugurar, e quando eu comecei a ligar para as pessoas dizendo que a gente ia fazer uma mostra de cinema em Tiradentes, todo mundo falou: “Ah, até que enfim um festival de cinema, ah, até que enfim Minas vai ganhar um festival”. E aí eu comecei a perceber que o negócio poderia ser de um alcance muito maior do que eu estava imaginando inicialmente, que era uma coisa regionalizada. A gente foi buscar um projetor em um cinema desativado em Montes Claros, doamos para ter um cinema, mas, infelizmente, onze anos depois ainda não tem cinema aqui. A gente tinha essa preocupação desde o início, de não ter só um evento, que a gente viesse aqui, armasse o circo e fosse embora. Então junto com o cinema foi toda uma ação de conscientização na cidade, nós colocamos Tiradentes na mídia nacional e internacional. Nós fizemos um trabalho imenso com os restaurantes e pousadas, antes existiam 700 leitos e hoje tem cinco mil. Nós mostramos o que precisava ser investido para o evento crescer, então essa coisa dos bastidores é o que mais me impulsiona, o que o cinema é capaz de fazer, de movimentar.
Então, inauguramos aqui, tornamos de fato, desde o início, replanejamos o projeto para que ele fosse de formação, de reflexão, exibição e difusão do cinema brasileiro, numa época em que todo mundo dizia que a gente não ia conseguir sustentar um evento só com cinema brasileiro. Eu então falei que o evento ia ser um reflexo do que vai ser o cinema, se tiver filme acontece o evento, se tiver dois para exibir vão ser dois filmes para exibir.
A gente começou em 1998 com quatro curtas-metragens de editais que já tinham sido ganhos. Outro dia eu estava lembrando com o José Eduardo Belmonte, o primeiro curta dele foi exibido aqui, tinha acabado de ficar pronto. Tinham dois de Minas, um do João Vargas, o outro não me lembro agora, acho que era da Patrícia (Moran), e mais um outro. Eu sei que eu fui atrás desses curtas igual uma alucinada, porque em um curto espaço de tempo eu estudei o cenário dos festivais, sem nunca ter ido a algum festival. Mas eu comecei a estudar o que era, eu comecei a ligar para os realizadores, eu promovi um encontro dos realizadores dos festivais aqui em Tiradentes, foi o primeiro encontro dos realizadores de festivais, foi o primeiro encontro da Curta Minas, da ABD.
Então o evento nasceu com essa preocupação, foi o primeiro evento a propor oficina. Não existia, com exceção de Brasília, que sempre teve um debate político. Os festivais não tinham oficinas, não tinham debate de longa, não tinham seminário, não tinham nada. Era exibição de filme, geralmente seis filmes, doze filmes, aquele auê em torno do glamour que continua ainda em Gramado. Era Brasília, que é o festival mais antigo, que sempre teve essa conotação política, que tem essa questão definida de ser um evento de película, com diretores consagrados. E a gente sempre foi, a gente sempre apresentou, a cada edição, um retrato, uma radiografia do panorama da produção brasileira.
MCB: Depois dessa década de edições da Mostra de Cinema de Tiradentes, em que você vem acompanhando não só como organizadora, mas também participando dos fóruns de discussões, como você vê o cinema brasileiro? Quais as transformações?
RH: A gente tem agora três iniciativas, o que fez, inclusive, surgir as outras duas, a de Ouro Preto e a de Belo Horizonte. Quando a gente veio para Tiradentes não cabia dentro da programação e nem dentro do contexto, pois como a proposta era ser um retrato atual da recente produção, em uma cidade em que o evento é todo construído, quer dizer, tem sua limitação técnica, logística, de infra-estrutura, não cabia a retrospectiva. E aquilo me incomodava um pouco, porque, por exemplo, você faz uma homenagem, você tem que mostrar um pouco da filmografia da pessoa que está sendo homenageada para o outro conhecer. E, ao mesmo tempo, foi aumentando muito a produção.
Então, assim, aquilo que no início a gente não sabia se ia ter ou não futuro, a gente começou a ter que entrar em um processo de seleção, e aí a gente ficava assim, “não vamos tirar essa não, vamos colocar essa”, então a gente tinha muita dificuldade de excluir alguma produção. Só que hoje a gente tem que excluir de fato, porque aumentou a produção, só nesse ano, uma coisa inédita, teve 60 longas inscritos para um evento que nem é competitivo.
Então a gente estava mostrando muita coisa recente e eu tinha essa vontade de tocar na nossa história, conhecer nosso passado, a gente precisa entender porque surgiu o Cinema Novo, o que isso representou, por exemplo, que é um movimento mais conhecido. A gente tem que entender o que é essa retomada, se é retomada ou não é, quem continuou produzindo no tempo que não tinha política, enfim, entender um pouco esses 100 anos do cinema brasileiro. E aí surge Ouro Preto com esse objetivo da gente olhar um pouco o nosso passado e levantamos uma bandeira que foi o primeiro no mundo, dentro de festival, que é a questão da preservação. O Festival de Cannes agora é que falou em criar uma fundação para recuperar o cinema mudo de Hollywood, que está acabando, chamou, inclusive, o Walter Salles para ser sócio dessa fundação.
E em Ouro Preto a gente fez, foi o primeiro evento a dizer que o cinema brasileiro precisa ter uma política de preservação, uma política de restauração. Já unimos todos os fornecedores, todos os arquivos públicos pela primeira vez na história, colocamos frente a frente para entender o que era restaurar um filme. Levamos a Petrobrás, que hoje é a única empresa que tem um edital de incentivo à preservação. É muito caro ainda, é um monopólio ainda que existe no Brasil, os filmes, inclusive, estão fazendo mais fora do que aqui, algumas etapas desse processo de preservação. A Cinemateca ganha até um vulto maior porque você começa a criar o festival, ele tem também esse poder, de movimentação.
A gente estava falando dessa questão de reflexão. E, em Belo Horizonte? A gente tinha essa necessidade de abordar um pouco o mercado, que filme que está indo para as salas de circuito, aquele filme que era uma grande promessa, porque não deu certo, porque, às vezes, um filme passa pelo cinema e não fica, o que a gente pode mudar, o que está existindo de co-produção, o cinema que é consumido fora. É fazer uma movimentação, porque quando a gente começou Tiradentes, nem chegava, Minas Gerais nem era pautada como um possível Estado para receber filme, só Rio e São Paulo mesmo, depois se estendeu para o nordeste, Minas, sul, enfim. Então o que aconteceu, o que eu percebo muito é que a gente tem esses três eventos que são complementares.
As discussões em Tiradentes voltam-se para o que está sendo exibido, por exemplo, vamos pegar a questão da juventude. Se a gente for ver bem a programação, a gente tem praticamente aqui dois cineastas consagrados, que é o Murilo Salles e o ( Carlos) Reichenbach. O resto, quase todo, é uma nova geração, então como negar essa transformação, sabe? Por que, por exemplo, abrimos para o sistema Rain? Porque tem simplesmente cinco filmes na programação que finalizaram em HD. Então, eu vou falar assim “não, vocês finalizaram em HD, mas como aqui eu só exibo em beta e em película, vocês vão ter que se adaptar”, mas não, eu é que tenho que me adaptar a eles, entendeu? Então a gente sempre tem esse olhar contemporâneo. E as reflexões, elas nos despertam muito para além da obra assistida, elas nos ajudam entender um pouco esse contexto. Então, por exemplo, do próprio ponto de vista de jornalistas, que eu vejo é que a gente tem uma equipe de jornalistas de grandes jornais de circulação, que tem um olhar muito mais para o cineasta consagrado, e Tiradentes está sendo essa quebra de barreira, nitidamente. Não preciso citar nomes, mas, nitidamente, a gente vê, quer dizer, não adianta falar que não tem essa nova geração. E os debates ajudam a aproximar isso. Então o que a gente está fazendo? Nós ampliamos ainda mais os debates de longas para entender, por exemplo, Ainda orangotangos, que foi um filme ovacionado no final e eu vi todo mundo falando “pô, a gente pode fazer um filme diferente, a gente pode sair daquela construção estática que o cinema sempre nos reportou e mostrar que o cinema é uma arte que pode ser criativa, que pode ser um autoral diferente”. Porque a gente tem aqueles diretores que fazem um cinema de autor, que imprimem a cara, mas hoje a gente tem um processo tecnológico a nosso favor, uma nova geração que tem uma interatividade imensa com esses novos processos tecnológicos, que é uma geração ousada, que não tem medo de errar, que põe a cara, que não tem aquele peso de cobrança grande, e é isso que está mudando, a gente está constatando perfeitamente isso aqui em Tiradentes.
Em Ouro Preto o que a gente está percebendo é que existe pouca cultura cinematográfica, entendeu? Então, a gente conhece muito pouco daquela arte que é a principal, que é a nossa identidade. E então todo mundo, não sei se você reparou, todo mundo quer se ver na tela. Por que os grandes filmes de sucesso são filmes da realidade brasileira? Porque a gente quer se ver na tela. Tropa de elite (2007 – José Padilha) foi um sucesso, é um sucesso de uma realidade que todo mundo convive diariamente na televisão ou com proximidade, é uma coisa com a realidade do Brasil. Então, esses filmes que são de grande bilheteria, Meu nome não é Johnny (2007 - Mauro Lima), por exemplo, é de uma história real. Esses filmes cada vez mais têm sido um sucesso, que é um reflexo também de que a gente não quer um filme com efeitos, a gente não quer um filme que seja uma cópia do filme feito lá fora, a gente quer um filme que seja feito no Brasil com a cara do Brasil.
MCB: Como se dá o trabalho com a curadoria? Você já trabalhou com a Francesca Azzi, agora está com o Cléber Eduardo. Como é esse acompanhamento, a escolha dos filmes, a escolha do conceito?
RH: Eu participo diretamente. O curador tem a liberdade de fazer uma proposta, só que a linha do evento foi determinada pela gente, do evento ter uma temática, do evento ter um conceito, o objetivo que é Tiradentes. Então o curador, muitas vezes, ele tem uma visão teórica, e eu atuo na prática, como eu vou transformar uma ideia do curador em um link com o evento e com a prática do evento. A Francesca até comentava que uma das coisas que ela gostava era que as ideias dela eram bem executadas, então é mais ou menos isso.
Por exemplo, com o Cléber. A linha que ele tem que partir é mais ou menos a seguinte. Você tem que estudar o que está acontecendo na produção de longas, curtas e vídeos, mas principalmente, na produção de longas em termos de produção, do que vai ser exibido nas telas do cinema em 2008, o que o brasileiro vai ver, o que o país vai ver na tela. E a gente vai transformar isso em temática. Então, por exemplo, a gente já teve aqui um ano em que a temática foi as adaptações literárias, porque praticamente todas as produções que iam chegar ao cinema eram de roteiro adaptados de obras literárias. Então vamos entender isso, porque isso está acontecendo: é por que faltam roteiros? é porque a gente tem escassez de mão-de-obra? é por que o cinema brasileiro não tem bons roteiros? é por que a literatura se impõe sobre isso?
E é a mesma coisa. Ele disse: o que a gente vai ver muito forte nesse cinema, porque aí ele percorreu os festivais, o que a gente vai ver muito forte é a juventude sendo retratada dentro da tela. É os jovens, inclusive, de uma forma muito pejorativa, se drogando, a violência, esse momento da vida do jovem, da adolescência, uma coisa perdida, sem rumo, essa falta de identidade, isso é o que vai ser mostrado. Então eu falei “ótimo, vamos trabalhar então a temática juventude, vamos trabalhar a juventude brasileira”. Então a gente vai concebendo junto. E aí ele disse “vamos trabalhar a juventude em trânsito porque é uma coisa transitória”. Aí veio a escolha dos homenageados. Ele levantou seis nomes possíveis, aí chegamos juntos a dois, eu disse que não queria homenagear mais do que dois, eu queria que esses dois fossem representativos. Então a gente vai construindo o evento junto. E então eu disse “ótimo porque eu vou inaugurar uma nova década do evento e a palavra então vai ser renovação”.
E aí a gente vai descobrindo, até porque o Cléber era uma pessoa, ele sempre viu de forma crítica o evento, então ele tem que sair da posição de crítico, que é um exercício que ele sempre fez a vida inteira, e com a experiência que eu tenho de já estar atuando, de conhecer todo mundo. Porque quando eu iniciei, eu realmente não conhecia, era uma coisa que eu me sentia pouco à vontade de falar “vou escolher tudo”. Muitos realizadores fazem isso e às vezes perdem um pouco a qualidade da programação.
Agora, a seleção dos filmes é feita realmente por uma comissão mesmo. Isso aí eu procuro ficar isenta. Mas a abordagem, a temática, a concepção é feita totalmente em conjunto. Para os longas, eu vejo alguns, a gente às vezes tem contato, e não é nem por uma opção de escolha, mas até por uma questão de ter que estar na programação. Agora curtas e vídeos é total liberdade, é através de grades temáticas, eles seguem o perfil que o evento aborda, que o evento impõe a eles. MCB: Saiu uma radiografia aqui nessa edição da Mostra sobre os festivais de cinema no Brasil, sobre os números dos festivais. Qual a sua opinião sobre o assunto, sobre esse grande números de festivais, sendo uns sobre o cinema brasileiro e outros sobre o cinema estrangeiro? Qual a importância que você acha que eles têm?
RH: Olha, foi até uma discussão nova que surgiu, após o lançamento desse diagnóstico, e até eu que coloquei isso, porque eu comecei a sentir muito em Minas, principalmente, que dobrou o número de iniciativas de festivais. Eu coloquei até para todo mundo questionar o que é festival e o que mostra hoje no Brasil, o que a gente pode falar que é mostra de cinema e o que é festival de cinema. Porque tudo virou mostra e tudo virou festival. Então Minas, que é um estado de 853 municípios, e que pouco mais de 50 tem salas de exibição, a carência é constatada. Eu acho super louvável que as iniciativas se multipliquem, mas eu acho que agente tem que separar o que é festival e o que é uma iniciativa de exibição, o que é uma iniciativa de circuito, o que é uma iniciativa de cineclube. E foi interessante porque todo mundo sentiu isso, porque os recursos estão cada vez menores pra esse tipo de iniciativa, porque tem 170 festivais hoje no Brasil, então como que você pega 170 e nivela?
Então a primeira a coisa é a seguinte: o festival ou a mostra, ela tem que ter um conceito e tem que mostrar a que se veio, ela tem que ter uma cara, e vai ficar no cenário esses que têm cara, esses que têm uma proposta. Então você tem Brasília, que tem uma proposta, você tem Gramado, que tem uma história, vamos dizer assim, você tem o Festival do Rio, você tem o Festival de São Paulo, você tem um representativo de Recife, o de Fortaleza, o de Vitória, está renascendo o de Curitiba, você tem o de Minas. Bom, a gente tem aí uns 25 que hoje está nesse panorama. Você tem lá o FAN em Florianópolis, você tem o Guarnicê no Maranhão, então praticamente é um representativo de cada estado, o resto são ações complementares. E é aí que a gente começou a discutir, que é para a gente tentar direcionar esses outros festivais, para eles incorporarem as propostas do governo federal de cineclube e da Programadora Brasil, até para gerar uma identidade com o patrocinador, com a cidade, com o estado.
A gente já chegou a lançar aqui em Tiradentes que quanto mais festival melhor. Depois lançamos: quanto mais festival melhor, com qualidade. Depois fizemos um código de ética que os festivais têm que se enquadrar para se chamar festival; como uma referência, não como uma imposição, porque a gente tem essa instituição que agrega esses festivais que é o Fórum dos Festivais, que a gente tem aprimorado através disso e tem sido uma referência para os editais, e etc. Então eu hoje vejo com bons olhos os festivais que realmente têm um propósito de realmente gerar um intercâmbio, de ser uma vitrine da produção brasileira, de ser um festival que muda a rotina no período em que ele acontece, ou seja, que tenha uma interferência positiva direto na cultura, que venha a ser uma referência, uma mudança a cada edição. Então eu acho que a gente tem que repensar um pouco o que é festival e mostra, essa é a proposta.
MCB: Qual a importância que você vê nesses grandes festivais internacionais, feitos com dinheiro público, que abrem pouco ou muito espaço para o cinema brasileiro na programação?
RH: Sabe o que eu sinto? Por exemplo, a Mostra Internacional de São Paulo, ela é uma mostra totalmente internacional. O cinema brasileiro está ali como uma bengala para se conseguir recurso, entendeu? Então, por exemplo, eu vi vários depoimentos de pessoas, de cineastas que foram convidados para estarem em Tiradentes, e que a última exibição foi em São Paulo, eles exibiram no Rio e exibiram em São Paulo, e agora estão aqui. Pessoas que dizem “a sensação que eu tenho é que eu estou no festival de favor, eles me dão uma sala, colocam na programação, e eu tenho que me virar com o resto”. Eu acho que seria muito mais salutar continuar sendo só um festival internacional, porque eu acho isso necessário, a gente conhecer a cultura de outros países, eu acho necessário o intercâmbio. E acho que alguns festivais, como por exemplo, Manaus, é um festival que está totalmente internacionalizado. Mas ele nasceu com essa preocupação de ser uma ponte até para levar as pessoas lá, foi sempre um estado independente, vamos dizer assim, um estado muito mais voltado, muito mais com um olhar estrangeiro que brasileiro. Então o que ele está proporcionando é que, através dele, as pessoas passam a conhecer um pouco da cultura do Amazonas. Não que eu esteja vendo grandes produções lá na tela, não que o cinema brasileiro que está sendo exibido lá é de suma importância. Não, é um evento que está sendo único talvez de elo, está servindo de elo para que os outros estados brasileiros compareçam ao Estado.Então o cinema está criando essa proximidade que é uma outra coisa bacana, o cinema aproxima povos e continentes. Então dentro desse território imenso do Brasil tem alguns festivais que estão servindo para essa proximidade. Eu acho que são poucos ainda os festivais dedicados exclusivamente ao cinema brasileiro. A gente suga muito pouco do que está sendo exibido, eu acho ainda muito isso, e eu vejo isso muito diferente. Por exemplo, nessa edição eu estou vendo uma coisa que é essa inovação dessa linguagem, esse olhar para esses novos diretores, todo mundo dizendo “nossa, eu escolhi o lugar certo para estrear o meu filme”. O fato de não ter essa competitividade, de não gerar esse stress, você está ali para ter essa troca, com a plateia, com os seus colegas, para você ter essa liberdade. O próprio Kleber Mendonça Filho é um exemplo disso, porque ele roda o Brasil, premiado com seus curtas. O primeiro longa dele (Crítico), se inscreveu em Brasília, ele disse “nossa foi um presente, foi assim uma iluminação eu ter vindo aqui”. Eu falei “gente, um cara tão viajado, o que ele pensava de Tiradentes”, ele não conhecia o evento, mas escolheu aqui para estrear o filme, ele que nos procurou.
MCB: Em conversas que eu já tive com você eu percebo uma preocupação sua de que esses filmes cheguem às telas. Isso é uma preocupação que vejo muito particular em você. Você acha mesmo que um festival, uma mostra, tem que fazer uma ponte para que a cadeia de exibição possa levar esses filmes para a tela. Que depois esses filmes, que foram tão debatidos, possam chegar ao público em geral?
RH: É, porque eu acho que o cinema brasileiro tem público. Ele tem público, isso é uma coisa comprovada. Porque desde sempre a gente ouviu dizer que o som do cinema brasileiro era horrível, cinema não sei o quê, que teve uma época muito de pornochanchada. Então é assim, o cinema brasileiro, culturalmente falando, não teve uma trajetória cem por cento que você amasse, que voe gostasse, que você admirasse, como a gente faz com a música. A gente adora a nossa música, a gente aprecia outras, mas a gente ouve a nossa música, a gente quer ouvir. Então eu tenho comigo, a gente quer assistir cinema brasileiro no circuito comercial, só que eu acho que é muito desigual a forma como ele é lançado, a forma como chegam as cópias, a forma como os filmes independentes precisam sobreviver. Como eu acho também que tem alguns filmes que não têm que ir para o circuito comercial, tem que existir o circuito de arte e outros têm que ir direto para a televisão. Eu acho que falta a gente identificar aqueles que devem ocupar as salas de cinema, e não só proporcionalmente ao seu orçamento, à sua história, mas que tenha o perfil para ser comercial. Como alguns documentários que tem o perfil de ir para a TV, que nunca chegaram ao circuito comercial, mas talvez não seja para chegar mesmo. Talvez a gente tenha que ter espaços alternativos de exibição que tenha o perfil público daquele, porque a gente também na pode empatar o circuito comercial com filmes que não são lucrativos. A gente está falando de uma indústria e uma indústria não tem que ter uma estética única, e ela também não vai ter uma plateia única que vai consumir.
Então o que falta? Essa diversidade. Isso aí ainda é muito incipiente ainda, mas a gente tem que começar a discutir um pouco isso, discutir os perfis de produção que estão sendo feitos no Brasil. Porque a transformação é muito grande, então a gente tem filme que é feito no celular, filme que é feito no fundo de quintal, filme que é feito com uma câmera só, filme que o cara faz com o dinheiro do próprio bolso. Como a gente tem também filmes de grandes orçamentos, filmes de época, filmes de adaptações literárias, filmes de co-produção. Então identificar isso é que eu acho que falta, essa sensibilidade entre exibidor, distribuidor, realizador e produtor para você batalhar, para a gente poder identificar o que vai para cada setor.
MCB: O seu foco é o cinema, mas você também trabalha com a música e com o teatro. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso.
RH: É porque eu não consigo trabalhar segmentada, eu não consigo ver a música sem ver o teatro e sem ver o cinema. O cinema é a minha prioridade, sem dúvida, porque dentro do cinema estão todas as outras manifestações da arte. Então é como se ele fosse um guarda-chuva e os outros estivessem debaixo dele, então ele espelha todas essas manifestações. Quando a gente faz um show aqui, só com artistas mineiros, é porque às vezes conhecendo ali você pode pensar nele para a sua trilha sonora, aí você vê um teatro e pode ver um cara fantástico, entendeu? Porque nós estamos trabalhando aqui com uma média de 400 convidados, então eu sempre fico naquela esperança de que o evento possa ajudar a descobrir talentos.
MCB: Mas independente da Mosta, você trabalha com grupos de música e de teatro, como, por exemplo, a Cia Burlantins.
RH: É, com o Monte Pascoal. É porque é uma forma da gente conhecer essas outras vertentes. O nosso foco de atuação são projetos, mesmo a Burlantins, mesmo o Monte Pascoal, a nossa parceria se dá transformando esses grupos em projetos nossos. Então eu não tenho foco, por exemplo, só em estrear. A gente não é uma produtora de agenciamento de artistas. Isso faz parte, porque eu também não posso negar que isso exista, mas sempre tem um objetivo. Por exemplo, a gente está até finalizando uma primeira parte da parceria com a Burlantins. O nosso propósito era não deixar o grupo morrer, reunir o grupo de novo, e a gente tinha como meta que a nossa parceria iria rodar um pouco o Brasil com uma mostra que eu fiz, com a Burlantins reunindo o repertório para dar um fôlego, para a gente ter um patrocínio, para a companhia ser revigorada até ela ter um novo espetáculo. E a gente conseguiu cumprir, a meta era até em três anos e agente acabou fazendo isso em quatro anos. E agora a gente praticamente vai vender só espetáculo, e aí ele já tem pernas para continuar, a ideia que a gente atua é mais ou menos isso também. Vamos ser um suporte, porque às vezes você trabalha com os artistas, mas eles não são empresários, não são produtores.
A mesma coisa a gente fez na carreira da Regina (de Souza), como uma forma da gente estar atuando para ela dar um impulso, porque ela começou, pelo próprio estilo dela, a lidar com produção e deixou a carreira de lado. Então como a gente se formou junto, estudou junto, eu disse que até que ela fosse ao novo CD, que fica pronto esse ano, a gente caminharia junto. Porque a gente tem os nossos projetos próprios. Nosso forte é desenvolver projetos próprios, que a gente quer fazer com a cara da empresa. Então os grupos, eles fazem parte. Por exemplo, em vez de agenciar um músico, nós queremos fazer um evento de música. Entendeu a diferença? O mesmo e dá com o teatro. Porque essa é a nossa marca, esse é o forte da nossa atuação, então eu quero aproveitar esse dom, essa visão que eu tive desde que comecei a minha carreira profissional pra colocar isso em prática.
MCB: Na Universo vocês trabalham em equipe em todos esses eventos, como é aqui na Mostra?
RH: É, a gente tem os núcleos, o núcleo de produção, de logística, técnico, planejamento. Então praticamente o planejamento, a ideia inicial, a concepção é minha mesma, eu que gosto de escrever, de pensar. A gente troca uma ideia com a equipe inteira. E depois que já está pronto, concebido um projeto, que ele sai para a venda. E aí todo mundo e, mais praticamente, eu e o Quintino é que atuamos na venda do projeto.
Na prática a gente chama a equipe toda, contrata pessoas de fora. Aqui, por exemplo, são 126 pessoas atuando. A gente tem a felicidade de ter uma equipe, que mesmo que não seja fixa durante o ano todo na Universo, ela acaba sendo fixa na Mostra, todos tiram férias para vir trabalhar, atuar, então é uma equipe não só coesa, mas que faz parte da trajetória. A gente olha 11 anos, a Mônica (D´Angelo), por exemplo, trabalhava no jornal O Tempo, tinha acabado de se formar, hoje ela está na Universo. Pessoas que sempre fizeram questão, que fazem parte mesmo. Tiradentes é um evento que eu acho que tem uma magia, o novo sempre acontece a cada edição.
MCB: Como se dá a interferência na economia do Estado?
RH: Eu acho que é uma contribuição inegável. Por exemplo, do ponto de vista turístico, cultural e social, de desenvolvimento. É, inclusive, um dos maiores eventos estudados dentro de universidade. A gente recebe muito pedido, a gente atende muitos estudantes que têm a mostra como evento bem-sucedido de aplicação das leis de incentivo, de impacto na economia na cidade e na região, de impulso turístico muito forte.
Você vê esse crescimento, essa mudança em Tiradentes, que é um crescimento que a gente tem que acompanhar ano a ano, senão ele cai. O ano inteiro a gente tem que fazer parte do processo da cidade e chega na época da Mostra a gente assume tudo, do trânsito da cidade à limpeza, pra ter continuidade, senão o evento acaba. Então essa visão inteira, eu fico assim feliz de estar proporcionando isso, do evento servir como objeto de estudo, e mesmo como objeto de exemplo do que isso transformou Minas, de uma época em que não vinha turista para Minas, que era de baixíssima temporada. Aqui por exemplo, em Tiradentes, movimenta-se uma média de 2 milhões e meio em dez dias. Praticamente esse ano, tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto da Estrada Real, a ocupação tem se dado com freqüência praticamente o ano inteiro. Chega a época da Mostra ela registra quase 100% de ocupação da rede hoteleira, ela já entrou para uma rota de visita turística no mês de férias. Então é uma conseqüência do trabalho, realmente.
MCB: Além das três Mostras e mais os trabalhos com os projetos de música e teatro dá tempo de ir ao cinema, ao teatro e aos shows como espectadora normal?
RH: (risos) O problema não é a ida. O problema é que a gente vai ao cinema e ao teatro, mas a gente tá trabalhando (risos). Tem que ser produções muito boas para a gente se abstrair. Porque a gente entra, por exemplo, como eu trabalhei muitos anos no Sesi, eu não consigo ir ao teatro do Sesi sem me enxergar trabalhando (risos). Porque a gente olha os defeitos e as sugestões, as ideias boas. Então a gente olha e diz “nossa, eu faria isso assim, nossa isso é bacana”. Então o olhar para a área cultural é sempre mesclado com o trabalho. Pra tirar férias tem que ir para o mato (risos). MCB: Você se lembra qual foi o último filme brasileiro que você viu no cinema sem ser para os trabalhos na Mostra?
RH: Sem ser para a mostra... sem ser em festival... Não me lembro não, acho que foi em festival ou em casa, porque a gente acaba tendo uma vidioteca com um monte de filmes. Eu não consigo ir entrar nas sessões para ver filme, às vezes eu fico morrendo de vontade, às vezes eu fico lá vendo um curta, dois. Por exemplo, O andarilho (Cao Guimarães) foi uma coisa inédita, que marcou, porque era a última sessão em Ouro Preto, o encerramento, e eu consegui ficar sentada do início até o fim vendo O andarilho. Porque a gente fica louca pra ver. O andarilho me marcou porque eu fiquei vendo, eu até falei “gente, eu consegui ficar até o final sem ficar estressada, sem ficar imaginando o que podia estar rolando lá como filme de encerramento”. Mas, geralmente, cinema brasileiro eu acabo vendo ... Ah, o Extremo sul, eu vi no cinema.
MCB: Eu sempre convido minhas entrevistadas para homenagearem uma mulher do cinema brasileiro de qualquer época e de qualquer área. Quem é essa mulher para você?
RH: Uma pessoa que eu gostaria muito de homenagear, até em Tiradentes, é a Fernanda Montenegro. Eu até faria três homenagens. Fernanda Montenegro enquanto atriz de modo geral, assim completa, e como ser humano, porque eu tive oportunidade de conhecer e, realmente, eu acho ela singular.
Enquanto produtora eu homenagearia a Mariza Leão, no Rio, adoro a coerência dela, a forma como ela se posiciona, não pelo resultado dos trabalhos, mas pelo conjunto profissional dela. E a Sara Silveira, em São Paulo, que eu acho que é uma produtora fantástica, que eu também me identifico muito.
Eu acho que as produtoras são mais guerreiras, eu acho que elas têm uma missão muito especial de tornar aquilo viável e real, E muitas vezes as produtoras são esquecidas enquanto profissionais importantes do cinema brasileiro.
MCB: Obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada durante a 11a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2008.

Veja também sobre ela