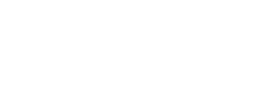Maria Clara Escobar
 A cineasta e roteirista Maria Clara Escobar nasceu em 4 de julho de 1988, no Rio de Janeiro (RJ), e vive em São Paulo há seis anos. É graduada pela Escola de Cinema Darci Ribeiro. O interesse por roteiro começou em uma oficina, e depois veio o desejo de dirigir: “Eu ouvi uma amiga dizer que tinha uma aula interessante de roteiro com o Jorge Durán, no Rio. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, fui ver a aula, foi apaixonante, foram três horas de paixão, é um cara muito passional dando aula, é um cara muito aberto. Na hora eu falei ‘nossa, é isso que eu quero fazer, encontrei’. Eu fiquei estudando roteiro um ano e meio, que é o tempo de formação lá, e aí, em algum momento eu decidi escrever um curta, decidi que eu queria tentar dirigir”.
A cineasta e roteirista Maria Clara Escobar nasceu em 4 de julho de 1988, no Rio de Janeiro (RJ), e vive em São Paulo há seis anos. É graduada pela Escola de Cinema Darci Ribeiro. O interesse por roteiro começou em uma oficina, e depois veio o desejo de dirigir: “Eu ouvi uma amiga dizer que tinha uma aula interessante de roteiro com o Jorge Durán, no Rio. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, fui ver a aula, foi apaixonante, foram três horas de paixão, é um cara muito passional dando aula, é um cara muito aberto. Na hora eu falei ‘nossa, é isso que eu quero fazer, encontrei’. Eu fiquei estudando roteiro um ano e meio, que é o tempo de formação lá, e aí, em algum momento eu decidi escrever um curta, decidi que eu queria tentar dirigir”.
A estreia como diretora se dá nos anos 2000: “O meu primeiro curta chama Domingo, ele é de 2004, eu fiz no curso de roteiro ainda e como eu não entedia nada de técnica eu chamei outra pessoa, que agora é fotógrafa, a Joana Luz, para dirigir comigo. Foi um filme incrível, a atriz é a Ruth de Souza e eu aprendi muito com ela sobre experiência na área, sobre respeito no set, é uma mulher superpoderosa. O filme foi selecionado para o Festival de San Sebastian, foi uma repercussão legal, as pessoas se emocionavam bastante”. E a carreira continua: “Depois disso eu fiquei muito tempo envolvida com o roteiro da Júlia Mura (histórias que só existem quando lembradas), escrevendo esse roteiro, aí, em 2009, acho que 2009, eu dirigi o Passeio de família, um outro curta que já tem mais evidentemente uma temática familiar. É minha primeira vez experimentando mais a fotografia, pensando na decupagem, uma forma mais madura”.
Maria Clara Escobar estreia em longas com o ótimo documentário Os dias com ele, em que mira sua lente para seu pai, o intelectual Carlos Henrique Escobar, do qual crescera distante. No documentário, tenta rever a relação com ele e também o período da ditadura militar no Brasil, já que ele foi um militante. Escobar não poupa a filha em frente à câmera e diz coisas duríssimas para ela, em momentos impactantes e difíceis para quem assiste, como também deve ter sido para a diretora e filha: “Eu não consigo separar a filha e a cineasta, eu não consigo separar o pai e o personagem. Eu acho que a nossa relação, essa relação que está lá, só existiu porque existiu o filme e porque existia a câmera. Foi uma forma, na verdade, de propor algo, um projeto, a gente propôs uma relação. O filme é quase uma averbação do que é uma relação, né, vamos tentar uma relação, vamos tentar fazer um filme. Então o que era difícil pessoalmente era difícil como cineasta também”.
Maria Clara Escobar esteve na 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes para lançar o filme Os dias com ele, que saiu vitorioso como Melhor Filme da Mostra Aurora, tanto pelo júri jovem como pelo júri da crítica. Ela conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro e falou sobre sua trajetória, sua formação, a descoberta da paixão pelo roteiro, os primeiros curtas, o longa O dias com ele, sua relação com o pai e outros assuntos.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Bom, para começar, origem, data de nascimento e formação.
Maria Clara Escobar: Eu sou Maria Clara Escobar, sou do Rio de Janeiro, mas vivo em São Paulo há seis anos. O filme que fiz, Os dias com ele, é um filme paulista, apesar de dizer que sou do Rio. Minha data de nascimento é 4 de julho de 1988, tenho 24 anos.
MCB: A formação?
MCE: Eu posso dizer que me formei em Cinema na Escola de Cinema da Darci Ribeiro.
MCB: Foi quando?
MCE: Eu sou muito ruim com data, eu acho que foi tipo em 2005.
MCB: Nessa sua formação você já tinha interesse no cinema como diretora? Como o cinema entrou no seu imaginário em termos efetivamente profissionais?
MCE: Eu ouvi uma amiga dizer que tinha uma aula interessante de roteiro com o Jorge Durán, no Rio. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, fui ver a aula, foi apaixonante, foram três horas de paixão, é um cara muito passional dando aula, é um cara muito aberto. Na hora eu falei “nossa, é isso que eu quero fazer, encontrei. Eu fiquei estudando roteiro um ano e meio, que é o tempo de formação lá, e aí em algum momento eu decidi escrever um curta, decidi que eu queria tentar dirigir. Eu acho que a minha trajetória é muito de desenvolver algum aspecto do cinema e aí pensar “nossa, ainda não desenvolvi isso, ainda não pensei sobre isso, então vou experimentar dirigir”. E fui encontrando. Depois desse curta ficou muito evidente que eu queria dirigir, mas fui ainda trabalhando com roteiro, eu sou co-roteirista do roteiro do filme da Júlia Murat, Histórias que só existem quando lembradas. Foram cinco anos escrevendo o filme, fui diretora assistente dela, eu não queria desejar ser diretora porque eu acho que é muito óbvio, as pessoas começam a fazer cinema e sempre querem ser diretoras. Então eu curtia ser roteirista, mas em algum momento ficou inevitável aceitar que eu queria dirigir.
MCB: Mas vamos recuperar os curtas que você fez, são dois curtas não são?
MCE: Fiz dois curtas.
MCB: Fale um pouco sobre cada um dos dois.
MCE: O meu primeiro curta chama Domingo, ele é de 2004, eu fiz no curso de roteiro ainda e como eu não entedia nada de técnica eu chamei outra pessoa, que agora é fotógrafa, a Joana Luz, para dirigir comigo. Foi um filme incrível, a atriz é a Ruth de Souza e eu aprendi muito com ela sobre experiência na área, sobre respeito no set, é uma mulher superpoderosa. O filme foi selecionado para o Festival de San Sebastian, foi uma repercussão legal, as pessoas se emocionavam bastante. Depois disso eu fiquei muito tempo envolvida com o roteiro da Júlia Murat, escrevendo esse roteiro, aí em 2009, acho que 2009, eu dirigi o Passeio de família, um outro curta que já tem mais evidentemente uma temática familiar. É minha primeira vez experimentando mais a fotografia, pensando na decupagem, uma forma mais madura assim. E aí em 2012 eu fiz um documentário sobre o meu pai, Os dias com ele.
MCB: Surgiu a partir de uma necessidade sua de revisitar aquela história, sua relação com ele? Como surgiu?
MCE: Eu não sei explicar como ele surgiu, ele veio, ele culminou muitos sentimentos, muitas coisas que eu sentia e estava digerindo ao longo do tempo. Essa minha curiosidade sobre esse amor muito estranho de família, que eu acho que é um amor assim inexplicável, não sei, um sentimento estranho que me interessa. Pensar no cinema latino-americano também, conversas com o Avellar, sobre a temática das famílias latino-americanas, uma emoção que eu sentia sempre quando eu pensava sobre o assunto da ditadura militar ou qualquer espécie de tortura, tudo isso. E, óbvio, esse buraco da presença de uma figura paterna, né? Tudo isso, eu acho, que se movimentava em mim, e um dia me deu um negócio “não, preciso ir lá, preciso, agora é o momento de eu fazer isso”. Tem outras coisas envolvidas, meu avô morreu um pouco antes de eu fazer isso, meu pai está ficando velho, acho que essa consciência da morte também de alguma forma, inconsciente, foi permeando essa decisão de fazer o filme.
MCB: Ele topou logo?
MCE: Não, ele disse que não, está no filme, ele diz que não quer que eu filme ele.
MCB: Mas eu falo antes do filme feito, porque a gente vê isso no filme, para você convencer ele a fazer demorou um bom tempo?
MCE: Na verdade, ele é um provocador e ele, apesar de parecer que não escuta muito, ele escuta bastante o que você coloca e considera de forma bastante generosa. Então quando ele me diz que não queria que filmasse ele é porque ele foi superduro comigo, quando escreveu dizendo que não queria que eu achasse algum tipo de solução para esse buraco que eu sinto, que todo mundo sente em coisas diferentes e materializa coisas diferentes, dor de viver. Que eu resolveria isso formatando ele, ou transformando ele em um herói, uma coisa que eu pudesse filmar. Aí eu disse para ele que não era nada disso, que, na verdade, eu tinha muita mágoa e discordava de muitas coisas, que eu via as relações de uma forma bem diferente do que ele via, mas que era uma tentativa de eu me aproximar e uma tentativa de buscar alguma coisa em mim, tentar entender alguma coisa. Quando eu disse isso ele rapidamente falou “tá bom, venha, mas venha sozinha então”.
MCB: Eu imagino que realizar o primeiro longa já deve ser difícil, uma relação pai e filho já é difícil, e aí esse tema vem em seu primeiro filme. Durante o longa, quando ele fala que você está se divertindo você fala que não, que para você é muito difícil. Foi difícil fazer esse filme?
MCE: Foi. Eu acho que sou meio kamikaze, eu sempre escolho o caminho mais difícil para fazer as coisas. Porque, não sei, meu natural, eu acredito mesmo que a vida seja uma junção de experiências, de transformações, então eu sou muito aberta para isso, para relacionamentos catastróficos, filmes que vão ser mais difíceis. Eu não me interesso por fazer coisas que eu já sei fazer, de reproduzir coisas que eu já sei fazer. O cinema, pra mim, é o dispositivo que me permite fazer, me propor a fazer coisas que eu não sei ainda como fazer, e aí chegar a uma coisa que eu acho que concretizei e seguir para um novo momento. Então foi difícil porque eu tinha mais segurança do aparato de ter uma câmera, porque eu nunca tinha experimentado isso, tinha todos os meus sentimentos, tinha o fato de não saber mesmo o que eu ia fazer da minha vida, que, na verdade, é uma coisa que permeia a vida sempre. Mas de ter uma pessoa me cobrando “qual o seu projeto?”, “por que você vai fazer isso?”, foi muito difícil para mim. Eu não queria saber também, mas era difícil, é difícil explicar isso pra ele, nesse sentido eu acho que tem uma coisa geracional também, né, que está ali no filme. Eu queria me permitir não saber e ele me cobrava saber, acho que isso foi o mais difícil, assim, emocionalmente.
MCB: E durante as dificuldades, a partir do que ele colocava? Por exemplo, quando ele fala “você está fazendo esse filme é porque você quer saber o que você representa para mim”, ou quando ele fala “a minha única alegria...” e depois ele fala “a grande alegria da minha vida eu encontro com os gatos”. Durante essa filmagem, como essas falas dele reverberavam em você, não na cineasta, mas na filha? Isso embaçava ou ajudava o seu ato ali, de estar fazendo o filme?
MCE: Sim, mas é que eu não consigo separar a filha e a cineasta, eu não consigo separar o pai e o personagem. Eu acho que a nossa relação, essa relação que está lá, só existiu porque existiu o filme e porque existia a câmera. Foi uma forma, na verdade, de propor algo, um projeto, a gente propôs uma relação. O filme é quase uma averbação do que é uma relação, né, vamos tentar uma relação, vamos tentar fazer um filme. Então o que era difícil pessoalmente era difícil como cineasta também. Essa coisa do projeto, por exemplo, que eu citei, é pessoal: “O que você está fazendo da sua vida?”. Sei lá o que estou fazendo da minha vida, mas, ao mesmo tempo, “que filme é esse que você está fazendo?”, era muito misturado.
MCB: Tem uma questão que eu acho que é uma ilusão: algumas pessoas falam que é mais fácil fazer um documentário e que ficção é muito mais difícil. Eu tendo a achar o contrário, eu acho que muitos filmes documentários se apoiam, se sustentam demais no personagem. Às vezes uma apreciação que a gente tem de um filme de documentário é porque a gente gosta tanto do personagem, que fazemos vista grossa para a direção, para o filme em si. No seu caso, você tem um personagem que é maravilhoso, instigante, inteligente, mas tem também uma direção muito precisa. Você concorda ou discorda disso que estou falando na relação entre ficção e documentário? Quais foram as suas preocupações para que essa sua assinatura também de diretora estivesse tão bem resolvida como está no filme?
MCE: Eu, na verdade, vou te dizer muito sinceramente: eu não separo mais assim o que é ficção e o que é documentário não. Eu acho que os processos dependem um pouco de como você se coloca, se propõe a fazer esse processo. Tem muitos filmes feitos como documentário que gastam o mesmo tempo e que permitem a mesma imprecisão, esse olhar, ou vice-versa, né, documentários que já saem com roteiro. Então eu acho que todo filme é difícil, não sei, acho que depende um pouco do que você propõe a viver naquilo, se é uma coisa que você já sabe que vai ser ou uma coisa que muda, e aí uma coisa que muda é muito mais sofrida, uma coisa que você descobre fazendo é isso, você perde o controle muitas vezes. Mas eu acho que mesmo quando você acha que está tudo controlado, uma ficção, por exemplo, você pode perder o controle e acho que isso acaba saindo na tela, né, é inevitável, você faz parte da mágica da coisa.
MCB: E como você se colocava com o rigor da diretora?
MCE: Pois é, eu acho que eu olho assim, eu acho que tem uma cobrança muito grande minha mesmo, comigo. Eu estava experimentando mesmo o olhar, construir o olhar. Então tinha uma tentativa de rigor, que às vezes fracassa, mas pelo próprio fracasso na tentativa ele fica tão potente, eu acho, está exposto ali, essa tentativa de descoberta de mim mesma como cineasta, um processo longo no meio de um monte de coisas que eu não domino.
MCB: Você fala lá várias vezes para ele que o filme é para se ver a história da ditadura militar do Brasil e também a sua relação com ele. Você teve respostas nesse filme quando terminou, algumas respostas que você procurava? Você foi frustrada no seu objetivo primeiro? Porque é lógico que no filme, apesar de você ter umas perguntas fixas, o que ele fala é inesperado para você. Como se deu essa relação com o filme, o filme terminado, finalizado, que é esse que a gente viu nas telas?
MCE: Acho que sim, muitas respostas. Acho que foi evidente pra mim que é desassociável essa história pessoal dessa história política, pública, sei lá, não sei que termo usar. Eu acredito que em relação a esse silêncio, que mais do que chegar a uma verdade ou as pessoas chegarem a uma verdade histórica, que, às vezes, até serve para preencher esse buraco, desespero de não dar conta de dominar o que foi, o que é história, que muda. Essa pequena história, essa possibilidade de, na vida, a gente aceitar a história de uma coisa de vida, e as pessoas, nas famílias, contarem o que aconteceu. Isso é menos acadêmico e distante, é mais presente, com uma história que muda. Foi algo que eu aprendi, que de alguma forma respondeu a essas inquietações que eu tinha, como separar essa pessoa pública ou pessoalmente, de quem é essa memória. Tudo isso não tem uma resposta, assim, na verdade, de ninguém, mas é de todo mundo, não dá para separar. A gente se utiliza de mecanismos pra ensinar nas escolas ou estudar academicamente, mas se existe uma consciência de todos esses mecanismos que estamos usando, se não é forjando uma ideia de verdade, é válido, é bacana, a gente está em discussão, a gente está em formação.
MCB: Você já está envolvida em outro projeto? Você fez uma residência agora em Nova York, não é isso? Esse projeto já está tomando corpo ou é outra coisa completamente diferente? É possível falar sobre esse novo projeto?
MCE: Acho que não, eu não sei ainda o que é. Esse projeto partiu de uma vontade de voltar a escrever, pensar num roteiro de forma diferente. Eu tinha abandonado essa coisa de escrever, achado que eu tinha chegado a um nível que não me interessava mais pensar nisso, escrever roteiro. Ele parte de uma vontade de pensar como escrever de forma diferente esse roteiro, como experimentar uma ficção um pouco nesse meio documental. Eu acho que o que percebi nessa residência é que ele é muito, é um embrião ainda, é difícil falar sobre ele. Mas o que eu percebi nessa residência, pensando sobre a conexão dele com o filme Os dias com ele, é um sentimento que ficou em mim ao terminar esse filme sobre meu pai, de que tem certas coisas, certos sentimentos e certas coisas que são irrecuperáveis, que existe uma dor dessa impossibilidade de recuperar certas coisas, de preencher certos buracos. Eu acho que essa ficção, que é sobre um casal que tem toda uma história de família envolvida, tem um filho, está sempre lidando com esse sentimento. A personagem morre, ele está tentando recuperar o corpo dela, essa coisa de tentar recuperar algo e tentar enfrentar essa frustração, essa dor é inerente, esse buraco é inerente e transforma a gente.
MCB: Voltando ao Os dias com ele, você teve na montagem uma maravilhosa parceria com a Júlia Murat e com a Juliana Rojas, não é?
MCE: Elas são incríveis. A Júlia é muito amiga, a gente ficou cinco anos escrevendo o roteiro do filme dela, então todos os tipos de troca e desavenças intelectuais e sentimentais já são muito explícitos pra gente, a gente precisa se comunicar bem pouco com palavras. A gente tem ideias de mundo bem diferentes, a gente tem uma sensibilidade racional que eu acho próxima. Ela foi fundamental, ela formou o filme primeiro, me ajudou a escolher tudo, a gente discutia, a gente tinha as dificuldades. Ela teve dificuldades com o personagem porque ele fala muitas coisas históricas erradas, né, datas e coisas que ela, até por ter uma mãe que trabalhou muito nessa temática na ditadura, achava estranho, era difícil pra ela, e isso foi muito bom. Ela foi fundamental. Ela estava grávida, teve uma filha no processo, a gente sabia que ela iria parar, então nós trouxemos a Juliana, desde o início eu queria que fosse a Juliana. Ela editou um filme do Caetano (Gotardo) chamado O que se move, que eu acho muito primoroso, um filme incrível, acho a edição dela perfeita, eu queria muito que fosse ela que acompanhasse. Nós tínhamos que ter uma pessoa para acompanhar, a Júlia tinha todo o direito de não querer voltar, de querer viver a experiência de ser mãe. Nós terminamos esses processos da Júlia, ela ia ter a filha, e mostramos para algumas pessoas, a gente meio sem palavras, sem entender que o processo com ela estava meio terminando. Então na hora de um novo olhar tomar conta, a Juliana é uma montadora incrível, genial, ela voltou em coisas que a gente tinha esquecido, ela questionou coisas que a gente tinha como certo. Eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas, movimenta, né, faz você pensar. Mesmo quando você discorda você pensa mais do que sozinho, você acaba em alguma certeza quando você trabalha sozinho, eu acho ótimo que os outros desconstruam. Ela serviu para desconstruir um pouco essas coisas que a gente tinha, desconstruir um pouco a dureza que a gente tinha feito, as coisas que a gente tinha feito mais duras. Elas são diretoras incríveis, pessoas incríveis, maravilhosas, generosas.
MCB: Pra finalizar, as únicas duas perguntas fixas do site. Qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você deixa registrada na sua entrevista como homenagem?
MCE: Acho que pode ser a Ruth de Souza, ela me ensinou muita coisa, ela é uma mulher muito forte em todos os sentidos, como mulher negra, como mulher.
MCB: Qual foi o último filme brasileiro que você viu sem ser na mostra?
MCE: O último filme brasileiro que eu vi, eu sou muito ruim de memória, acho que foi O que se move.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada durante a 16a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2013.

Veja também sobre ela