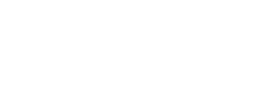Esther Góes
 A atriz Esther Góes nasceu no dia 4 de fevereiro, em São Paulo (SP). Politizada e notável atriz, desde a década de 1970 ela ilumina o teatro, a televisão e o cinema com seu talento. A formação foi na Escola de Artes Dramática – EAD, da USP, onde conhece o diretor Ademar Guerra, que a dirige em Hair, seu primeiro trabalho profissional: “(Estreei) no Hair, em 1970, logo após a saída da Escola de Arte Dramática, chamada pelo Ademar Guerra, que foi realmente meu padrinho nas artes. Porque ele me conheceu lá fazendo América, hurra!, que foi nosso espetáculo de formatura e que tinha muita gente conhecida, eram os dois últimos anos da escola. Era com um autor muito em voga (Jean-Claude von Itallie), já criando aquele espetáculo aberto diferenciado dos anos 70. Ele foi fazer essa experiência, resolveu fazer com alunos, até porque isso fortalecia para a montagem do próprio Hair, que ele ia dirigir a seguir.” Depois, integra o Oficina, grupo de referência na história do teatro brasileiro: “O Salto para o Salto, como era chamado. Era um Oficina que vinha de toda uma metamorfose interna, após dificuldade de harmonizar tendências internas, o grupo tinha caminhado para um espetáculo novo, mas através da remontagem de três de seus maiores espetáculos, que foram Galileu, O rei da vela e Pequenos burgueses. Então houve uma remontagem desses três espetáculos para fazer uma viagem pelo Brasil, que de fato aconteceu e na qual eu passei a fazer a Tatiana de Pequenos burgueses, a Heloísa de Lesbos de O rei da vela, e a Verônica de Galileu Galilei”.
A atriz Esther Góes nasceu no dia 4 de fevereiro, em São Paulo (SP). Politizada e notável atriz, desde a década de 1970 ela ilumina o teatro, a televisão e o cinema com seu talento. A formação foi na Escola de Artes Dramática – EAD, da USP, onde conhece o diretor Ademar Guerra, que a dirige em Hair, seu primeiro trabalho profissional: “(Estreei) no Hair, em 1970, logo após a saída da Escola de Arte Dramática, chamada pelo Ademar Guerra, que foi realmente meu padrinho nas artes. Porque ele me conheceu lá fazendo América, hurra!, que foi nosso espetáculo de formatura e que tinha muita gente conhecida, eram os dois últimos anos da escola. Era com um autor muito em voga (Jean-Claude von Itallie), já criando aquele espetáculo aberto diferenciado dos anos 70. Ele foi fazer essa experiência, resolveu fazer com alunos, até porque isso fortalecia para a montagem do próprio Hair, que ele ia dirigir a seguir.” Depois, integra o Oficina, grupo de referência na história do teatro brasileiro: “O Salto para o Salto, como era chamado. Era um Oficina que vinha de toda uma metamorfose interna, após dificuldade de harmonizar tendências internas, o grupo tinha caminhado para um espetáculo novo, mas através da remontagem de três de seus maiores espetáculos, que foram Galileu, O rei da vela e Pequenos burgueses. Então houve uma remontagem desses três espetáculos para fazer uma viagem pelo Brasil, que de fato aconteceu e na qual eu passei a fazer a Tatiana de Pequenos burgueses, a Heloísa de Lesbos de O rei da vela, e a Verônica de Galileu Galilei”.
Ao sair do Oficina monta com Renato Borghi, com quem havia se casado, um novo grupo: “A partir de então fizemos o Teatro Vivo. O Renato começou com O que mantém o homem vivo, um espetáculo que também durou vários anos e que já era um trabalho muito autoral nosso sobre a obra de Brecht. Daí pra frente o teatro foi um caminho forte, um caminho importante, um caminho de raiz mesmo, que tem a grande vantagem de ser seu mais do que outras coisas”.
Esther Góes estreou em novelas na Tupi, em A volta de Beto Rockfeller, e depois tem momentos memoráveis em outras produções, como O espantalho, Meu destino é pecar, Elas por elas e Direito de amar: “Na Globo eu fiz Direito de amar, uma das novelas mais amadas do mundo inteiro, eu nunca vi uma coisa repercutir dessa maneira naquela época. Eu tinha feito o Stelinha, o filme, e fui para Cuba para um Festival de Cinema. Eu cheguei de madrugada e tinha uma multidão no aeroporto para me encontrar, para me receber, por causa da Eleonor, que era um personagem que exalava justiça, era uma mulher de uma dignidade, de uma justiça, e que bateu em cheio em Cuba, o temperamento, o povo, do jeito que ele é. Então a Eleonor era o personagem mais amado da novela em Cuba, fez um tremendo sucesso, foi muito legal aquilo”.
A estreia no cinema é em uma participação em Uma mulher para sábado, mas a primeira grande personagem vem com Eternamente Pagu, de Norma Bengell, em que interpreta Tarsila do Amaral: “Era o meu primeiro trabalho assumidamente em tela grande, era um papel que era muito instigante, mas, ao mesmo tempo, muito difícil você fazer um personagem que existiu. Porque sua fidelidade tem que ser máxima, você tem que retratá-lo o mais fielmente possível, você não pode traí-lo, você tem que ver como era, porque aquilo é uma vida, existiu, e você está fazendo o depoimento dela. Eu tenho uma lealdade louca com o personagem que existiu”. Depois, protagoniza Stelinha, filme que lhe valeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado: “É o que foi mais reconhecido meu. Não foi o mais difícil para mim, pelo contrário, porque a Stelinha sendo uma cantora, tinha toda aquela gama de cantoras que a gente já ouviu desde criança, já passa pelo corpo com uma facilidade impressionante, porque a facilidade com que eu fiz a Stelinha... Ela vinha pela pele, pela boca, pelo olho, por tudo, ela me tomava conta, não precisava nem me preocupar, porque todo dia quando eu ia pensar na cena do dia seguinte, aquilo fluía que era uma beleza. Realmente, eu tive muito mais preocupações de técnica, porque eu tinha que fazer uma dublagem perfeita”.
Esther Góes conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro por telefone de sua casa em São Paulo, em abril de 2013. Ela fala sobre sua formação, sua trajetória, os trabalhos nos palcos, as novelas, os filmes, a importância do teatro de autor e outros assuntos.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começar, origem, data de nascimento e formação.
Esther Góes: Eu nasci em São Paulo, capital, no alto da Lapa, no dia 4 de fevereiro. Eu me preparei muito para as áreas sociais, característica da minha geração; Comecei a Faculdade de Serviço Social, e que era para mim o meu objetivo naquele momento, em termos de carreira, que seria uma carreira muito ativa do que uma carreira teórica. Na época estava muito em moda Ciências Sociais e Filosofia, e, e na verdade, Políticas. Eu preferi o serviço social porque era a minha característica mesmo, depois interrompi a faculdade, tranquei a matrícula que nunca mais destranquei e fui fazer, porque me chamou forte demais, a Escola de Arte Dramática, da Universidade de São Paulo - EAD. Me formei e comecei a trabalhar em artes. Fui jornalista também bastante, depois também fiz uma segunda opção, e também a favor das artes, aí abandonei o jornalismo e continuei na carreira artística.
MCB: Sua estreia é no Hair, não é isso?
EG: No Hair, em 1970, logo após a saída da Escola de Arte Dramática, chamada pelo Ademar Guerra, que foi realmente meu padrinho nas artes. Porque ele me conheceu lá fazendoAmérica, hurra!, que foi nosso espetáculo de formatura e que tinha muita gente conhecida, eram os dois últimos anos da escola. Era com um autor muito em voga (Jean-Claude von Itallie), já criando aquele espetáculo aberto diferenciado dos anos 70. Ele foi fazer essa experiência, resolveu fazer com alunos até porque isso fortalecia para a montagem do próprioHair, que ele ia dirigir a seguir. Daí ele aproveitou grande parte desses formandos no próprio espetáculo, não logo de cara, porque nós ainda estávamos nos formando, e o Hair já entrou em cartaz. Ele tinha esse acerto com o Dr. Alfredo Mesquita, que ainda estava na escola, foi o [ultimo ano do Dr. Alfredo, e de que ele não tiraria ninguém da escola para a vida profissional antes da hora, então ele cumpriu esse acordo. Logo que o Hair estreou, nós nos formamos no final do ano, fomos os primeiros a entrar já fazendo, substituindo papéis importantes. Eu entrei, o Carlos Alberto Riccelli, que estava na escola também nessa época entrou, a Cléo Ventura, o Ney Latorraca. Nós estávamos nesse último espetáculo dele, então vários alunos entraram e participaram ativamente do Hair durante muito tempo.
MCB: E você já fazendo personagens importantes no Hair, não é isso?
EG: Entrei fazendo a Jeanie, a gravidinha, entrei de sola, né, porque quem estreou nesse personagem foi a Helena Ignez, depois teve a Regina, não sei o sobrenome dela até agora, ela foi pra Bahia no meio, na época, era nos anos 70, né? As pessoas resolviam ir pra algum lugar de repente assim, então a Regina mandou dizer para o Ademar que estava indo pra Bahia e aí ele me chamou correndo. Ela era substituta da primeira Jeanie, então já era um número dois o papel. Eu entrei já entrei fazendo a grávida e tive que ensaiar isso em uma tarde, entrei em um dia e estreei no mesmo dia, à noite. Eu aprendi a música, aprendi a roda do Aquarius, a roda coletiva, enorme, que não podia errar o passo. Fiz com a Marika Gidali, e aprendi a música com o Paulo Herculano. Fiquei vários meses fazendo a Jeanie, e depois fazendo a Sheila, que era a personagem revolucionária. Eu já entrei no Rio, então, ao todo, eu fiz nove meses deHair.
MCB: Que foi um acontecimento na época.
EG: Foi, foi um grande acontecimento. É interessante porque, ao mesmo tempo, nós éramos muito mais radicais na época, enquanto formação mesmo, política. Então transformar em musical aqueles conteúdos tão importantes, tantas vidas envolvidas, gente que não assumia ir para a guerra, e uma geração que mudava de contornos, que assumia a contracultura, eram coisas sérias que estavam acontecendo. Transformar em musical para nós, ao mesmo tempo, era muito interessante, muito gostoso, muito bom. Tinha um lado assim que a gente achava que era muito superficial, para estar como perfumaria, um tema grave, um tema importante, um tema da geração, o tema da geração, né? Enfim, eu estou me lembrando do que dizíamos e do que pensávamos na época, tratado como entretenimento, uma coisa que era mais que isso, era o sentimento que a gente tinha, uma parte tinha, outra parte não tinha, estava tudo bem e pronto. Mas o espetáculo foi muito ousado para a época, e tinha o tal do nu, então tinha toda uma coisa em torno dele, foi um espetáculo muito bem-sucedido, ficou anos. Depois teve mais trocentas montagens, mas elas nunca chegaram a ser, pelo menos, a representatividade de uma geração como o primeiro teve, porque o primeiro era isso, feito por um diretor que tinha essa noção e que buscava isso, tanto que o Ademar não pôs em cena nada que fosse nenhum modismo hippie, ele não fez nenhuma concessão, nós éramos uns hippies bem pobres em cena, a pobreza era muito mais a nossa expressão, a simplicidade máxima. As coisas que eram postas como adereço, essas coisas eram bonitas, elas eram hippies, mas eram enxutas, não tinha arrumação, não tinha enfeite naquilo, sabe?
MCB: Não tinha cosmética.
EG: Não. A gente até se ressentia um pouco, às vezes, qualquer coisa que você pusesse a mais ele tirava. Comigo, especificamente, eu queria sempre colocar aquela boa fita no cabelo, adorava aquela fita que eles usavam, e ele mandava eu tirar todas as vezes, toda vez ele mandava tirar, eu botava e ele mandava tirar, porque não queria hipongar, sabe? O meu cabelo cresce muito e ainda mais com tanto suor de dança como tinha, porque era um espetáculo de mais de três horas de duração. A gente fazia quantas sessões por semana? Uma na terça, uma na quarta, duas na quinta, uma na sexta, duas no sábado e duas no domingo, nove sessões por semana, então você pode imaginar como tudo ficava tão malhado, e aí, no palco, o cabelo ficava imenso, e ele gostava era disso. Ele tinha uma noção estética melhor que a minha, evidentemente, ele queria exatamente aquele cabelo enorme, inchado de suor. entendeu? Aquilo que era bonito para ele, e eu queria botar a minha boa fitinha pendurada de lado e tal. O Ademar entendeu, passou o máximo que pode, o essencial da coisa, ele compreendia o que estavam fazendo. As montagens a partir daí, do Hair, ficam voltadas para o passado, para um determinado momento, mas ainda não é aquele momento, a vivência daquele momento.
MCB: Essa sua estreia no teatro é tão forte que você jamais abandonou os palcos, não é? Como você chega ao Oficina?
EG: Foi interessante, porque eu não sabia muito bem o que viria a seguir, quando eu saí do Hair, eu saí, eu fui operar a amígdala porque ela estava praticamente naufragada de tanto cantar, representar, dançar tudo, junto ao mesmo tempo, daquele jeito insano, era quase uma insanidade o esforço que a gente fazia. Na verdade, eu recebi um convite do Fernando Peixoto, que estava remontando o Don Juan, ele me chamou para fazer essa remontagem, em que estava também o Raul Cortez. Então eu fui para dentro do Oficina, para fazer esse espetáculo com ele, estava lá o Flávio Santiago também. Esse espetáculo foi uma remontagem, eu achei ótimo fazer, até porque minha formação toda era teatro, teve até uma possibilidade de eu fazer outros musicais, mas eu não quis, não quis me dedicar a isso, não quis ir por essa vertente. Então eu fui fazer o Don Juan no Oficina, e lá é que eles me convidaram para fazer o que vinha a seguir.
MCB: No Oficina você faz grandes espetáculos.
EG: O Salto para o Salto, como era chamado. Era um Oficina que vinha de toda uma metamorfose interna, após dificuldade de harmonizar tendências internas, o grupo tinha caminhado para um espetáculo novo, mas através da remontagem de três de seus maiores espetáculos, que foram Galileu, O rei da vela e Pequenos burgueses. Então houve uma remontagem desses três espetáculos para fazer uma viajem pelo Brasil, que de fato aconteceu e na qual eu passei a fazer a Tatiana do Pequenos burgueses, a Heloísa de Lesbos do O rei da vela, e a Verônica do Galileu Galilei. Aí também já se passou a criar um novo espetáculo e se fez um filme do O rei da vela, isso foi tudo meio junto. Foi um trabalho muito grande mesmo o do O rei da vela, muito menos do que de fato eu filmei, porque o filme foi alterado em termos de edição, e o original, que é a peça inteira feita, esse original nunca foi exibido porque não interessava exibir o original, interessava a obra já editada, com outro tratamento. De fato já era um produto final com uma outra cara de Oficina, com uma outra proposta, digamos, que não era especificamente apenas o O rei da vela, era uma versão, e na qual eu tenho alguns momentos apenas, eu não tenho muita coisa. Mas foi aí a primeira vez que eu fiz cinema.
MCB: Que vinha já com essa formação forte, social e política da época. Você estava no olho do furacão, né, porque o Oficina é, ainda hoje, a referência de um teatro forte, com esse contorno político. Como foi estar ali naquele meio, junto daquelas pessoas todas e fazendo aqueles trabalhos? Como foi a relação com a censura?
EG: Pois é, a censura nos acompanhou durante todos os anos. Eu me lembro que até 74 fizemos espetáculos com censura, foi muito tempo, até os anos 80 ainda havia, havia espetáculo com censura. Foram dez anos disso, na verdade. O Oficina me ensinou muitas coisas com as quais eu concordei e muitas coisas que eu discordei radicalmente mesmo, então não foi uma relação tranquila não, foi muito difícil, na verdade foi uma relação que tinha com grande dificuldade mesmo. Com muita coisa eu concordava, inclusive, a própria postura contra a ditadura de todos nós, várias ideias inovadoras, formas de representar. Aprendi muitas coisas, muitas coisas mesmo eu assimilei e ficaram para mim para a vida inteira. Mas também de outras coisas eu discordei bastante, eu achava que tinha sempre uma postura um pouco autoritária, sempre discordei, e a partir de um certo momento foi incrível continuar naquele caminho, foi quando eu me afastei do Oficina. Eu saí assim que o Ariel (Borghi) nasceu, em 72 eu saí, eu não fiz o Tchekov, eu comecei a ensaiar e decidi que não dava mesmo, era inconciliável naquele momento . E também já era para mim um caminho novo, não queria participar mais de um grupo daquela maneira.
MCB: Você se casa com o Renato Borghi naquela época, não é isso?
EG: Exatamente. E para mim, a partir então dessa questão do que é grupo, do que é comunidade e o que é companhia foi ficando muito claro, eu não desejava viver em comunidade em primeiro lugar, eu desejava viver em uma situação de família, que era muito mais natural para mim. Na época, essa coisa de comunidade estava muito em voga, né, a tendência, eu não me sentia confortável nessa relação. E depois a própria coisa do grupo também, eu achava muito polêmico também, na verdade os papéis eram confusos, não se sabia o que esperar, era todo um poder disseminado que acaba pertencendo a um ou dois. Então eu preferia que fosse isso, uma relação mais clara, menos confusa, menos nebulosa. Nessa discordância que eu tive eu encontrei mesmo o que eu acho que é o formato ideal para o teatro, que é a equipe, em que os papéis existem, as responsabilidades estão de fato distribuídas. Em uma relação mais clara, me parece, fica com uma responsabilidade real ali, não vai virar família, nem precisa virar uma super relação confusa, de uma proximidade confusa, que você já não entende o que é. Não me parecia boa em nenhuma circunstância, quer dizer, não me parecia boa em momento algum, nem mesmo para a arte. Eu até hoje acho que um corpo que funciona com clareza é um corpo saudável sempre, então pode ser companhia, grupo, desde que ele tenha papéis e responsabilidades definidas, que as pessoas estejam jogando um jogo aberto. Tanto faz pra mim o nome que se dê, mas eu acho que o formato que me agrada e é no qual eu gosto de conviver, eu gosto de estar. Eu aceito liderança que seja legítima, mas não aceito autoritarismo, não acho legítimo. As diferenças e nuances importantes devem preservar para que as pessoas estejam bem e que o produto seja bem feito, que isso resulte em uma coisa boa.
A partir de então fizemos o Teatro Vivo. O Renato começou com O que mantém o homem vivo, um espetáculo que também durou vários anos e que já era um trabalho muito autoral nosso sobre a obra de Brecht. Daí pra frente o teatro foi um caminho forte, um caminho importante, um caminho de raiz mesmo, que tem a grande vantagem de ser seu mais do que outras coisas. Acho que aí é mais nosso até certo momento, mais do que é agora, né, hoje já está muito mais complicado. Mas o dado autoral que o teatro nos proporciona é a coisa importante, que libera o artista pra obra e isso é muito legal. Você tem muito menos isso no cinema, e você tem muito menos isso na televisão, evidentemente.
MCB: Você teve problema com a ditadura?
EG: Nós tivemos a censura sempre, tivemos momentos mais complicados, momentos de grande repressão durante a viagem com o Oficina, a gente sempre tinha alguém meio que viajando conosco, e que estava ali, evidentemente, para exercer uma vigilância. Teve várias coisas desse tipo, sempre. Publicamente, nós tínhamos um papel bem definido contra a ditadura na nossa obra, no nosso trabalho, a gente sempre declarou isso o tempo todo. Então tínhamos o julgamento, metáfora, evidentemente, no teatro, durante muitos e muitos anos, até o ponto que passou a ser quase uma segunda linguagem, já estava suposto que você falava através da obra porque não podia se falar claramente o que se passava nela. Esse foi um jogo permanente, durante muitos anos a gente conviveu com medo. Eu me lembro que estávamos estreando no dia em que o Herzog foi assassinado, estávamos estreando a comédia do Alan Ayckbourn,Absurda pessoa, e tivemos a notícia da morte, do assassinato, né. Foi um momento muito difícil, terrível mesmo, então tinha tudo isso durante a ditadura.
MCB: Você ficou no Oficina durante quantos anos?
EG: Fiquei dois anos, 70, 72.
MCB: Depois, quando você montou com o Renato o novo grupo, a nova companhia durou quanto tempo?
EG: Durou vários anos também, nós fizemos várias coisas, fizemos uma remontagem de Pequenos burgueses, que foi muito bem, fizemos Absurda pessoa, que foi muito bem, fizemos Mahagonny, também foi muito bem. Até o momento em que a gente se separa. Fizemos ainda algumas coisas juntos, mas depois, fatalmente, cada um seguiu o seu caminho.
Eu assumi a minha própria companhia e que está aí até hoje, que é a Ensaio Geral, e que agora tem o Ariel, temos essa companhia juntos, Companhia Ensaio Geral. Mas no percurso muitas coisas foram feitas, e a conquista do autoral foi a coisa mais importante durante todo esse percurso no teatro. Eu cito algumas peças a partir do que eu fiz outras incursões, tanto na dramaturgia como depois da direção, entendeu? Então deu resultados, como o Não tenha medo de Virgínia Woolf, que é um espetáculo que eu adorei fazer, cujo roteiro é uma parceria minha com o Elias Andreato. Inclusive, uma das primeiras direções dele também tinha feito um texto meu sobre a questão da mulher, que é uma coisa que eu desenvolvi muito naquele período em que estava em muita evidência essa questão. Era um texto constituído de pequenas esquetes sobre situações femininas internas e externas, funcionais e tudo mais, que era quase um depoimento, um testemunho. Foi um trabalho muito interessante que a gente fez, texto meu, dramaturgia minha. Depois teve a montagem de Santa Joana, foi um momento muito importante também, com direção do José Possi (Neto). Fizemos, mais recentemente, aHécuba, eu e o Ariel. Fizemos Determinadas pessoas – Weigel, também dramaturgia minha e dele, com pesquisa nossa, durante dois anos preparamos esse espetáculo. Recentemente eu dirigi A coleção, e ele atuou. Então temos uma parceria bastante desenvolvida, e caminhando em termos de ampliação dessa parceria para obras maiores e com direção implícita, com dramaturgia ou influência dentro da obra em termos autorais bem claras, desenvolvidas ali pra valer.
MCB: Você trabalhou com seu marido durante um tempo e agora com seu filho. Como é trabalhar com o Ariel?
EG: Pois é, essa parceria é possível porque a gente tem uma grande sintonia, a gente vê as coisas, a nossa visão artística, as nossas crenças ou concepções se conjugam muito bem. Eu e o Ariel temos essa facilidade de estar junto, a gente não discorda na criação, se discordasse não seria possível. Claro que uma relação muito próxima às vezes facilita e às vezes dificulta, né, então nós temos consciência disso, nós temos uma paciência muito com esse lado, a gente sabe que ele existe, está presente, é impossível não existir. Mas o lado artístico se conjuga sempre e com muita facilidade, então só acrescenta e só nos protege, porque você sabe que dois é sempre muito bom, dois é forte, dois sempre soma, sempre afirma entendeu? Se você está sozinho, você vai sempre precisar, para constituir qualquer coisa, de um parceiro, ele pode ser um simples parceiro ou pode ser seu amigo, pode ter sido seu marido, pode ser seu filho ou pode ser seu irmão, tem vários irmãos que constituíram obras conjuntas. Porque tem isso, o dois, sabe, o dois é muito forte. Então a gente se protege muito, quando tem alguém em quem você pode confiar plenamente é um nível pessoal e, ao mesmo tempo, uma conjugação artística muito forte. Isso é o que estamos vivendo e, para nós, é muito caro, é um tesouro mesmo poder ter isso, sabe, entre nós dois. Eu gosto muito do que ele faz, ele confia no que eu faço, então podemos trocar papéis, ele me dirigiu em Determinadas pessoas, que nós também fizemos juntos o roteiro. Eu o dirigi em A coleção, e eu acho que a gente fazer um Pinter (Harold Pinter) hoje é de uma coragem, né?
MCB: Isso que eu ia te perguntar: fazer teatro hoje é mais difícil?
EG: É mais difícil, muito mais difícil, porque o que está em voga muito é a indústria, uma indústria de entretenimento muito forte. A indústria do entretenimento entrou muito forte a partir das leis de incentivo né, não vou nem discorrer sobre isso porque eu acho que todo mundo sabe os prós e contras, todo mundo já deve ter mais ou menos compreendido. Então é um mercado que se amplia. A nossa intenção, até quando a gente fundou agora o Fórum de Cultura e Educação, é que este mercado que se amplia não sufoque o outro, né, que é o teatro de prosa, o teatro do autor, do dramaturgo. O teatro que conjuga cultura e educação, que tem um outro tipo de educação, um outro tipo de mensagem mais profunda que leva reflexão, teatro que é o nosso teatro, teatro que a gente quer fazer, que não abre mão de pesquisar os autores. Esse teatro não pode ser sufocado. Evidentemente, quando entra no mercado uma grande quantidade de recursos econômicos em uma indústria de entretenimento carregada de mídia por tudo que é lado e avassaladora , ela passa, de qualquer maneira, a influir no sentido de reduzir, de rebaixar a importância do teatro anterior que vinha, o teatro que vinha se desenvolvendo, e que é o que vem para nós lá de trás, desde antes do TBC, desde lá trás. Toda a história do teatro brasileiro, e que foi um teatro de discussão filosófica, social, política, um teatro de autores, um teatro corajoso no sentido intelectual, esse teatro não pode morrer porque a morte dele é a própria morte do teatro, certo? Então ele não pode ser substituído por uma indústria de entretenimento, como muita gente acredita que se possa e deva fazer, entendeu? Nesse sentido, hoje em dia é muito mais difícil fazer teatro sim, uma indústria de entretenimento que se coloca agora dessa maneira avassaladora, com muitos recursos, ela acaba influindo sobre a relação do próprio público, que é todo sugado por ela, é um aparato de mídia fantástico levando e, evidentemente, é uma coisa muito passível, muito atraente, e que acaba substituindo outros valores. Então através do Fórum de Cultura e Educação a gente está insistindo na necessidade de sobrevivência do espetáculo de teatro ligado à cultura e à educação.
MCB: Agora, sobre o audiovisual, vamos primeiro falar de televisão. Você começa na novela A volta do Beto Rockfeller, não é isso?
EG: Sim, isso foi lá atrás, nem me lembro que ano era, só sei que eu fiz uma participação assim que a gente saiu do Oficina, portanto deve ter sido em 73.
MCB: Sim, em 73.
EG: Eu acho que ainda fui chamada pra fazer um outro papel, que eu ia fazer na sequência, eu ia fazer televisão direto na Tupi, e de repente aquilo fechou. Já tinha provado roupa e tudo, e, de repente, aquilo tudo sumiu, desapareceu, foi uma pena mesmo, foi embora de repente. Eu voltei a fazer televisão, eu fiz um pouco como apresentadora na Record, em um jornal durante um tempo, até começar a fazer novela, que foi O espantalho.
MCB: Em que você fazia a Geni.
EG: Da Ivani Ribeiro. Pois é, Ivani gostava muito de mim, ela me chamou pra fazer essa novela, gostei muito de fazer.
MCB: Eu acho que se fala tanto e justamente da Janete Clair, mas acho que se fala pouco da Ivani Ribeiro.
EG: É, e que foi importantíssima. Mulheres de areia não era dela?
MCB: Isso, era dela.
EG: Ela desempenhou aqui em São Paulo um papel importantíssimo.
MCB: Ela veio do rádio.
EG: Vem do rádio, pois é, e era o folhetinho bacana, de excelente qualidade, é uma qualidade que elas tiveram, eles todos, lá atrás, folhetins de raiz, que iluminaram tudo que está aí, é como se esse mercado ainda vivesse dessas primeiras criações, se apoiam nelas.
MCB: É curiosa a sua trajetória com esse forte acento político, porque mesmo na televisão você vai para o Beto Rockfeller e depois para O espantalho, que, não sei se você se lembra, era uma novela que fazia denúncia das poluições da praia.
EG: É, e que foi com o Jardel (Filho), Nathália Timberg, estávamos todos lá.
MCB: Você passa por várias emissoras, TV Cultura, Bandeirantes, Globo.
EG: Record.
MCB: Na Globo, a primeira eu acho que foi Te contei?, não é?
EG: É, do Cassiano.
MCB: Você vai fazer dele também depois uma novela que eu adoro, que é Elas por elas.
EG: Também adoro, foi muito gostosa aquela novela, muito gostosa mesmo.
MCB: E que tinha um elenco de atrizes fabuloso, né, era Eva Wilma, Sandra Bréa, Joana Fomm.
EG: Aracy (Balabanian), que era a minha antagonista. Tinha o menino que faleceu.
MCB: Lauro Corona.
EG: Puxa vida, a Tássia Camargo, muito querida, fazia a minha filha.
MCB: Você teve sucesso popular nessa novela.
EG: É, eu tive bastante, eu tive um grande sucesso popular no Elas por elas, foi realmente um sucesso muito grande. A personagem se chamava Adriana, uma veterinária. Tinha uma troca de filhos, a Tássia, que estava comigo, na verdade era filha da Aracy, e o Laurinho seria o meu filho, que estava com ela. Esse era o plot da novela do Cassiano. Era uma personagem muito doce, uma veterinária, vivia cercada de cachorros por todos os lados, gosto muito dos cachorros e eles de mim, mas a gente se descobriu amigos mesmo foi naquela novela, porque a cachorrada dominava. O público gostava muito dessa personagem, muito, muito, muito, era um personagem muito amado. Em uma pesquisa feita, o Gabus me chamou e falou que ia me dizer porque ninguém ia me dizer “seu personagem é o personagem mais amado da novela, a pesquisa deu”. Eu fiquei muito contente com isso porque era um personagem muito doce.
MCB: Você faz na Globo um outro trabalho que eu adoro, que é a minissérie Meu destino é pecar, em que você faz a Lídia.
EG: Foi direção do Ademar Guerra, o Ademar que me chamou.
MCB: Era um personagem ambíguo, aquela relação dela com a Lucélia Santos, a Leninha, eu assistia e ficava muito impressionado com aquela ambiguidade que havia ali por trás daquela relação.
EG: Era louca, era muito louca, personagem louco, misteriosamente louco. Eu me lembro dela, me lembro das roupas dela, foi quando eu fui vestida pela primeira vez pela Beth Filipecki. A gente nunca mais se largou, a Beth Filipecki faz todos os meus trabalhos de teatro, eu chamo a Beth e ela faz todos, entendeu? Uma figurinista muito capacitada, especialista, adoro o trabalho dela. Foi ali que a gente se encontrou, ela vestia daquela maneira espetacular, muito bacana. Eu me lembro que era um personagem destrambelhado mesmo, e, também, mais uma vez eu e o Ademar brigamos por causa do cabelo, ele queria de um jeito, eu queria de um outro, e ele falou “olha a besteira, você só pensa besteira”. As coisas do Ademar, e aí eu tive que fazer do jeito dele, e realmente ele estava certo. Fiz muitas coisas Cultura também, no tempo que eu estive lá, eu fiquei dois anos na TV Cultura, fiz um trabalho lindo, lindo, O fiel e a pedra.
MCB: Em que você fazia a Teresa.
EG: Lindo, nossa que lindo aquilo, meu Deus. Fiz um trabalho que ficou um clássico lá na TV Cultura, foi reprisado recentemente, que foi o Electra, foi um trabalho maravilhoso do Ademar, maravilhoso, muito bonito mesmo.
MCB: Você faz também uma novela muito singular que é Um homem muito especial.
EG: Fiz, essa foi na Bandeirantes. Ah, na Globo eu fiz Direito de amar, uma das novelas mais amadas do mundo inteiro, eu nunca vi uma coisa repercutir dessa maneira naquela época. Eu tinha feito o Stelinha, o filme, e fui para Cuba para um Festival de Cinema. Eu cheguei de madrugada e tinha uma multidão no aeroporto para me encontrar, para me receber, por causa da Eleonor, que era um personagem que exalava justiça, era uma mulher de uma dignidade, de uma justiça, e que bateu em cheio em Cuba, o temperamento, o povo, do jeito que ele é. Então a Eleonor era o personagem mais amado da novela em Cuba, fez um tremendo sucesso, foi muito legal aquilo.
Um homem muito especial era a história de um vampiro, a ideia foi do Rubens Ewald Filho, ele tinha começado a fazer na Tupi, mas ela fechou, e aí a Bandeirantes resolveu fazer, no tempo que o Avancini estava lá. Ele foi fazer, começou a novela, mas aí brigou com a casa. Daí veio um outro autor, eu não vou me recordar o nome, que mudou a novela toda, em vez de vampiros e mistérios, passou a ser uma novela meio sensual, então mudamos todos para a extrema sensualidade, tinha banho de banheira, aquelas coisas todas. Eu fazia a Nenê, que era um personagem que vinha de Paris, era meio assim uma mundana parisiense que chega com um cachorrinho poodle do lado. Me lembro da cena da estação lindíssima, eu toda de branco e chapéu, e com um cachorrinho poodle no braço descendo no fog. Aquilo então evoluiu, mas aí ele brigou também e quem foi fazer a novela foi a Consuelo de Castro, que resolveu fazer uma outra versão, política, em que todo mundo virou opressores e oprimidos. O vampiro virou uma espécie de Che Guevara, e o meu personagem virou uma revolucionária, tinha que distribuir sopas aos pobres. Um dia apareceu no meu script que eu tinha que entrar de camponesa. E daí para frente eu seria uma camponesa. Bom, aí foi demais, foi a primeira vez que eu me rebelei totalmente contra uma ideia. Eu falei “não, impossível, essa mulher não pode evoluir de isso pra isso, impossível, não tem condição”. Então eu realmente adequei o meu personagem à situação da novela, mas permaneci de casaco de pele e as joias até o fim... rsrs. De forma que eu distribuía sopa aos pobres nessa situação, de salto e de casaco de pele rsrs. Eu só sei que no final das contas aceitaram que a Nenê, por acaso, se tornasse uma revolucionária assim, chique, de casaco de pele e tudo mais. Foi uma novela muito maluca e inesquecível, no final eu me diverti muitíssimo. Essa novela a gente nunca vai tirar da cabeça de tão louca que ela acabou sendo, e o público gostava, ficava assistindo aquela piração toda... rsrs.
MCB: Você tem feito muitos trabalhos na Record. Você acha importante circular pelas emissoras? É mais campo de trabalho para o ator, do que ficar presa à uma emissora só?
EG: Acho também que você está bem onde te querem, né. Por exemplo, durante muito tempo eu mesma fazia muita triagem, não fazia novela no SBT porque a Globo me chamava sempre e tal, então durante muito tempo eu fiz muitas novelas lá. De repente teve uma pausa, a Record me chamou e eu fiz três novelas em sequência, eles me contrataram e eu me identifiquei com o trabalho dessa emissora, que esta tentando construir uma história. Felizmente os três trabalhos que eu fiz lá, Prova de amor, Amor e intrigas, em que eu fiz uma vilãnzona pela primeira vez, adorei fazer, Dorothéa, que foi para mim muito legal porque ninguém esperava o sucesso que ela foi, e depois a Bela, a feia, que foi muito bem também. Então fiz três novelas em sequência e agora estou aguardando para ver o que vou fazer, estou por algum tempo sem fazer novela, daqui a pouco aparece.
MCB: Seu primeiro filme que chegou às telas foi o Uma mulher para sábado (1971, Maurício Rittner).
EG: Foi lá atrás, eu estava na EAD e me chamaram para fazer uma participação, para mim foi uma coisa fantástica porque de repente, eu era estudante ainda, eu peguei e fui fazer. Fiquei muito feliz em participar daquele filme.
MCB: Você fazia uma enfermeira.
EG: É, uma enfermeira, é em um hospital, eu nunca tinha feito cinema, nem nada, foi muito antes do Oficina. Na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz, fiz alguns outros papéis pequenos. No cinema. o que eu realmente considero um papel de cinema, fora o O rei da vela (1971/82), que eu considero teatro e cinema, um cinema de teatro, mas que de qualquer maneira valeu, foi um trabalho excelente, é o Pagu mesmo (Eternamente Pagu, 1988, Norma Bengell).
MCB: Você fez uma participação também em A próxima vítima (1983, João Batista de Andrade).
EG: É, também foi nessa fase. Eu estava no sindicato naquela época, eu fui presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo, de 80 a 82. Foi nessa época, eu me lembro perfeitamente que eu fiz essa participação no A próxima vítima. Mas o que eu considero que eu comecei a fazer cinema mesmo foi no Pagu.
MCB: Que é fazendo um grande personagem, que é a Tarsila do Amaral.
EG: Exatamente, com a Norminha Bengell, que me elegeu para fazer a Tarsila. Foi um grande prêmio, eu tenho uma lembrança muito bacana da Norma por essa escolha, eu achava que nunca ia fazer uma carreia de cinema, e com a Tarsila foi um personagem premiado inclusive no Rio Cine, como Melhor Atriz Coadjuvante. Foi muito bem também em Gramado, eu acho que quase levei também em Gramado. No ano seguinte eu fiz Stelinha, que veio muito através da Tarsila, que me abriu o caminho do cinema.
MCB: No Pagu é muito impressionante ver você e a Carla Camurati, cinematograficamente na tela assim. É um trabalho muito impressionante de atriz naquele filme, não é?
EG: É, era o meu primeiro trabalho assumidamente em tela grande, era um papel que era muito instigante, mas, ao mesmo tempo, muito difícil você fazer um personagem que existiu. Porque sua fidelidade tem que ser máxima, você tem que retratá-lo o mais fielmente possível, você não pode traí-lo, você tem que ver como era, porque aquilo é uma vida, existiu, e você estáfazendo o depoimento dela. Eu tenho uma lealdade louca com o personagem que existiu. Quando eu fui fazer a Virgínia eu pesquisei a Virgínia de cabo a rabo, quando eu fui fazer a Weigel, eu fui até à Alemanha para ver tudo dela, porque eu tenho um respeito imenso por essas mulheres fantásticas, que, graças a Deus, povoaram a minha vida, entendeu? É uma parte de mim, essa a coisa da mulher, que eu peguei lá atrás, nos anos 70 eu já me dedicava muito a essa questão da feminilidade no mundo. Depois eu fui transformando isso em pesquisas de mulheres que eu fiz, que eu encarnei, e eu diria que, muito especialmente, Tarsila foi uma delas, Helena Weigel foi outra, e Virgínia Woolf foi a terceira. Foram três mulheres que com o maior respeito eu digo “eu fui lá, eu fui até o fim”.
MCB: A Tarsila, inclusive, você levou para o teatro, não é?
EG: Levei para o teatro depois, com uma proposta minha de fazer um espetáculo, Tarsila, como trazer a Tarsila. Eu tinha pesquisado muito sobre a Tarsila para o filme e eu sabia que Tarsila não foi apenas uma grande pintora, não foi apenas mulher do Oswald de Andrade, apenas inspiradora de coisas como uma musa. Ela foi uma articuladora, absolutamente consciente do modernismo, o modernismo passou através do corpo dela, da consciência dela, da artista que ela foi. Não foi à toa que ela se inspirou no movimento Brasil, que é a poesia do Oswald, toda apoiada em Minas e nela, muito claramente na descoberta do Brasil que ela estava fazendo, ela trouxe pro Brasil, na verdade, ela articulou na Europa a ida dos brasileiros e a própria troca com os que estavam lá com os outros artistas. Eles faziam da sua casa, da sua vida, uma sede de reunião de artistas que se articulavam nessa troca toda, todos viram, vomitaram o modernismo, vamos dizer assim, entendeu? Então fica muito do que é a Tarsila e está no Oswald. A gente tem o Abaporu, o quadro que inspirou o movimento e que nasceu dela, ela o fez para o Oswald como presente de aniversário. No primeiro momento ele nem gostou, mas no momento seguinte ele saiu louco com aquilo e percebeu que tinha toda uma leitura ali, sumarizada, de tudo que tinha sido feito. Ele convocou um manifesto, o Movimento Antropofágico. Ela fazia uma leitura do fundo, iconográfica, de todas as ideias daquele conjunto de pessoas. Eu fiquei passada com a importância da Tarsila.
A Helena Weigel, por exemplo, que também vive muito à sombra do Brecht. Ela foi uma articuladora do trabalho brechtiano todo, do movimento que o Brecht provocou, do distanciamento e da forma social de representar que ele propôs em sua obra. Tudo passou muito pelo corpo da Weigel, ela foi, vamos dizer, um violino no qual ele tocou isso, porque ela foi propositiva e mantenedora de tudo isso, ela participou incrivelmente, então ela é uma articuladora de tudo isso. Porque essas mulheres, afinal de contas, não têm a devida autoria reconhecida, entende? Então tanto no espetáculo Tarsila, em que essa proposta vinha muito através de mim, sabe, com a Helena Weigel no Determinadas pessoas, realmente a gente fez isso explicitamente para demonstrar esse conjunto. Ela não era uma mera atriz, não desmerecendo a atriz que ela foi, até por conta disso, pela consciência que tinha ela era um absurdo no palco, uma loucura, uma das maiores atrizes que o mundo já teve. Assim como a Tarsila teve uma enorme consciência que tinha sido a pintora que foi. Essas duas mulheres, especificamente, têm um devido papel a reconhecer nelas da qualidade, porque elas foram maiores do que apenas pintora ou intérprete, tem uma autoria maior que isso e que precisa ser reconhecida.
MCB: Desse grande personagem que é a Tarsila no Eternamente Pagu, você vai para aStelinha (1990, Miguel Faria Jr,), que é um trabalho maravilhoso de cinema.
EG: É o que foi mais reconhecido meu. Não foi o mais difícil para mim, pelo contrário, porque aStelinha sendo uma cantora, tinha toda aquela gama de cantoras que a gente já ouviu desde criança, já passa pelo corpo com uma facilidade impressionante, porque a facilidade com a que eu fiz a Stelinha... Ela vinha pela pele, pela boca, pelo olho, por tudo, ela me tomava conta, não precisava nem me preocupar, porque todo dia quando eu ia pensar na cena do dia seguinte aquilo fluía que era uma beleza. Realmente eu tive muito mais preocupações de técnica, porque eu tinha que fazer uma dublagem perfeita. Então quando terminava o dia de filmagem, eu pedia o auxílio de um músico, que era um rapaz que vinha e que me ajudava a preparar as dublagens. Eu fiquei o tempo todo preparando essas dublagens durante um pouco antes da filmagem, todos os dias, para que elas ficassem perfeitas.
MCB: A Adriana Calcanhoto é que cantou as músicas, não é?
EG: Exato. Era uma voz muito diferente da minha, entendeu? Um jeito de cantar que eu tinha que assimilar como se fosse ela. Foi um trabalho minucioso porque eu sabia que o filme dependia disso, então muito mais tecnicamente foi a parte do esforço, mas a parte da representação veio assim, veio tranquila, veio inteiraça. Foi uma coisa muito gostosa de fazer, e sempre permeada de um humor envolto de uma coisa bacana, um clima muito forte de colegas, a equipe muito bacana, muito legal, foi uma felicidade para mim, eu me senti muito feliz fazendo o filme, muito mesmo. Esse resultado para mim foi muito incrível porque naquela época estava fechando a Embrafilme, foi o último filme que saiu da Embrafilme, não conseguiu nem gozar dos benefícios de divulgação e de distribuição do filme, infelizmente.
MCB: Foi um filme pouco visto na época.
EG: Exatamente, por conta disso.
MCB: Ainda que muito premiado.
EG: Premiadíssimo em Gramado, ganhou todos os prêmios, acho que ganhou todos menos um, uma coisa assim impressionante a premiação do Stelinha.
MCB: Tem uma relação linda sua em cena com o Emiliano Queiroz.
EG: Emiliano, maravilhoso.
MCB: Que faz o presidente do seu fã clube.
EG: É, o Emiliano ganhou o prêmio de Melhor Coadjuvante com duas cenas no filme, a gente teve uma interação perfeita. Ele me disse depois, os dois muito comovidos lá em Gramado, ele me disse “tenho que te dizer que eu fui fazer esse filme achando que não ia ser grande coisa para mim, porque eram duas cenas, muito pouco. E aí cheguei lá e quando eu olhei para você, você estava tão, eu vi tanto aquela mulher, aquela história toda, conheci a existência dela e isso me permitiu entregar a figura do fã”. Eu acho que é a coisa mais linda, que é um cara apaixonado pela sua cantora, né, uma coisa bonita, o fã se transfere totalmente. Nós fizemos realmente duas cenas muito lindas, uma na capela e a outra em uma hora em que ela vai visitá-lo, ele mora no cortiço e está lavando roupa, ela está ali olhando para aquele cara e eles têm uma comunhão. Ela ali vestidinha, arrumada, e ele de tamanco, na sua pobreza. Olha, realmente foi uma coisa muito comovente, a gente fez com muito amor, muito amor mesmo. Para mim eu acho que era quase uma ideia, uma história do Brasil que a gente estava contando.
MCB: E aí, no próximo filme, você chega no cinema impactante do Sérgio Bianchi, A causa secreta (1994).
EG: É que já é uma outra história, totalmente diferente.
MCB: Um outro registro. Como foi participar do A causa secreta, e como foi a relação com o Bianchi?
EG: Difícil, como sempre, porque eu tenho um problema com certas posturas meio autoritárias de criação. Ele não consegue deixar de ser assim porque é assim que ele é, por outro lado ele é muito talentoso, muito criativo, e a gente acabou encontrando um modo de vivência meio complicado, mas que acabou funcionando para o filme, ficou bom. O personagem ali era também estranho, eu também gosto dessa chave, gosto desses universos que não são muito normais, com um outro tipo de olhar, que a gente vê com um outro olhar. Eu gosto de fazer, mas teve um certo esforço de manter uma linha para o personagem, porque oscilava muito o que estava em volta, digamos assim, então foi difícil. Mas de qualquer maneira foi um personagem que aconteceu bacana e também recebeu um prêmio, de Coadjuvante (APCA). O cinema sempre me trouxe muito prêmio, muita alegria, muito resultado bacana, positivo.
Tem o A hora marcada (2000), do Marcelo Taranto. Depois do curta Ressurreição (1994), ele me chamou para fazer um personagem bonito, um pouco fluido dentro do filme, e como o resultado ficou tão bonito, tão bacana de fazer. Eu espero que o Taranto não pare de filmar, um talentosíssimo cineasta que merece uma carreira muito grande, muito frutífera, ele precisa ter a força de mantê-la, porque nada é fácil nesse mundo.
MCB: Você faz uma participação no As meninas (1995, Emiliano Ribeiro).
EG: É.
MCB: Como a mãe da Lorena, que a Adriana Esteves interpreta. As meninas é meu livro de cabeceira da Lygia Fagundes Telles. É um livro muito impressionante que ela escreveu na época da ditadura, muito corajoso, porque ela falava de tortura, de drogas, naquela época. Eu me lembro que você faz a mãe da Lorena.
EG: É, era uma mãe também bastante estranha, bem neurótica mesmo.
MCB: Você atua também no A grande noitada (1997), do Denoy de Oliveira.
EG: É, personagem Nedda, gostei de fazer, personagem bonito. Ali também é uma dramaturgia, uma cinematografia muito autoral do Denoy, um belíssimo roteiro dele, uma espécie de musical, uma coisa que ele faz meio de deboche, de muitas coisas. Um filme forte, muito interessante.
MCB: Você faz também o Por trás do pano (1999, Luiz Villaça).
EG: Que é também uma participação, mas muito interessante. E com a vantagem de poder fazer a Cleópatra, me vestir de Cleópatra para fazer uma cena de Cleópatra foi realmente um luxo. Teve momentos bastante interessantes nesse filme.
MCB: É um filme que trata do universo do teatro.
EG: Do teatro e do cinema, tanto que o cenário foi feito no teatro em Americana, foi lá que o filme foi filmado, o cenário foi feito dentro do palco, muito interessante aquilo.Eu gosto muito de cinema, a descoberta do cinema para mim foi um espanto, quando eu percebi as possibilidades da interpretação no cinema, que foi em Pagu, eu vi que o cinema é quase que uma radiografia do personagem, e que com muito pouco se faz muito. Fiz Mandraketambém, uma participação, mais recentemente, e que é cinema, né, feito como cinema. Eu olhei para o personagem do Mandrake, olhei para aquilo e falei “Meu Deus do céu, o que fazer?”. Era um personagem tão oculto dentro de si mesmo, era dificílima a construção, acho que foi uma das coisas mais difíceis de construir, é como você estar fazendo uma coisa que ninguém está vendo, sabe? Nem mesmo havia a percepção dessa construção permanente e era a única maneira de criá-lo. Eu realmente não tinha muita noção do quadro, só sei de uma coisa, ele foi feito com uma imensa coerência, e que essa coerência foi uma pesquisa muito solitária minha, entendeu? E é esse tipo de personagem que, às vezes, para mim, é um desafio, sabe? Aquele personagem que parece quase impossível de fazer. No cinema são desafios muito fortes mesmo, eu gosto muito do cinema porque ele vai para dentro, e se você for tentar o caminho para fora, normalmente, o resultado não é tão bom não. O cinema é quase uma grande intimidade com a plateia e eu gosto disso, muito, eu gosto disso em qualquer arte, eu gosto no teatro também, e gosto na televisão. Mas no cinema, especialmente. O cinema é o lugar disso, total e absoluto.
MCB: Para finalizar, as únicas duas perguntas fixas do site: qual o último filme brasileiro que você assistiu?
EG: Salve Geral (2009, Sérgio Rezende). Eu gostei muito, muito mesmo, eu vi na televisão. Foi um filme que estava passando e comecei a assistir, de repente resolvi assisti-lo inteiro. Achei um filme muito bem realizado, gostei dele.
MCB: A segunda é: qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você homenageia na sua entrevista?
EG: Pois é, eu quero homenagear a Norma Bengell mesmo, por toda uma trajetória. Assim como o Ademar Guerra teve uma importância fundamental na minha vida, porque me trouxe para o teatro, confiou em mim no teatro, da mesma forma eu acho que tenho que homenagear a Norma Bengell porque ela me trouxe para o cinema pra valer. Ela confiou em mim, me deu um papel que foi marcante em minha vida e isso foi muito bacana, muito bacana. O convívio com a Norma no set de filmagem foi maravilhoso, um clima muito maravilhoso, aquilo se transmitia. O Ademar também tinha um clima maravilhoso no set, muito forte, lindo, como diretor parece que está emanando a obra. Ela tem um registro de cinema muito bacana e de uma postura dentro do trabalho tão séria, com clareza e determinação. A Norma tem uma história no cinema como intérprete e como diretora inegável, que não se deve ser prejudicada por acontecimentos, muito menos pra que ela se torne um bode expiatório de questões que não estão nela, entendeu? Não pode ser depositária de um problema nacional, tá? Problema que está em tudo, não é verdade? Então eu acho que ela ficar pagando sozinha o preço de coisas que dentro das quais ela tem uma parte infinitamente pequena, sabe? Está no todo, não está na pessoa, sabe? Então eu acho que é um erro que se comete em relação à ela, ela tem uma história, tem um padrão de criação, tem muita coisa maravilhosa, então eu homenageio a Norma, até porque ela faz parte da minha história, no sentido de ter me posto nesse trabalho e ter me dado a porta de entrada para o cinema.
Ah, eu fiz uma participação em televisão também como apresentadora.
MCB: Pois é, nós não falamos do TV Mulher.
EG: É, que foi muito forte, também não esperava que fosse tão forte. Na verdade foi concomitante a minha presença no tema, é interessante isso porque aconteceu tudo junto, ao mesmo tempo em que eu escrevi a peça eu fui chamada para o TV Mulher, essas coisas estranhas que acontecem. Depois eu fui fazer o Jornal Mulher, foi em São Paulo também, era totalmente jornalístico, foi na TV Record, ficava três horas e 43 minutos ao vivo todos os dias, fazendo âncora de um programa de jornalismo. O jornalismo me puxou tanto que foi quase uma opção, porque o meu lado social se adequa muito no jornalismo, tanto que eu acabo tendo uma atuação política dentro da categoria, entendeu? Eu fui Presidente do Sindicato dos Artistas, fizemos o Fórum de Cultura, na época do Collor, contra o Collor. Depois eu fui representante da Funarte, aqui em São Paulo. Atualmente estou no Fórum de Cultura e Educação, por uma necessidade mesmo de levantar questões que vão ficando entregue, essa profissão sofre muita pressão e muitas influências. Até para proteger a obra, para proteger o teatro, que a gente quer continuar fazendo, a arte que a gente quer que continue a existir no país, que é a arte do artista, do artista autor, do artista produtor, digamos assim. Porque não pode desaparecer, né? Essa sequência de coisas pra mim, esse lado jornalista existe em mim muito forte, por isso que ele acaba se projetando tanto em uma influência que existe em mim de opções sociais dentro da própria arte, que eu faço nas minhas escolhas de criação, como também nessas atuações paralelas e que também são permanentes na minha vida, não consigo escapar, faço sempre uma opção de não querer ir por aí, mas não consigo escapar de que isso exista na minha história e que me acompanha.
MCB: Essa atuação jornalística também se insere no contexto de um modo muito forte, o próprio TV Mulher foi muito forte naquele período, né, pelas questões da mulher, para o avanço das questões do feminino.
EG: Exatamente, foi um programa muito forte. Depois eu saí exatamente porque é uma opção que você faz em um certo momento, porque você não pode permanecer ali, eu poderia naquele momento ter tomado um outro rumo, entendeu, poderia ter ido para o jornalismo, ter ido definitivamente, porque também faz muita parte da minha personalidade, mas que não é a minha escolha. A arte me realiza muito mais plenamente do que qualquer outra opção.
Outra coisa que fiz muito em certa fase da carreira foram os comerciais, cada fase tem uma tônica e isso foi por volta dos anos 80, anos 90. Especificamente, acho que no começo de 80, 81, 82 até os anos 90. Eu fazia muitos comerciais, mas uma trilogia, em especial, foi muito marcante, muito premiada, inclusive. Tinha um cara chamado Dudi, um grande diretor de comerciais, fiz várias coisas com ele. Nesses três comerciais, que era Shell Banheiros, Shell Sauna e Shell Estrada, tinha um personagem muito marcante que era uma dama de vermelho, que ele chamava e que sempre entrava perguntando “qual é seu carro, álcool ou gasolina?”. Entrava em um banheiro masculino, depois em uma sauna masculina, e em uma estrada pedindo carona. Então era muito interessante esse trabalho, foi bastante marcante.
Mas eu não fiz só isso não, eu fiz vários comerciais, eu gostava muito de fazer. Eu estou citando isso porque foi um aprendizado de linguagem cinematográfica, que é uma linguagem muito sucinta na verdade, entendeu? Ele tem uma lógica de agilidade de velocidade e informação muito interessante, de passar muita coisa em pouca coisa. Se você não preenche aquilo, realmente, às vezes, o que você tem para fazer tem segundos, e tudo tem que estar ali acumulado naqueles 30 segundos. Esse aprendizado cinematográfico, importante em termos de linguagem, eu tive um grande treinamento através dos comerciais, porque o comercial é muito rápido e você tem que encaixar muitas informações para que ele consiga atingir um significado. Então eu acho que é uma das coisas, em termo de cinema, que foi muito importante como um treinamento, como uma linguagem, até como um resultado, porque desses três comerciais, por exemplo, eu tenho orgulho, porque ficaram realmente muito interessante, muito bom.
MCB: Foram premiados, inclusive, não é?
EG: Exatamente.
MCB: Porque os comerciais de hoje são muito voltados para o varejo, para o varejão de supermercado. Antes havia um trabalho mais precioso, home ainda tem, mas no geral é bem diferente.
EG: Tinha coisas muito lindas, eu me lembro de um de uma panela de pressão que eu fiz, que ela explodia. Sempre tinha uma coisa muito bacana, sabe, muito bem colocada e muito bem realizada. Não era uma coisa feita de qualquer jeito não, eu me lembro que esses comerciais foram gravados nos estúdios da Vera Cruz, a gente ficava dias fazendo, era de uma sutileza, tudo com um excelente acabamento, uma coisa muito bonita mesmo, muito bem realizada. Foi típico, característico dessa fase mesmo.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada em abril de 2013.
Free Music - Embed Audio - Entrevista Ester Goes

A atriz Esther Góes nasceu no dia 4 de fevereiro, em São Paulo (SP). Politizada e notável atriz, desde a década de 1970 ela ilumina o teatro, a televisão e o cinema com seu talento. A formação foi na Escola de Artes Dramática – EAD, da USP, onde conhece o diretor Ademar Guerra, que a dirige em Hair, seu primeiro trabalho profissional: “(Estreei) no Hair, em 1970, logo após a saída da Escola de Arte Dramática, chamada pelo Ademar Guerra, que foi realmente meu padrinho nas artes. Porque ele me conheceu lá fazendo América, hurra!, que foi nosso espetáculo de formatura e que tinha muita gente conhecida, eram os dois últimos anos da escola. Era com um autor muito em voga (Jean-Claude von Itallie), já criando aquele espetáculo aberto diferenciado dos anos 70. Ele foi fazer essa experiência, resolveu fazer com alunos, até porque isso fortalecia para a montagem do próprio Hair, que ele ia dirigir a seguir.”
Depois, integra o Oficina, grupo de referência na história do teatro brasileiro: “O Salto para o Salto, como era chamado. Era um Oficina que vinha de toda uma metamorfose interna, após dificuldade de harmonizar tendências internas, o grupo tinha caminhado para um espetáculo novo, mas através da remontagem de três de seus maiores espetáculos, que foram Galileu, O rei da vela e Pequenos burgueses. Então houve uma remontagem desses três espetáculos para fazer uma viagem pelo Brasil, que de fato aconteceu e na qual eu passei a fazer a Tatiana de Pequenos burgueses, a Heloísa de Lesbos de O rei da vela, e a Verônica de Galileu Galilei”.
Ao sair do Oficina monta com Renato Borghi, com quem havia se casado, um novo grupo: “A partir de então fizemos o Teatro Vivo. O Renato começou com O que mantém o homem vivo, um espetáculo que também durou vários anos e que já era um trabalho muito autoral nosso sobre a obra de Brecht. Daí pra frente o teatro foi um caminho forte, um caminho importante, um caminho de raiz mesmo, que tem a grande vantagem de ser seu mais do que outras coisas”.
Esther Góes estreou em novelas na Tupi, em A volta de Beto Rockfeller, e depois tem momentos memoráveis em outras produções, como O espantalho, Meu destino é pecar, Elas por elas e Direito de amar: “Na Globo eu fiz Direito de amar, uma das novelas mais amadas do mundo inteiro, eu nunca vi uma coisa repercutir dessa maneira naquela época. Eu tinha feito o Stelinha, o filme, e fui para Cuba para um Festival de Cinema. Eu cheguei de madrugada e tinha uma multidão no aeroporto para me encontrar, para me receber, por causa da Eleonor, que era um personagem que exalava justiça, era uma mulher de uma dignidade, de uma justiça, e que bateu em cheio em Cuba, o temperamento, o povo, do jeito que ele é. Então a Eleonor era o personagem mais amado da novela em Cuba, fez um tremendo sucesso, foi muito legal aquilo”.
A estreia no cinema é em uma participação em Uma mulher para sábado, mas a primeira grande personagem vem com Eternamente Pagu, de Norma Bengell, em que interpreta Tarsila do Amaral: “Era o meu primeiro trabalho assumidamente em tela grande, era um papel que era muito instigante, mas, ao mesmo tempo, muito difícil você fazer um personagem que existiu. Porque sua fidelidade tem que ser máxima, você tem que retratá-lo o mais fielmente possível, você não pode traí-lo, você tem que ver como era, porque aquilo é uma vida, existiu, e você está fazendo o depoimento dela. Eu tenho uma lealdade louca com o personagem que existiu”. Depois, protagoniza Stelinha, filme que lhe valeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado: “É o que foi mais reconhecido meu. Não foi o mais difícil para mim, pelo contrário, porque a Stelinha sendo uma cantora, tinha toda aquela gama de cantoras que a gente já ouviu desde criança, já passa pelo corpo com uma facilidade impressionante, porque a facilidade com que eu fiz a Stelinha... Ela vinha pela pele, pela boca, pelo olho, por tudo, ela me tomava conta, não precisava nem me preocupar, porque todo dia quando eu ia pensar na cena do dia seguinte, aquilo fluía que era uma beleza. Realmente, eu tive muito mais preocupações de técnica, porque eu tinha que fazer uma dublagem perfeita”.
Esther Góes conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro por telefone de sua casa em São Paulo, em abril de 2013. Ela fala sobre sua formação, sua trajetória, os trabalhos nos palcos, as novelas, os filmes, a importância do teatro de autor e outros assuntos.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começar, origem, data de nascimento e formação.
Esther Góes: Eu nasci em São Paulo, capital, no alto da Lapa, no dia 4 de fevereiro. Eu me preparei muito para as áreas sociais, característica da minha geração; Comecei a Faculdade de Serviço Social, e que era para mim o meu objetivo naquele momento, em termos de carreira, que seria uma carreira muito ativa do que uma carreira teórica. Na época estava muito em moda Ciências Sociais e Filosofia, e, e na verdade, Políticas. Eu preferi o serviço social porque era a minha característica mesmo, depois interrompi a faculdade, tranquei a matrícula que nunca mais destranquei e fui fazer, porque me chamou forte demais, a Escola de Arte Dramática, da Universidade de São Paulo - EAD. Me formei e comecei a trabalhar em artes. Fui jornalista também bastante, depois também fiz uma segunda opção, e também a favor das artes, aí abandonei o jornalismo e continuei na carreira artística.
MCB: Sua estreia é no Hair, não é isso?
EG: No Hair, em 1970, logo após a saída da Escola de Arte Dramática, chamada pelo Ademar Guerra, que foi realmente meu padrinho nas artes. Porque ele me conheceu lá fazendoAmérica, hurra!, que foi nosso espetáculo de formatura e que tinha muita gente conhecida, eram os dois últimos anos da escola. Era com um autor muito em voga (Jean-Claude von Itallie), já criando aquele espetáculo aberto diferenciado dos anos 70. Ele foi fazer essa experiência, resolveu fazer com alunos até porque isso fortalecia para a montagem do próprioHair, que ele ia dirigir a seguir. Daí ele aproveitou grande parte desses formandos no próprio espetáculo, não logo de cara, porque nós ainda estávamos nos formando, e o Hair já entrou em cartaz. Ele tinha esse acerto com o Dr. Alfredo Mesquita, que ainda estava na escola, foi o [ultimo ano do Dr. Alfredo, e de que ele não tiraria ninguém da escola para a vida profissional antes da hora, então ele cumpriu esse acordo. Logo que o Hair estreou, nós nos formamos no final do ano, fomos os primeiros a entrar já fazendo, substituindo papéis importantes. Eu entrei, o Carlos Alberto Riccelli, que estava na escola também nessa época entrou, a Cléo Ventura, o Ney Latorraca. Nós estávamos nesse último espetáculo dele, então vários alunos entraram e participaram ativamente do Hair durante muito tempo.
MCB: E você já fazendo personagens importantes no Hair, não é isso?
EG: Entrei fazendo a Jeanie, a gravidinha, entrei de sola, né, porque quem estreou nesse personagem foi a Helena Ignez, depois teve a Regina, não sei o sobrenome dela até agora, ela foi pra Bahia no meio, na época, era nos anos 70, né? As pessoas resolviam ir pra algum lugar de repente assim, então a Regina mandou dizer para o Ademar que estava indo pra Bahia e aí ele me chamou correndo. Ela era substituta da primeira Jeanie, então já era um número dois o papel. Eu entrei já entrei fazendo a grávida e tive que ensaiar isso em uma tarde, entrei em um dia e estreei no mesmo dia, à noite. Eu aprendi a música, aprendi a roda do Aquarius, a roda coletiva, enorme, que não podia errar o passo. Fiz com a Marika Gidali, e aprendi a música com o Paulo Herculano. Fiquei vários meses fazendo a Jeanie, e depois fazendo a Sheila, que era a personagem revolucionária. Eu já entrei no Rio, então, ao todo, eu fiz nove meses deHair.
MCB: Que foi um acontecimento na época.
EG: Foi, foi um grande acontecimento. É interessante porque, ao mesmo tempo, nós éramos muito mais radicais na época, enquanto formação mesmo, política. Então transformar em musical aqueles conteúdos tão importantes, tantas vidas envolvidas, gente que não assumia ir para a guerra, e uma geração que mudava de contornos, que assumia a contracultura, eram coisas sérias que estavam acontecendo. Transformar em musical para nós, ao mesmo tempo, era muito interessante, muito gostoso, muito bom. Tinha um lado assim que a gente achava que era muito superficial, para estar como perfumaria, um tema grave, um tema importante, um tema da geração, o tema da geração, né? Enfim, eu estou me lembrando do que dizíamos e do que pensávamos na época, tratado como entretenimento, uma coisa que era mais que isso, era o sentimento que a gente tinha, uma parte tinha, outra parte não tinha, estava tudo bem e pronto. Mas o espetáculo foi muito ousado para a época, e tinha o tal do nu, então tinha toda uma coisa em torno dele, foi um espetáculo muito bem-sucedido, ficou anos. Depois teve mais trocentas montagens, mas elas nunca chegaram a ser, pelo menos, a representatividade de uma geração como o primeiro teve, porque o primeiro era isso, feito por um diretor que tinha essa noção e que buscava isso, tanto que o Ademar não pôs em cena nada que fosse nenhum modismo hippie, ele não fez nenhuma concessão, nós éramos uns hippies bem pobres em cena, a pobreza era muito mais a nossa expressão, a simplicidade máxima. As coisas que eram postas como adereço, essas coisas eram bonitas, elas eram hippies, mas eram enxutas, não tinha arrumação, não tinha enfeite naquilo, sabe?
MCB: Não tinha cosmética.
EG: Não. A gente até se ressentia um pouco, às vezes, qualquer coisa que você pusesse a mais ele tirava. Comigo, especificamente, eu queria sempre colocar aquela boa fita no cabelo, adorava aquela fita que eles usavam, e ele mandava eu tirar todas as vezes, toda vez ele mandava tirar, eu botava e ele mandava tirar, porque não queria hipongar, sabe? O meu cabelo cresce muito e ainda mais com tanto suor de dança como tinha, porque era um espetáculo de mais de três horas de duração. A gente fazia quantas sessões por semana? Uma na terça, uma na quarta, duas na quinta, uma na sexta, duas no sábado e duas no domingo, nove sessões por semana, então você pode imaginar como tudo ficava tão malhado, e aí, no palco, o cabelo ficava imenso, e ele gostava era disso. Ele tinha uma noção estética melhor que a minha, evidentemente, ele queria exatamente aquele cabelo enorme, inchado de suor. entendeu? Aquilo que era bonito para ele, e eu queria botar a minha boa fitinha pendurada de lado e tal. O Ademar entendeu, passou o máximo que pode, o essencial da coisa, ele compreendia o que estavam fazendo. As montagens a partir daí, do Hair, ficam voltadas para o passado, para um determinado momento, mas ainda não é aquele momento, a vivência daquele momento.
MCB: Essa sua estreia no teatro é tão forte que você jamais abandonou os palcos, não é? Como você chega ao Oficina?
EG: Foi interessante, porque eu não sabia muito bem o que viria a seguir, quando eu saí do Hair, eu saí, eu fui operar a amígdala porque ela estava praticamente naufragada de tanto cantar, representar, dançar tudo, junto ao mesmo tempo, daquele jeito insano, era quase uma insanidade o esforço que a gente fazia. Na verdade, eu recebi um convite do Fernando Peixoto, que estava remontando o Don Juan, ele me chamou para fazer essa remontagem, em que estava também o Raul Cortez. Então eu fui para dentro do Oficina, para fazer esse espetáculo com ele, estava lá o Flávio Santiago também. Esse espetáculo foi uma remontagem, eu achei ótimo fazer, até porque minha formação toda era teatro, teve até uma possibilidade de eu fazer outros musicais, mas eu não quis, não quis me dedicar a isso, não quis ir por essa vertente. Então eu fui fazer o Don Juan no Oficina, e lá é que eles me convidaram para fazer o que vinha a seguir.
MCB: No Oficina você faz grandes espetáculos.
EG: O Salto para o Salto, como era chamado. Era um Oficina que vinha de toda uma metamorfose interna, após dificuldade de harmonizar tendências internas, o grupo tinha caminhado para um espetáculo novo, mas através da remontagem de três de seus maiores espetáculos, que foram Galileu, O rei da vela e Pequenos burgueses. Então houve uma remontagem desses três espetáculos para fazer uma viajem pelo Brasil, que de fato aconteceu e na qual eu passei a fazer a Tatiana do Pequenos burgueses, a Heloísa de Lesbos do O rei da vela, e a Verônica do Galileu Galilei. Aí também já se passou a criar um novo espetáculo e se fez um filme do O rei da vela, isso foi tudo meio junto. Foi um trabalho muito grande mesmo o do O rei da vela, muito menos do que de fato eu filmei, porque o filme foi alterado em termos de edição, e o original, que é a peça inteira feita, esse original nunca foi exibido porque não interessava exibir o original, interessava a obra já editada, com outro tratamento. De fato já era um produto final com uma outra cara de Oficina, com uma outra proposta, digamos, que não era especificamente apenas o O rei da vela, era uma versão, e na qual eu tenho alguns momentos apenas, eu não tenho muita coisa. Mas foi aí a primeira vez que eu fiz cinema.
MCB: Que vinha já com essa formação forte, social e política da época. Você estava no olho do furacão, né, porque o Oficina é, ainda hoje, a referência de um teatro forte, com esse contorno político. Como foi estar ali naquele meio, junto daquelas pessoas todas e fazendo aqueles trabalhos? Como foi a relação com a censura?
EG: Pois é, a censura nos acompanhou durante todos os anos. Eu me lembro que até 74 fizemos espetáculos com censura, foi muito tempo, até os anos 80 ainda havia, havia espetáculo com censura. Foram dez anos disso, na verdade. O Oficina me ensinou muitas coisas com as quais eu concordei e muitas coisas que eu discordei radicalmente mesmo, então não foi uma relação tranquila não, foi muito difícil, na verdade foi uma relação que tinha com grande dificuldade mesmo. Com muita coisa eu concordava, inclusive, a própria postura contra a ditadura de todos nós, várias ideias inovadoras, formas de representar. Aprendi muitas coisas, muitas coisas mesmo eu assimilei e ficaram para mim para a vida inteira. Mas também de outras coisas eu discordei bastante, eu achava que tinha sempre uma postura um pouco autoritária, sempre discordei, e a partir de um certo momento foi incrível continuar naquele caminho, foi quando eu me afastei do Oficina. Eu saí assim que o Ariel (Borghi) nasceu, em 72 eu saí, eu não fiz o Tchekov, eu comecei a ensaiar e decidi que não dava mesmo, era inconciliável naquele momento . E também já era para mim um caminho novo, não queria participar mais de um grupo daquela maneira.
MCB: Você se casa com o Renato Borghi naquela época, não é isso?
EG: Exatamente. E para mim, a partir então dessa questão do que é grupo, do que é comunidade e o que é companhia foi ficando muito claro, eu não desejava viver em comunidade em primeiro lugar, eu desejava viver em uma situação de família, que era muito mais natural para mim. Na época, essa coisa de comunidade estava muito em voga, né, a tendência, eu não me sentia confortável nessa relação. E depois a própria coisa do grupo também, eu achava muito polêmico também, na verdade os papéis eram confusos, não se sabia o que esperar, era todo um poder disseminado que acaba pertencendo a um ou dois. Então eu preferia que fosse isso, uma relação mais clara, menos confusa, menos nebulosa. Nessa discordância que eu tive eu encontrei mesmo o que eu acho que é o formato ideal para o teatro, que é a equipe, em que os papéis existem, as responsabilidades estão de fato distribuídas. Em uma relação mais clara, me parece, fica com uma responsabilidade real ali, não vai virar família, nem precisa virar uma super relação confusa, de uma proximidade confusa, que você já não entende o que é. Não me parecia boa em nenhuma circunstância, quer dizer, não me parecia boa em momento algum, nem mesmo para a arte. Eu até hoje acho que um corpo que funciona com clareza é um corpo saudável sempre, então pode ser companhia, grupo, desde que ele tenha papéis e responsabilidades definidas, que as pessoas estejam jogando um jogo aberto. Tanto faz pra mim o nome que se dê, mas eu acho que o formato que me agrada e é no qual eu gosto de conviver, eu gosto de estar. Eu aceito liderança que seja legítima, mas não aceito autoritarismo, não acho legítimo. As diferenças e nuances importantes devem preservar para que as pessoas estejam bem e que o produto seja bem feito, que isso resulte em uma coisa boa.
A partir de então fizemos o Teatro Vivo. O Renato começou com O que mantém o homem vivo, um espetáculo que também durou vários anos e que já era um trabalho muito autoral nosso sobre a obra de Brecht. Daí pra frente o teatro foi um caminho forte, um caminho importante, um caminho de raiz mesmo, que tem a grande vantagem de ser seu mais do que outras coisas. Acho que aí é mais nosso até certo momento, mais do que é agora, né, hoje já está muito mais complicado. Mas o dado autoral que o teatro nos proporciona é a coisa importante, que libera o artista pra obra e isso é muito legal. Você tem muito menos isso no cinema, e você tem muito menos isso na televisão, evidentemente.
MCB: Você teve problema com a ditadura?
EG: Nós tivemos a censura sempre, tivemos momentos mais complicados, momentos de grande repressão durante a viagem com o Oficina, a gente sempre tinha alguém meio que viajando conosco, e que estava ali, evidentemente, para exercer uma vigilância. Teve várias coisas desse tipo, sempre. Publicamente, nós tínhamos um papel bem definido contra a ditadura na nossa obra, no nosso trabalho, a gente sempre declarou isso o tempo todo. Então tínhamos o julgamento, metáfora, evidentemente, no teatro, durante muitos e muitos anos, até o ponto que passou a ser quase uma segunda linguagem, já estava suposto que você falava através da obra porque não podia se falar claramente o que se passava nela. Esse foi um jogo permanente, durante muitos anos a gente conviveu com medo. Eu me lembro que estávamos estreando no dia em que o Herzog foi assassinado, estávamos estreando a comédia do Alan Ayckbourn,Absurda pessoa, e tivemos a notícia da morte, do assassinato, né. Foi um momento muito difícil, terrível mesmo, então tinha tudo isso durante a ditadura.
MCB: Você ficou no Oficina durante quantos anos?
EG: Fiquei dois anos, 70, 72.
MCB: Depois, quando você montou com o Renato o novo grupo, a nova companhia durou quanto tempo?
EG: Durou vários anos também, nós fizemos várias coisas, fizemos uma remontagem de Pequenos burgueses, que foi muito bem, fizemos Absurda pessoa, que foi muito bem, fizemos Mahagonny, também foi muito bem. Até o momento em que a gente se separa. Fizemos ainda algumas coisas juntos, mas depois, fatalmente, cada um seguiu o seu caminho.
Eu assumi a minha própria companhia e que está aí até hoje, que é a Ensaio Geral, e que agora tem o Ariel, temos essa companhia juntos, Companhia Ensaio Geral. Mas no percurso muitas coisas foram feitas, e a conquista do autoral foi a coisa mais importante durante todo esse percurso no teatro. Eu cito algumas peças a partir do que eu fiz outras incursões, tanto na dramaturgia como depois da direção, entendeu? Então deu resultados, como o Não tenha medo de Virgínia Woolf, que é um espetáculo que eu adorei fazer, cujo roteiro é uma parceria minha com o Elias Andreato. Inclusive, uma das primeiras direções dele também tinha feito um texto meu sobre a questão da mulher, que é uma coisa que eu desenvolvi muito naquele período em que estava em muita evidência essa questão. Era um texto constituído de pequenas esquetes sobre situações femininas internas e externas, funcionais e tudo mais, que era quase um depoimento, um testemunho. Foi um trabalho muito interessante que a gente fez, texto meu, dramaturgia minha. Depois teve a montagem de Santa Joana, foi um momento muito importante também, com direção do José Possi (Neto). Fizemos, mais recentemente, aHécuba, eu e o Ariel. Fizemos Determinadas pessoas – Weigel, também dramaturgia minha e dele, com pesquisa nossa, durante dois anos preparamos esse espetáculo. Recentemente eu dirigi A coleção, e ele atuou. Então temos uma parceria bastante desenvolvida, e caminhando em termos de ampliação dessa parceria para obras maiores e com direção implícita, com dramaturgia ou influência dentro da obra em termos autorais bem claras, desenvolvidas ali pra valer.
MCB: Você trabalhou com seu marido durante um tempo e agora com seu filho. Como é trabalhar com o Ariel?
EG: Pois é, essa parceria é possível porque a gente tem uma grande sintonia, a gente vê as coisas, a nossa visão artística, as nossas crenças ou concepções se conjugam muito bem. Eu e o Ariel temos essa facilidade de estar junto, a gente não discorda na criação, se discordasse não seria possível. Claro que uma relação muito próxima às vezes facilita e às vezes dificulta, né, então nós temos consciência disso, nós temos uma paciência muito com esse lado, a gente sabe que ele existe, está presente, é impossível não existir. Mas o lado artístico se conjuga sempre e com muita facilidade, então só acrescenta e só nos protege, porque você sabe que dois é sempre muito bom, dois é forte, dois sempre soma, sempre afirma entendeu? Se você está sozinho, você vai sempre precisar, para constituir qualquer coisa, de um parceiro, ele pode ser um simples parceiro ou pode ser seu amigo, pode ter sido seu marido, pode ser seu filho ou pode ser seu irmão, tem vários irmãos que constituíram obras conjuntas. Porque tem isso, o dois, sabe, o dois é muito forte. Então a gente se protege muito, quando tem alguém em quem você pode confiar plenamente é um nível pessoal e, ao mesmo tempo, uma conjugação artística muito forte. Isso é o que estamos vivendo e, para nós, é muito caro, é um tesouro mesmo poder ter isso, sabe, entre nós dois. Eu gosto muito do que ele faz, ele confia no que eu faço, então podemos trocar papéis, ele me dirigiu em Determinadas pessoas, que nós também fizemos juntos o roteiro. Eu o dirigi em A coleção, e eu acho que a gente fazer um Pinter (Harold Pinter) hoje é de uma coragem, né?
MCB: Isso que eu ia te perguntar: fazer teatro hoje é mais difícil?
EG: É mais difícil, muito mais difícil, porque o que está em voga muito é a indústria, uma indústria de entretenimento muito forte. A indústria do entretenimento entrou muito forte a partir das leis de incentivo né, não vou nem discorrer sobre isso porque eu acho que todo mundo sabe os prós e contras, todo mundo já deve ter mais ou menos compreendido. Então é um mercado que se amplia. A nossa intenção, até quando a gente fundou agora o Fórum de Cultura e Educação, é que este mercado que se amplia não sufoque o outro, né, que é o teatro de prosa, o teatro do autor, do dramaturgo. O teatro que conjuga cultura e educação, que tem um outro tipo de educação, um outro tipo de mensagem mais profunda que leva reflexão, teatro que é o nosso teatro, teatro que a gente quer fazer, que não abre mão de pesquisar os autores. Esse teatro não pode ser sufocado. Evidentemente, quando entra no mercado uma grande quantidade de recursos econômicos em uma indústria de entretenimento carregada de mídia por tudo que é lado e avassaladora , ela passa, de qualquer maneira, a influir no sentido de reduzir, de rebaixar a importância do teatro anterior que vinha, o teatro que vinha se desenvolvendo, e que é o que vem para nós lá de trás, desde antes do TBC, desde lá trás. Toda a história do teatro brasileiro, e que foi um teatro de discussão filosófica, social, política, um teatro de autores, um teatro corajoso no sentido intelectual, esse teatro não pode morrer porque a morte dele é a própria morte do teatro, certo? Então ele não pode ser substituído por uma indústria de entretenimento, como muita gente acredita que se possa e deva fazer, entendeu? Nesse sentido, hoje em dia é muito mais difícil fazer teatro sim, uma indústria de entretenimento que se coloca agora dessa maneira avassaladora, com muitos recursos, ela acaba influindo sobre a relação do próprio público, que é todo sugado por ela, é um aparato de mídia fantástico levando e, evidentemente, é uma coisa muito passível, muito atraente, e que acaba substituindo outros valores. Então através do Fórum de Cultura e Educação a gente está insistindo na necessidade de sobrevivência do espetáculo de teatro ligado à cultura e à educação.
MCB: Agora, sobre o audiovisual, vamos primeiro falar de televisão. Você começa na novela A volta do Beto Rockfeller, não é isso?
EG: Sim, isso foi lá atrás, nem me lembro que ano era, só sei que eu fiz uma participação assim que a gente saiu do Oficina, portanto deve ter sido em 73.
MCB: Sim, em 73.
EG: Eu acho que ainda fui chamada pra fazer um outro papel, que eu ia fazer na sequência, eu ia fazer televisão direto na Tupi, e de repente aquilo fechou. Já tinha provado roupa e tudo, e, de repente, aquilo tudo sumiu, desapareceu, foi uma pena mesmo, foi embora de repente. Eu voltei a fazer televisão, eu fiz um pouco como apresentadora na Record, em um jornal durante um tempo, até começar a fazer novela, que foi O espantalho.
MCB: Em que você fazia a Geni.
EG: Da Ivani Ribeiro. Pois é, Ivani gostava muito de mim, ela me chamou pra fazer essa novela, gostei muito de fazer.
MCB: Eu acho que se fala tanto e justamente da Janete Clair, mas acho que se fala pouco da Ivani Ribeiro.
EG: É, e que foi importantíssima. Mulheres de areia não era dela?
MCB: Isso, era dela.
EG: Ela desempenhou aqui em São Paulo um papel importantíssimo.
MCB: Ela veio do rádio.
EG: Vem do rádio, pois é, e era o folhetinho bacana, de excelente qualidade, é uma qualidade que elas tiveram, eles todos, lá atrás, folhetins de raiz, que iluminaram tudo que está aí, é como se esse mercado ainda vivesse dessas primeiras criações, se apoiam nelas.
MCB: É curiosa a sua trajetória com esse forte acento político, porque mesmo na televisão você vai para o Beto Rockfeller e depois para O espantalho, que, não sei se você se lembra, era uma novela que fazia denúncia das poluições da praia.
EG: É, e que foi com o Jardel (Filho), Nathália Timberg, estávamos todos lá.
MCB: Você passa por várias emissoras, TV Cultura, Bandeirantes, Globo.
EG: Record.
MCB: Na Globo, a primeira eu acho que foi Te contei?, não é?
EG: É, do Cassiano.
MCB: Você vai fazer dele também depois uma novela que eu adoro, que é Elas por elas.
EG: Também adoro, foi muito gostosa aquela novela, muito gostosa mesmo.
MCB: E que tinha um elenco de atrizes fabuloso, né, era Eva Wilma, Sandra Bréa, Joana Fomm.
EG: Aracy (Balabanian), que era a minha antagonista. Tinha o menino que faleceu.
MCB: Lauro Corona.
EG: Puxa vida, a Tássia Camargo, muito querida, fazia a minha filha.
MCB: Você teve sucesso popular nessa novela.
EG: É, eu tive bastante, eu tive um grande sucesso popular no Elas por elas, foi realmente um sucesso muito grande. A personagem se chamava Adriana, uma veterinária. Tinha uma troca de filhos, a Tássia, que estava comigo, na verdade era filha da Aracy, e o Laurinho seria o meu filho, que estava com ela. Esse era o plot da novela do Cassiano. Era uma personagem muito doce, uma veterinária, vivia cercada de cachorros por todos os lados, gosto muito dos cachorros e eles de mim, mas a gente se descobriu amigos mesmo foi naquela novela, porque a cachorrada dominava. O público gostava muito dessa personagem, muito, muito, muito, era um personagem muito amado. Em uma pesquisa feita, o Gabus me chamou e falou que ia me dizer porque ninguém ia me dizer “seu personagem é o personagem mais amado da novela, a pesquisa deu”. Eu fiquei muito contente com isso porque era um personagem muito doce.
MCB: Você faz na Globo um outro trabalho que eu adoro, que é a minissérie Meu destino é pecar, em que você faz a Lídia.
EG: Foi direção do Ademar Guerra, o Ademar que me chamou.
MCB: Era um personagem ambíguo, aquela relação dela com a Lucélia Santos, a Leninha, eu assistia e ficava muito impressionado com aquela ambiguidade que havia ali por trás daquela relação.
EG: Era louca, era muito louca, personagem louco, misteriosamente louco. Eu me lembro dela, me lembro das roupas dela, foi quando eu fui vestida pela primeira vez pela Beth Filipecki. A gente nunca mais se largou, a Beth Filipecki faz todos os meus trabalhos de teatro, eu chamo a Beth e ela faz todos, entendeu? Uma figurinista muito capacitada, especialista, adoro o trabalho dela. Foi ali que a gente se encontrou, ela vestia daquela maneira espetacular, muito bacana. Eu me lembro que era um personagem destrambelhado mesmo, e, também, mais uma vez eu e o Ademar brigamos por causa do cabelo, ele queria de um jeito, eu queria de um outro, e ele falou “olha a besteira, você só pensa besteira”. As coisas do Ademar, e aí eu tive que fazer do jeito dele, e realmente ele estava certo. Fiz muitas coisas Cultura também, no tempo que eu estive lá, eu fiquei dois anos na TV Cultura, fiz um trabalho lindo, lindo, O fiel e a pedra.
MCB: Em que você fazia a Teresa.
EG: Lindo, nossa que lindo aquilo, meu Deus. Fiz um trabalho que ficou um clássico lá na TV Cultura, foi reprisado recentemente, que foi o Electra, foi um trabalho maravilhoso do Ademar, maravilhoso, muito bonito mesmo.
MCB: Você faz também uma novela muito singular que é Um homem muito especial.
EG: Fiz, essa foi na Bandeirantes. Ah, na Globo eu fiz Direito de amar, uma das novelas mais amadas do mundo inteiro, eu nunca vi uma coisa repercutir dessa maneira naquela época. Eu tinha feito o Stelinha, o filme, e fui para Cuba para um Festival de Cinema. Eu cheguei de madrugada e tinha uma multidão no aeroporto para me encontrar, para me receber, por causa da Eleonor, que era um personagem que exalava justiça, era uma mulher de uma dignidade, de uma justiça, e que bateu em cheio em Cuba, o temperamento, o povo, do jeito que ele é. Então a Eleonor era o personagem mais amado da novela em Cuba, fez um tremendo sucesso, foi muito legal aquilo.
Um homem muito especial era a história de um vampiro, a ideia foi do Rubens Ewald Filho, ele tinha começado a fazer na Tupi, mas ela fechou, e aí a Bandeirantes resolveu fazer, no tempo que o Avancini estava lá. Ele foi fazer, começou a novela, mas aí brigou com a casa. Daí veio um outro autor, eu não vou me recordar o nome, que mudou a novela toda, em vez de vampiros e mistérios, passou a ser uma novela meio sensual, então mudamos todos para a extrema sensualidade, tinha banho de banheira, aquelas coisas todas. Eu fazia a Nenê, que era um personagem que vinha de Paris, era meio assim uma mundana parisiense que chega com um cachorrinho poodle do lado. Me lembro da cena da estação lindíssima, eu toda de branco e chapéu, e com um cachorrinho poodle no braço descendo no fog. Aquilo então evoluiu, mas aí ele brigou também e quem foi fazer a novela foi a Consuelo de Castro, que resolveu fazer uma outra versão, política, em que todo mundo virou opressores e oprimidos. O vampiro virou uma espécie de Che Guevara, e o meu personagem virou uma revolucionária, tinha que distribuir sopas aos pobres. Um dia apareceu no meu script que eu tinha que entrar de camponesa. E daí para frente eu seria uma camponesa. Bom, aí foi demais, foi a primeira vez que eu me rebelei totalmente contra uma ideia. Eu falei “não, impossível, essa mulher não pode evoluir de isso pra isso, impossível, não tem condição”. Então eu realmente adequei o meu personagem à situação da novela, mas permaneci de casaco de pele e as joias até o fim... rsrs. De forma que eu distribuía sopa aos pobres nessa situação, de salto e de casaco de pele rsrs. Eu só sei que no final das contas aceitaram que a Nenê, por acaso, se tornasse uma revolucionária assim, chique, de casaco de pele e tudo mais. Foi uma novela muito maluca e inesquecível, no final eu me diverti muitíssimo. Essa novela a gente nunca vai tirar da cabeça de tão louca que ela acabou sendo, e o público gostava, ficava assistindo aquela piração toda... rsrs.
MCB: Você tem feito muitos trabalhos na Record. Você acha importante circular pelas emissoras? É mais campo de trabalho para o ator, do que ficar presa à uma emissora só?
EG: Acho também que você está bem onde te querem, né. Por exemplo, durante muito tempo eu mesma fazia muita triagem, não fazia novela no SBT porque a Globo me chamava sempre e tal, então durante muito tempo eu fiz muitas novelas lá. De repente teve uma pausa, a Record me chamou e eu fiz três novelas em sequência, eles me contrataram e eu me identifiquei com o trabalho dessa emissora, que esta tentando construir uma história. Felizmente os três trabalhos que eu fiz lá, Prova de amor, Amor e intrigas, em que eu fiz uma vilãnzona pela primeira vez, adorei fazer, Dorothéa, que foi para mim muito legal porque ninguém esperava o sucesso que ela foi, e depois a Bela, a feia, que foi muito bem também. Então fiz três novelas em sequência e agora estou aguardando para ver o que vou fazer, estou por algum tempo sem fazer novela, daqui a pouco aparece.
MCB: Seu primeiro filme que chegou às telas foi o Uma mulher para sábado (1971, Maurício Rittner).
EG: Foi lá atrás, eu estava na EAD e me chamaram para fazer uma participação, para mim foi uma coisa fantástica porque de repente, eu era estudante ainda, eu peguei e fui fazer. Fiquei muito feliz em participar daquele filme.
MCB: Você fazia uma enfermeira.
EG: É, uma enfermeira, é em um hospital, eu nunca tinha feito cinema, nem nada, foi muito antes do Oficina. Na verdade, foi a primeira coisa que eu fiz, fiz alguns outros papéis pequenos. No cinema. o que eu realmente considero um papel de cinema, fora o O rei da vela (1971/82), que eu considero teatro e cinema, um cinema de teatro, mas que de qualquer maneira valeu, foi um trabalho excelente, é o Pagu mesmo (Eternamente Pagu, 1988, Norma Bengell).
MCB: Você fez uma participação também em A próxima vítima (1983, João Batista de Andrade).
EG: É, também foi nessa fase. Eu estava no sindicato naquela época, eu fui presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo, de 80 a 82. Foi nessa época, eu me lembro perfeitamente que eu fiz essa participação no A próxima vítima. Mas o que eu considero que eu comecei a fazer cinema mesmo foi no Pagu.
MCB: Que é fazendo um grande personagem, que é a Tarsila do Amaral.
EG: Exatamente, com a Norminha Bengell, que me elegeu para fazer a Tarsila. Foi um grande prêmio, eu tenho uma lembrança muito bacana da Norma por essa escolha, eu achava que nunca ia fazer uma carreia de cinema, e com a Tarsila foi um personagem premiado inclusive no Rio Cine, como Melhor Atriz Coadjuvante. Foi muito bem também em Gramado, eu acho que quase levei também em Gramado. No ano seguinte eu fiz Stelinha, que veio muito através da Tarsila, que me abriu o caminho do cinema.
MCB: No Pagu é muito impressionante ver você e a Carla Camurati, cinematograficamente na tela assim. É um trabalho muito impressionante de atriz naquele filme, não é?
EG: É, era o meu primeiro trabalho assumidamente em tela grande, era um papel que era muito instigante, mas, ao mesmo tempo, muito difícil você fazer um personagem que existiu. Porque sua fidelidade tem que ser máxima, você tem que retratá-lo o mais fielmente possível, você não pode traí-lo, você tem que ver como era, porque aquilo é uma vida, existiu, e você estáfazendo o depoimento dela. Eu tenho uma lealdade louca com o personagem que existiu. Quando eu fui fazer a Virgínia eu pesquisei a Virgínia de cabo a rabo, quando eu fui fazer a Weigel, eu fui até à Alemanha para ver tudo dela, porque eu tenho um respeito imenso por essas mulheres fantásticas, que, graças a Deus, povoaram a minha vida, entendeu? É uma parte de mim, essa a coisa da mulher, que eu peguei lá atrás, nos anos 70 eu já me dedicava muito a essa questão da feminilidade no mundo. Depois eu fui transformando isso em pesquisas de mulheres que eu fiz, que eu encarnei, e eu diria que, muito especialmente, Tarsila foi uma delas, Helena Weigel foi outra, e Virgínia Woolf foi a terceira. Foram três mulheres que com o maior respeito eu digo “eu fui lá, eu fui até o fim”.
MCB: A Tarsila, inclusive, você levou para o teatro, não é?
EG: Levei para o teatro depois, com uma proposta minha de fazer um espetáculo, Tarsila, como trazer a Tarsila. Eu tinha pesquisado muito sobre a Tarsila para o filme e eu sabia que Tarsila não foi apenas uma grande pintora, não foi apenas mulher do Oswald de Andrade, apenas inspiradora de coisas como uma musa. Ela foi uma articuladora, absolutamente consciente do modernismo, o modernismo passou através do corpo dela, da consciência dela, da artista que ela foi. Não foi à toa que ela se inspirou no movimento Brasil, que é a poesia do Oswald, toda apoiada em Minas e nela, muito claramente na descoberta do Brasil que ela estava fazendo, ela trouxe pro Brasil, na verdade, ela articulou na Europa a ida dos brasileiros e a própria troca com os que estavam lá com os outros artistas. Eles faziam da sua casa, da sua vida, uma sede de reunião de artistas que se articulavam nessa troca toda, todos viram, vomitaram o modernismo, vamos dizer assim, entendeu? Então fica muito do que é a Tarsila e está no Oswald. A gente tem o Abaporu, o quadro que inspirou o movimento e que nasceu dela, ela o fez para o Oswald como presente de aniversário. No primeiro momento ele nem gostou, mas no momento seguinte ele saiu louco com aquilo e percebeu que tinha toda uma leitura ali, sumarizada, de tudo que tinha sido feito. Ele convocou um manifesto, o Movimento Antropofágico. Ela fazia uma leitura do fundo, iconográfica, de todas as ideias daquele conjunto de pessoas. Eu fiquei passada com a importância da Tarsila.
A Helena Weigel, por exemplo, que também vive muito à sombra do Brecht. Ela foi uma articuladora do trabalho brechtiano todo, do movimento que o Brecht provocou, do distanciamento e da forma social de representar que ele propôs em sua obra. Tudo passou muito pelo corpo da Weigel, ela foi, vamos dizer, um violino no qual ele tocou isso, porque ela foi propositiva e mantenedora de tudo isso, ela participou incrivelmente, então ela é uma articuladora de tudo isso. Porque essas mulheres, afinal de contas, não têm a devida autoria reconhecida, entende? Então tanto no espetáculo Tarsila, em que essa proposta vinha muito através de mim, sabe, com a Helena Weigel no Determinadas pessoas, realmente a gente fez isso explicitamente para demonstrar esse conjunto. Ela não era uma mera atriz, não desmerecendo a atriz que ela foi, até por conta disso, pela consciência que tinha ela era um absurdo no palco, uma loucura, uma das maiores atrizes que o mundo já teve. Assim como a Tarsila teve uma enorme consciência que tinha sido a pintora que foi. Essas duas mulheres, especificamente, têm um devido papel a reconhecer nelas da qualidade, porque elas foram maiores do que apenas pintora ou intérprete, tem uma autoria maior que isso e que precisa ser reconhecida.
MCB: Desse grande personagem que é a Tarsila no Eternamente Pagu, você vai para aStelinha (1990, Miguel Faria Jr,), que é um trabalho maravilhoso de cinema.
EG: É o que foi mais reconhecido meu. Não foi o mais difícil para mim, pelo contrário, porque aStelinha sendo uma cantora, tinha toda aquela gama de cantoras que a gente já ouviu desde criança, já passa pelo corpo com uma facilidade impressionante, porque a facilidade com a que eu fiz a Stelinha... Ela vinha pela pele, pela boca, pelo olho, por tudo, ela me tomava conta, não precisava nem me preocupar, porque todo dia quando eu ia pensar na cena do dia seguinte aquilo fluía que era uma beleza. Realmente eu tive muito mais preocupações de técnica, porque eu tinha que fazer uma dublagem perfeita. Então quando terminava o dia de filmagem, eu pedia o auxílio de um músico, que era um rapaz que vinha e que me ajudava a preparar as dublagens. Eu fiquei o tempo todo preparando essas dublagens durante um pouco antes da filmagem, todos os dias, para que elas ficassem perfeitas.
MCB: A Adriana Calcanhoto é que cantou as músicas, não é?
EG: Exato. Era uma voz muito diferente da minha, entendeu? Um jeito de cantar que eu tinha que assimilar como se fosse ela. Foi um trabalho minucioso porque eu sabia que o filme dependia disso, então muito mais tecnicamente foi a parte do esforço, mas a parte da representação veio assim, veio tranquila, veio inteiraça. Foi uma coisa muito gostosa de fazer, e sempre permeada de um humor envolto de uma coisa bacana, um clima muito forte de colegas, a equipe muito bacana, muito legal, foi uma felicidade para mim, eu me senti muito feliz fazendo o filme, muito mesmo. Esse resultado para mim foi muito incrível porque naquela época estava fechando a Embrafilme, foi o último filme que saiu da Embrafilme, não conseguiu nem gozar dos benefícios de divulgação e de distribuição do filme, infelizmente.
MCB: Foi um filme pouco visto na época.
EG: Exatamente, por conta disso.
MCB: Ainda que muito premiado.
EG: Premiadíssimo em Gramado, ganhou todos os prêmios, acho que ganhou todos menos um, uma coisa assim impressionante a premiação do Stelinha.
MCB: Tem uma relação linda sua em cena com o Emiliano Queiroz.
EG: Emiliano, maravilhoso.
MCB: Que faz o presidente do seu fã clube.
EG: É, o Emiliano ganhou o prêmio de Melhor Coadjuvante com duas cenas no filme, a gente teve uma interação perfeita. Ele me disse depois, os dois muito comovidos lá em Gramado, ele me disse “tenho que te dizer que eu fui fazer esse filme achando que não ia ser grande coisa para mim, porque eram duas cenas, muito pouco. E aí cheguei lá e quando eu olhei para você, você estava tão, eu vi tanto aquela mulher, aquela história toda, conheci a existência dela e isso me permitiu entregar a figura do fã”. Eu acho que é a coisa mais linda, que é um cara apaixonado pela sua cantora, né, uma coisa bonita, o fã se transfere totalmente. Nós fizemos realmente duas cenas muito lindas, uma na capela e a outra em uma hora em que ela vai visitá-lo, ele mora no cortiço e está lavando roupa, ela está ali olhando para aquele cara e eles têm uma comunhão. Ela ali vestidinha, arrumada, e ele de tamanco, na sua pobreza. Olha, realmente foi uma coisa muito comovente, a gente fez com muito amor, muito amor mesmo. Para mim eu acho que era quase uma ideia, uma história do Brasil que a gente estava contando.
MCB: E aí, no próximo filme, você chega no cinema impactante do Sérgio Bianchi, A causa secreta (1994).
EG: É que já é uma outra história, totalmente diferente.
MCB: Um outro registro. Como foi participar do A causa secreta, e como foi a relação com o Bianchi?
EG: Difícil, como sempre, porque eu tenho um problema com certas posturas meio autoritárias de criação. Ele não consegue deixar de ser assim porque é assim que ele é, por outro lado ele é muito talentoso, muito criativo, e a gente acabou encontrando um modo de vivência meio complicado, mas que acabou funcionando para o filme, ficou bom. O personagem ali era também estranho, eu também gosto dessa chave, gosto desses universos que não são muito normais, com um outro tipo de olhar, que a gente vê com um outro olhar. Eu gosto de fazer, mas teve um certo esforço de manter uma linha para o personagem, porque oscilava muito o que estava em volta, digamos assim, então foi difícil. Mas de qualquer maneira foi um personagem que aconteceu bacana e também recebeu um prêmio, de Coadjuvante (APCA). O cinema sempre me trouxe muito prêmio, muita alegria, muito resultado bacana, positivo.
Tem o A hora marcada (2000), do Marcelo Taranto. Depois do curta Ressurreição (1994), ele me chamou para fazer um personagem bonito, um pouco fluido dentro do filme, e como o resultado ficou tão bonito, tão bacana de fazer. Eu espero que o Taranto não pare de filmar, um talentosíssimo cineasta que merece uma carreira muito grande, muito frutífera, ele precisa ter a força de mantê-la, porque nada é fácil nesse mundo.
MCB: Você faz uma participação no As meninas (1995, Emiliano Ribeiro).
EG: É.
MCB: Como a mãe da Lorena, que a Adriana Esteves interpreta. As meninas é meu livro de cabeceira da Lygia Fagundes Telles. É um livro muito impressionante que ela escreveu na época da ditadura, muito corajoso, porque ela falava de tortura, de drogas, naquela época. Eu me lembro que você faz a mãe da Lorena.
EG: É, era uma mãe também bastante estranha, bem neurótica mesmo.
MCB: Você atua também no A grande noitada (1997), do Denoy de Oliveira.
EG: É, personagem Nedda, gostei de fazer, personagem bonito. Ali também é uma dramaturgia, uma cinematografia muito autoral do Denoy, um belíssimo roteiro dele, uma espécie de musical, uma coisa que ele faz meio de deboche, de muitas coisas. Um filme forte, muito interessante.
MCB: Você faz também o Por trás do pano (1999, Luiz Villaça).
EG: Que é também uma participação, mas muito interessante. E com a vantagem de poder fazer a Cleópatra, me vestir de Cleópatra para fazer uma cena de Cleópatra foi realmente um luxo. Teve momentos bastante interessantes nesse filme.
MCB: É um filme que trata do universo do teatro.
EG: Do teatro e do cinema, tanto que o cenário foi feito no teatro em Americana, foi lá que o filme foi filmado, o cenário foi feito dentro do palco, muito interessante aquilo.
Eu gosto muito de cinema, a descoberta do cinema para mim foi um espanto, quando eu percebi as possibilidades da interpretação no cinema, que foi em Pagu, eu vi que o cinema é quase que uma radiografia do personagem, e que com muito pouco se faz muito. Fiz Mandraketambém, uma participação, mais recentemente, e que é cinema, né, feito como cinema. Eu olhei para o personagem do Mandrake, olhei para aquilo e falei “Meu Deus do céu, o que fazer?”. Era um personagem tão oculto dentro de si mesmo, era dificílima a construção, acho que foi uma das coisas mais difíceis de construir, é como você estar fazendo uma coisa que ninguém está vendo, sabe? Nem mesmo havia a percepção dessa construção permanente e era a única maneira de criá-lo. Eu realmente não tinha muita noção do quadro, só sei de uma coisa, ele foi feito com uma imensa coerência, e que essa coerência foi uma pesquisa muito solitária minha, entendeu? E é esse tipo de personagem que, às vezes, para mim, é um desafio, sabe? Aquele personagem que parece quase impossível de fazer. No cinema são desafios muito fortes mesmo, eu gosto muito do cinema porque ele vai para dentro, e se você for tentar o caminho para fora, normalmente, o resultado não é tão bom não. O cinema é quase uma grande intimidade com a plateia e eu gosto disso, muito, eu gosto disso em qualquer arte, eu gosto no teatro também, e gosto na televisão. Mas no cinema, especialmente. O cinema é o lugar disso, total e absoluto.
MCB: Para finalizar, as únicas duas perguntas fixas do site: qual o último filme brasileiro que você assistiu?
EG: Salve Geral (2009, Sérgio Rezende). Eu gostei muito, muito mesmo, eu vi na televisão. Foi um filme que estava passando e comecei a assistir, de repente resolvi assisti-lo inteiro. Achei um filme muito bem realizado, gostei dele.
MCB: A segunda é: qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você homenageia na sua entrevista?
EG: Pois é, eu quero homenagear a Norma Bengell mesmo, por toda uma trajetória. Assim como o Ademar Guerra teve uma importância fundamental na minha vida, porque me trouxe para o teatro, confiou em mim no teatro, da mesma forma eu acho que tenho que homenagear a Norma Bengell porque ela me trouxe para o cinema pra valer. Ela confiou em mim, me deu um papel que foi marcante em minha vida e isso foi muito bacana, muito bacana. O convívio com a Norma no set de filmagem foi maravilhoso, um clima muito maravilhoso, aquilo se transmitia. O Ademar também tinha um clima maravilhoso no set, muito forte, lindo, como diretor parece que está emanando a obra. Ela tem um registro de cinema muito bacana e de uma postura dentro do trabalho tão séria, com clareza e determinação. A Norma tem uma história no cinema como intérprete e como diretora inegável, que não se deve ser prejudicada por acontecimentos, muito menos pra que ela se torne um bode expiatório de questões que não estão nela, entendeu? Não pode ser depositária de um problema nacional, tá? Problema que está em tudo, não é verdade? Então eu acho que ela ficar pagando sozinha o preço de coisas que dentro das quais ela tem uma parte infinitamente pequena, sabe? Está no todo, não está na pessoa, sabe? Então eu acho que é um erro que se comete em relação à ela, ela tem uma história, tem um padrão de criação, tem muita coisa maravilhosa, então eu homenageio a Norma, até porque ela faz parte da minha história, no sentido de ter me posto nesse trabalho e ter me dado a porta de entrada para o cinema.
Ah, eu fiz uma participação em televisão também como apresentadora.
MCB: Pois é, nós não falamos do TV Mulher.
EG: É, que foi muito forte, também não esperava que fosse tão forte. Na verdade foi concomitante a minha presença no tema, é interessante isso porque aconteceu tudo junto, ao mesmo tempo em que eu escrevi a peça eu fui chamada para o TV Mulher, essas coisas estranhas que acontecem. Depois eu fui fazer o Jornal Mulher, foi em São Paulo também, era totalmente jornalístico, foi na TV Record, ficava três horas e 43 minutos ao vivo todos os dias, fazendo âncora de um programa de jornalismo. O jornalismo me puxou tanto que foi quase uma opção, porque o meu lado social se adequa muito no jornalismo, tanto que eu acabo tendo uma atuação política dentro da categoria, entendeu? Eu fui Presidente do Sindicato dos Artistas, fizemos o Fórum de Cultura, na época do Collor, contra o Collor. Depois eu fui representante da Funarte, aqui em São Paulo. Atualmente estou no Fórum de Cultura e Educação, por uma necessidade mesmo de levantar questões que vão ficando entregue, essa profissão sofre muita pressão e muitas influências. Até para proteger a obra, para proteger o teatro, que a gente quer continuar fazendo, a arte que a gente quer que continue a existir no país, que é a arte do artista, do artista autor, do artista produtor, digamos assim. Porque não pode desaparecer, né? Essa sequência de coisas pra mim, esse lado jornalista existe em mim muito forte, por isso que ele acaba se projetando tanto em uma influência que existe em mim de opções sociais dentro da própria arte, que eu faço nas minhas escolhas de criação, como também nessas atuações paralelas e que também são permanentes na minha vida, não consigo escapar, faço sempre uma opção de não querer ir por aí, mas não consigo escapar de que isso exista na minha história e que me acompanha.
MCB: Essa atuação jornalística também se insere no contexto de um modo muito forte, o próprio TV Mulher foi muito forte naquele período, né, pelas questões da mulher, para o avanço das questões do feminino.
EG: Exatamente, foi um programa muito forte. Depois eu saí exatamente porque é uma opção que você faz em um certo momento, porque você não pode permanecer ali, eu poderia naquele momento ter tomado um outro rumo, entendeu, poderia ter ido para o jornalismo, ter ido definitivamente, porque também faz muita parte da minha personalidade, mas que não é a minha escolha. A arte me realiza muito mais plenamente do que qualquer outra opção.
Outra coisa que fiz muito em certa fase da carreira foram os comerciais, cada fase tem uma tônica e isso foi por volta dos anos 80, anos 90. Especificamente, acho que no começo de 80, 81, 82 até os anos 90. Eu fazia muitos comerciais, mas uma trilogia, em especial, foi muito marcante, muito premiada, inclusive. Tinha um cara chamado Dudi, um grande diretor de comerciais, fiz várias coisas com ele. Nesses três comerciais, que era Shell Banheiros, Shell Sauna e Shell Estrada, tinha um personagem muito marcante que era uma dama de vermelho, que ele chamava e que sempre entrava perguntando “qual é seu carro, álcool ou gasolina?”. Entrava em um banheiro masculino, depois em uma sauna masculina, e em uma estrada pedindo carona. Então era muito interessante esse trabalho, foi bastante marcante.
Mas eu não fiz só isso não, eu fiz vários comerciais, eu gostava muito de fazer. Eu estou citando isso porque foi um aprendizado de linguagem cinematográfica, que é uma linguagem muito sucinta na verdade, entendeu? Ele tem uma lógica de agilidade de velocidade e informação muito interessante, de passar muita coisa em pouca coisa. Se você não preenche aquilo, realmente, às vezes, o que você tem para fazer tem segundos, e tudo tem que estar ali acumulado naqueles 30 segundos. Esse aprendizado cinematográfico, importante em termos de linguagem, eu tive um grande treinamento através dos comerciais, porque o comercial é muito rápido e você tem que encaixar muitas informações para que ele consiga atingir um significado. Então eu acho que é uma das coisas, em termo de cinema, que foi muito importante como um treinamento, como uma linguagem, até como um resultado, porque desses três comerciais, por exemplo, eu tenho orgulho, porque ficaram realmente muito interessante, muito bom.
MCB: Foram premiados, inclusive, não é?
EG: Exatamente.
MCB: Porque os comerciais de hoje são muito voltados para o varejo, para o varejão de supermercado. Antes havia um trabalho mais precioso, home ainda tem, mas no geral é bem diferente.
EG: Tinha coisas muito lindas, eu me lembro de um de uma panela de pressão que eu fiz, que ela explodia. Sempre tinha uma coisa muito bacana, sabe, muito bem colocada e muito bem realizada. Não era uma coisa feita de qualquer jeito não, eu me lembro que esses comerciais foram gravados nos estúdios da Vera Cruz, a gente ficava dias fazendo, era de uma sutileza, tudo com um excelente acabamento, uma coisa muito bonita mesmo, muito bem realizada. Foi típico, característico dessa fase mesmo.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada em abril de 2013.
Veja também sobre ela