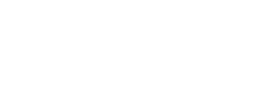Ilana Feldman
 Graduada em cinema e mestre em comunicação pela UFF, e doutoranda em ciência da comunicação na USP, Ilana Feldman é uma pensadora do audiovisual com ensaios e críticas sobre televisão e cinema publicados na Revista Cinética e Trópico. A partir do final da década de 1990 passou também para trás das câmeras como diretora de curtas. Uma característica interessante em sua trajetória é que em todos esses trabalhos assinou como co-diretora: "Eu preciso de interlocução, eu já sou uma crise permanente, mas aí eu acho ótimo quando isso reflete em alguém, quando eu sou questionada, eu não suporto a idéia de não ser questionada, eu acho insuportável. Sabe essa posição de não ter alguém para te problematizar? E eu acho que a co-direção é sempre um exercício de negociação, de colocar em crise".
Graduada em cinema e mestre em comunicação pela UFF, e doutoranda em ciência da comunicação na USP, Ilana Feldman é uma pensadora do audiovisual com ensaios e críticas sobre televisão e cinema publicados na Revista Cinética e Trópico. A partir do final da década de 1990 passou também para trás das câmeras como diretora de curtas. Uma característica interessante em sua trajetória é que em todos esses trabalhos assinou como co-diretora: "Eu preciso de interlocução, eu já sou uma crise permanente, mas aí eu acho ótimo quando isso reflete em alguém, quando eu sou questionada, eu não suporto a idéia de não ser questionada, eu acho insuportável. Sabe essa posição de não ter alguém para te problematizar? E eu acho que a co-direção é sempre um exercício de negociação, de colocar em crise".
Os filmes são "Bem Te Vi" (1999/2000), produção da época de escola de cinema co-dirigida com Fabiana de Câmara;; "Se Tu Fores" (2001), co-dirigido com Guilherme Coelho; e "Almas Passantes - um percurso com João do Rio e Charles Baudelaire" (2007), co-dirigido com o crítico, e seu marido, Cléber Eduardo. Ainda que tenha realizado três filmes e pretenda dar continuidade à carreira de realizadora, Ilana Feldman não se considera cineasta: "Longa eu não penso não, acho muita responsabilidade, é uma outra selva. Mas sempre em projetos muito pessoais. Eu não me vejo como uma cineasta profissional, não tenho esse interesse, não quero viver de cinema. Mas acho que o cinema é um meio de expressão maravilhoso e de alcance que, por mais que seja muito restrito o nicho de pessoas que estão vendo, mesmo assim ele tem um alcance para além da palavra que é emocionante".
Ilana Feldman esteve na "I Mostra Filmes Polvo de Cinema e Crítica" para mostrar o curta "Almas Passantes - um percurso com João do Rio e Charles Baudelaire" (2007). O filme nasceu a partir de questionamentos vivenciados na academia: "Foi em uma aula que eu tive de estética e cultura de massa, em que a gente leu os teóricos da modernidade, como Walter Benjamin, Baudelaire. Toda essa literatura que tematizava a modernidade e a cidade, a questão do choque, do hiper-estímulo, da flanery. A partir disso eu li uma monografia de uma colega que juntava dois personagens conceituais, Baudelaire e João do Rio. E era um diálogo entre obras. A partir dessa monografia eu tive a idéia então de fazer um roteiro de ficção para um curta-metragem que seria um diálogo, mas que esse diálogo não ficasse todo conceito, que eu pudesse trazer o diálogo para o plano da experiência".
Ilana Feldman conversou com o Mulheres nos jardins internos do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, onde aconteceu a "I Mostra Filmes Polvo". Durante um pouco mais de uma hora, ela falou sobre sua trajetória e a descoberta do cinema como instrumento político; sobre biopolítica e os reality shows; sobre os conceitos de olhar masculino e feminino; sobre Nietzsche; sobre cinema e televisão; sobre os filmes que realizou e sobre a experiência como pensadora e cineasta.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Você tem formação em cinema e trafega pelas duas áreas, tanto a do pensamento como a da realização cinematográfica. Desde quando você optou pelo cinema?
Ilana Feldman: Eu me formei em cinema na UFF e, claro, que a época é sempre uma decisão um pouco no escuro. Fiz uma outra faculdade também junto e acabei optando pelo cinema. Minha motivação inicial foi uma questão política. Em geral, as pessoas falam de cinema pela cinefilia como princípio básico. Digamos que no meu caso, a cinefilia foi uma descoberta durante o processo. Eu sempre me interessei muito pelas possibilidades interdisciplinares que o campo da comunicação podia me oferecer, porque realmente é um terreno de possibilidade de conexão. E achava que para fazer comunicação eu tinha que fazer audiovisual, eu tinha que trabalhar com a imagem e com o som por uma questão política, porque o mundo contemporâneo é cada vez mais um mundo da imagem e do som, e não o mundo da palavra.
Mulheres: Isso foi quando?
Ilana Feldman: Foi em 1997. Foi na época que eu estava fazendo vestibular e tinha que optar por um curso. Eu achei que politicamente era muito mais interessante tentar entender, compreender as ferramentas estéticas, os códigos estéticos que produzem esse universo e esse mundo audiovisual em que a gente vive. Porque eu acho que é fundamental a gente ter uma educação no audiovisual, compreender quais são as ferramentas do olhar, como nós olhamos e percebemos as coisas. Toda a tradição ocidental é uma tradição de uma cultura letrada, de ferramentas da razão, de ferramentas hermenêuticas de interpretação e compreensão do texto, mas a gente não tem uma tradição de estudar ferramentas de compreensão da imagem e do som. Então eu acho que eu sempre me senti muito refém dessa ignorância, e aí naquela época que eu fiz a opção eu pensava, não sei se um pouco quixotescamente, que estudar o audiovisual poderia ser uma função de tentativa de compreensão do mundo contemporâneo.
Mulheres: Sem querer ser indiscreto, mas apenas para situar, você tinha quantos anos na época?
Ilana Feldman: Tinha 18 anos.
Mulheres: Você disse que a relação de cinefilia veio depois, mas e a espectadora? Ela já existia antes de uma forma mais comum ou com um olhar mais diferenciado?
Ilana Feldman: Eu sempre fui uma espectadora muito crítica e a critica sempre me deu muito prazer, uma relação de prazer. Mas eu não era uma cinéfila, e nem me considero hoje uma cinéfila no sentido estricto. Nunca me senti impelida a totalizar a cinematografia de fulano, beltrano ou sicrano, dar conta de toda a história do cinema com esse afã que eu admiro muito no cinéfilo, se a gente pegar o estereótipo do que é o cinéfilo. Eu sempre adorei cinema e tive uma relação de fruição e, ao mesmo tempo, de crítica, mas não tive esse compromisso cinefilico de acompanhar tudo, porque a gente não dá conta.
Mulheres: E a espectadora de cinema, mesmo com esse olhar crítico, gostava de ver o quê?
Ilana Feldman: Essa é uma pergunta difícil porque eu nunca tive... eu sou uma iconoclasta, eu acho. Sempre detestei os discursos de fã, nunca fui fã incondicional. Gostava muito de cinema moderno de um modo geral, do cinema francês, que tivesse uma certa pegada de filmar na rua, por exemplo, daí a inspiração para fazer o “Almas Passantes”. Filmes que trabalhasse com o espaço público, e sempre na dissonância de som e imagem, sempre numa linguagem poética também, o cinema de poesia. Godard sempre foi uma referência muito importante.
Mulheres: E o cinema brasileiro? Tinha alguma preferência?
Ilana Feldman: Quando que fui fazer faculdade eu conhecia bem pouco de cinema brasileiro, bem pouco, fui descobrindo isso durante o processo. Tinha visto, claro, na minha formação, alguns filmes clássicos, Nelson Pereira dos Santos. O próprio cinema dos anos 80, que era importante, eu me lembro de, quando criança, ir ver com a escola o “A Marvada Carne”, do André Klotzel. É engraçado porque é um filme que eu nunca revi, desde os meus sete anos de idade. Mas não tinha uma preocupação de dar conta do cinema brasileiro antes de entrar na faculdade, antes de entrar no curso.
Mulheres: E esse seu interesse pela política através do cinema, ele se resolveu, ou melhor, já que nada se resolve, ele teve lastros que você encontrou nesse espaço acadêmico? Eu sei que você já desenvolveu e desenvolve projetos nessa área, como o mestrado, o doutorado. Você conseguiu encontrar nessa opção pelo cinema esse olhar político, esse resgate que você sinalizou lá na hora da primeira opção?
Ilana Feldman: Sim, sim. Eu acho que por essa questão também eu acabei indo estudar televisão. Aí não havia, inicialmente, nenhum prazer, era por sentir que era importante. É um espaço fundamental de produção de valor, de produção de subjetividade, que a gente precisa compreender criticamente, sem nenhuma leitura apocalíptica de que é o fim do mundo, de que, por exemplo, o Big Brother é uma catástrofe. Mas tentando compreender o impacto disso, que mundo político, que valores éticos, que valores estéticos, que produção subjetiva é essa. Nesse sentido, eu consegui conciliar um pouco esse meu afã de tentar compreender as ferramentas políticas que estão compondo o contemporâneo e lidando também com o instrumental estético. E aí não mais na chave do cinema, mas na televisão, que tem um impacto, uma penetração global muito maior.
Mulheres: Falando em televisão, um dos objetos de sua pesquisa são os reality shows. Em um dos ensaios publicados na Cinética (revista eletrônica) você fala sobre questões como o vouyerismo, que os reality shows são o vouyerismo permitido. Você começou pelo cinema, depois foi para a televisão, e daí eu quero saber como se dá essa relação entre o cinema e a televisão para você. Em quê, nesse tráfego entre um veículo e outro, pode ter contaminado o seu olhar, ou só mudou o alcance desses veículos?
Ilana Feldman: O cinema me ensinou uma questão fundamental para eu não cair na esparrela do controle da vigilância, que é a impossibilidade de totalização da imagem. Quer dizer, a principal questão para a gente poder fruir e compreender o cinema é entender que não há plano sem contraplano, não há campo sem contracampo. A imagem nunca é total, a imagem sempre expõe um fora, um não ver, um não saber, uma zona obscura, para cada revelação um engano, e para cada engano uma revelação. Acho que isso é uma condição ontológica e inerente da imagem, não é a imagem total. E isso é fundamental para a gente compreender que a ideologia, a mentalidade do controle de vigilância, é um desejo, é uma demanda, mas de fato ela não se realiza. Porque não há imagem total, por mais totalitária que seja a pretensão de controle dos novos dispositivos de comunicação, de visualização, pela vigilância, por esse tipo de espetáculo de reality shows. Eu acho que está sempre no plano de uma demanda, de uma ambição, de uma tentativa, mas só há controle porque há descontrole.
Mulheres: E no cinema brasileiro? Você vem acompanhando a produção atual? Você, ocasionalmente, escreve sobre filmes brasileiros, e daí eu quero saber qual o seu olhar, como pensadora, sobre essa produção de agora.
Ilana Feldman: Eu também não tenho a intenção de totalizar a produção brasileira contemporânea, porque chega uma hora que você acaba correndo. Você corre, corre e corre, fazendo uma maratona, e a gente acaba sempre perdendo. Porque, realmente, a produção, nos últimos anos, aumentou demais, então é até complicado dar conta e conseguir sistematizar um pensamento que se pretenda totalizante, ou sistêmico pelo menos. Então isso eu não faço, não sou crítica estricto sensu nesse sentido. Mas o que eu acho muito interessante no cinema brasileiro contemporâneo, que eu percebo como uma certa tendência é um certo vínculo do cinema à uma idéia de um apelo do real, de um apelo realista, de que modo o cinema brasileiro está muito comprometido com os efeitos de autenticidade. E isso é uma estratégia estética, mas é uma estratégia discursiva também, uma estratégia de legitimação dos filmes, porque afinal de contas se o filme fala sobre o real, desse real que é tão idealizado, então ele está legitimado.
Isso a gente pode compreender o impacto de “Cidade de Deus” (Fernando Meireles), por exemplo. Apesar do filme ser todo estilizado, todo construído por uma série de artifícios, todo o discurso do filme, todo o impacto que ele teve foi pela sua capacidade de choque do real. Aí agora o “Tropa de Elite” (José Padilha) , eu acho que, de certo modo, o prêmio que ele recebeu em Berlim coroa um pouco esse movimento, dessa exploração do efeito de autenticidade no cinema.
Mulheres: Você já disse aqui que não se considera crítica no sentido estricto, e, do que acompanho seus escritos, eu percebo que há ali mais uma ensaísta. Você gosta de escrever críticas?
Ilana Feldman: Gosto, gosto de escrever críticas.
Mulheres: Qual a importância que você vê na crítica? O Rafael Ciccarini, por exemplo, da Filmes Polvo, disse que fazer crítica e fazer filmes é o mesmo processo. Qual a importância que você vê na crítica, já que ela é mais imediata que um ensaio na relação com o espectador? O ensaio tem mesmo mais fôlego ou não há tanta diferença para você na hora de escrever?
Ilana Feldman: O ensaio é mais livre no sentido de que ele se ensaia na medida em que está sendo feito e o escopo de relações e de ressonâncias é maior. Você tem liberdades associativas igual ao que você tem na crítica também, mas o ensaio pressupõe uma certa amplitude maior de questões. Aí o ensaio me interessa mais por isso, porque eu posso relacionar o mundo contemporâneo, o sujeito contemporâneo, a política, a imagem e tecer relações e considerações sobre isso. Agora a crítica cinematográfica propriamente, ela pode também ser ensaística, você também pode fazer um ensaio que pode ser um grande vôo, que seja um ensaio sobre cinema, no sentido de que você pode articular uma série de filmes, de leituras críticas de vários filmes. Mas a crítica pontual de filme a filme eu acho um gesto de generosidade, porque eu acho que a crítica é um instrumento muito bonito. Na verdade, ela promove um encontro, não só o encontro daquele que escreve com a obra, mas a tentativa de encontro daquele que escreve e daquele que lê com a obra.
A crítica propõe uma triangulação e nessa triangulação ela é capaz de revelar ao leitor aspectos que ele jamais poderia ter percebido, que dizer, ela pode revelar e construir. Ela sempre constrói revelando e revela construindo um novo mundo de sentido de um filme, porque um filme é feito de muitas camadas. A crítica então é uma forma de decodificação também, de construção de sentido e de decodificação de sentido para aquele que lê. Então nesse sentido, eu acho que é um gesto de generosidade, não no sentido de que a crítica deve ser pedagógica, não, eu não acho que a crítica deve ensinar, crítica é um instrumento de abertura.
Mulheres: Mas então quando você escreve uma crítica você fica satisfeita que aquele formato deu conta do que você queria dizer?
Ilana Feldman: Não, a lógica do texto é a lógica da imagem, para cada revelação um engano, para cada engano uma revelação. È porque essa é a lógica da linguagem, a linguagem nunca totaliza, crítica nunca totaliza. Mesmo que eu escreva cinqüenta páginas sobre um filme muitas vezes eu não vou dar conta do principal, porque às vezes o principal não se materializa em palavras. Por exemplo, a emoção que a gente pode sentir vendo determinado filme é de outra ordem, ela é meta-crítica, está para além da crítica. E às vezes também é uma corrida desesperada da palavra para aquilo que não tem. Nesse sentido é muito aflitivo escrever sobre uma experiência sensível, uma experiência racional, intelectual, mas sensível.
Mulheres: Ao falar da crítica você falou sobre quem lê. Vou te dar um exemplo claro. Quando eu leio o editorial de vocês sobre biopolítica na Cinética, em que vocês recuperam as idéias de Focault, eu acho uma leitura difícil, não é uma leitura fácil, é uma escrita que está muito no lastro acadêmico. Já na crítica, como o espectador de cinema é muito heterogênio, às vezes, a idéia está toda lá, mas a linguagem fica um pouco mais clara. Ao escrever sobre biopolítica, vocês dizem que quem reclama muito da biopolítica é porque inclusive não quer disponibilizar a informação para todo mundo. Quando eu leio o editorial sobre biopolítica, eu acho uma leitura difícil, mas quando eu leio seu ensaio sobre reality show eu já acho uma leitura mais tranqüila, mais possível para o leitor. Não parece muitas vezes que a crítica está escrevendo para seus pares? Esse leitor heterogênio do cinema está sendo considerado mesmo? Porque às vezes eu vejo pergunta de crítico que não é uma pergunta é uma análise, faz-se uma análise para depois fazer uma pergunta. Então nesse fazer crítico o leitor está sendo considerado mesmo?
Ilana Feldman: Isso é muito difícil, porque falar do leitor é como falar do público, é como falar “fiz um filme para o público”. Mas quem é o público? O público é uma abstração, o leitor é uma abstração. Se você também partir do pressuposto de que existe um público homogênio, é ligeiramente fascista isso. Achar que todo mundo é igual, que todo mundo tem uma sensibilidade igual, quem pensa assim é mentalidade de distribuidor, pensa em receita, mistura comédia com sexo porque daí funciona, porque o público gosta disso. É muito difícil pensar no público, pensar no leitor. Agora, eu não sei, por mais heterogênio que seja o público de leitores é. ao mesmo tempo é um nicho muito específico também. E um conjunto de pessoas que lê crítica também é um nicho específico, por mais que dentro do nicho só haja multiplicidade. Então eu não sei, é muito difícil, eu não sei até que ponto você pode considerar que os críticos estão falando entre eles ou não, que os críticos estão muito autistas ou não. É difícil, é muito difícil fazer essa avaliação, depende muito de quem é o crítico.
Quando a gente fala de um filme, diferente de um texto teórico, é porque há uma facilidade que é o objeto. Por exemplo, eu falo do reality show, sei lá, e aí eu uso biopolítica para falar do realyt show, é um dispositivo biopolítico. Bom, eu estou partindo de um conceito de Focault e tal. Mas eu tenho um objeto que, em última instância, é onde você pode se encontrar comigo, onde eu posso dar a mão para você, “olha, esse objeto a gente compartilha”. Você pode não compartilhar do conceito de biopolítica e a minha função aqui é tentar explicar porque que eu acho que esse objeto é um objeto biopolítico. Mas você compartilha o objeto comigo, você tem essa referência, é um compartilhamento de referências, isso já deixa o leitor mais tranqüilo, já dá um certo respiro, “bom, disso aqui eu compreendo”. E aí fica muito mais fácil entender como é que os valores, os vetores de poder, como é que a estética está operando ali, porque é material. A análise fílmica nesse sentido, a análise estética tem essa facilidade do poder de comunicação. Agora um texto puramente conceitual e filosófico é muito mais difícil porque muitas vezes a gente não compartilha as mesmas referências e aí dá a sensação de que está tudo muito abstrato.
Mulheres: Mas então como fica quando essa renovação da crítica fala sobre cinema popular, sobre pornochanchada, por exemplo, para um universo compartilhado por um certo perfil de leitores? Nessa hora, eu vejo muitos textos que parecem não ter os códigos daquele universo popular, da pornochanchada. Você diz, por exemplo, que quando fala de biopolítica está falando de conceito, e que se o leitor não é seu par naquele conceito ele tem uma dificuldade maior, mas falando de um programa de televisão fica mais fácil. É como naquele velho recurso do professor que para explicar um conteúdo dá exemplos mais próximos do aluno para que ele possa entender. Uma coisa é escrever sobre Truffaut, Nouvelle Vague, neo-realismo. Agora, e com o cinema popular, você acha que a crítica domina esses códigos do cinema popular?
Ilana Feldman: Não necessariamente.
Mulheres: É isso que eu quero saber, sua opinião, porque às vezes eu leio algumas críticas sobre cinema popular que são muito distantes e não propõem esse diálogo que você explicou anteriormente.
Ilana Feldman: O objeto é importante nessa possibilidade de uma referência primeira, um a priori que é compartilhado. Mas, ao mesmo tempo isso pode ser uma grande cilada, porque tudo depende de qual perspectiva que eu deito sobre aquele objeto. Sei lá, pegar um filme popular tipo “O Homem Aranha”, um filme aí que chegou com trezentas cópias, fez sucesso no mundo inteiro. Se a gente pegar esses blockbusters que fizeram sucesso no mundo inteiro. Eu posso fazer uma análise desses filmes absolutamente hermética, totalmente hermética, quase impenetrável, e, no entanto, é um filme que tem uma repercussão estrondosa. Então um objeto altamente compartilhado não garante evidentemente o diálogo, assim como eu posso fazer uma análise do Truffaut e falar um monte de coisas de um modo acessível e, às vezes, até clichê, como falar do amor, do romance, e pegando um objeto, digamos assim, artístico.
Eu não acho que o objeto garante não, eu acho que o objeto pode ser um primeiro passo para o diálogo, mas certamente ele não garante o diálogo. Porque tudo vai depender da perspectiva e do modo que você conduz, porque escrever é uma arte, se você pretende escrever para o outro, não para si mesmo. Porque tem textos que você vê claramente, “pôxa esse cara tem uma idéia brilhante”, mas o texto é absolutamente confuso, não é claro, não tem uma preocupação com aquele que está lendo. É um texto truncado, às vezes obscuro. Eu acho que escrever é uma arte mesmo, é difícil ter dimensão porque o outro é uma ficção, o outro é sempre uma ficção. Lidar com essa ficção de quem é o outro que está lendo aquilo, será que ele vai entender, não vai entender, como é que posso ser clara sem ser didática, sem ser pueril.
Mulheres: Você não acha que é um campo possível para uma vaidade?
Ilana Feldman: Claro, certamente, certamente. Escrever é um exercício de poder, filmar é um exercício de poder, lidar com a linguagem é um exercício de poder, falar é um exercício de poder. Eu acho que a linguagem é um exercício de poder,. A questão é como usar esse instrumento de poder da maneira mais política possível, política no sentido de você achar que aquilo é potente, que é produtivo, que aquilo pode surtir um efeito em alguém. Escrever para mim não interessa, escrever para mim mesma não me satisfaz, eu não me atraio por textos que são verdadeiros jogos de pura subjetivação, por exemplo.
Mulheres: Você falou também que nem pretende acompanhar tudo, de totalizar. Eu fiz uma pergunta para a Ursula, da Filmes Polvo, que é fruto de nenhuma pesquisa, é bem informal, não tenho nenhum dado concreto sobre isso. É sobre o fato de a gente ter poucas mulheres fazendo críticas, nem sei quantas. E a Ursula, na resposta, citou você. Ela disse que você acha que falta na mulher a obsessão do homem que quer ver todos os filmes, que a mulher não tem muito isso. Mas agora posso perguntar diretamente para você: na sua opinião, por que temos tão poucas mulheres fazendo crítica de cinema?
Ilana Feldman: Eu tenho uma hipótese sobre isso, absolutamente impressionista porque é a partir de uma impressão pessoal, de uma experiência empírica minha. Mas o que eu acho é que esse que falta eu sinceramente acho positivo. Eu acho que há uma diferença, muito grosseiramente falando, entre o homem e a mulher, que o compromisso primeiro da mulher é mais com sua própria experiência sensível do que do homem. Muitas vezes tem um certo clichê de que a mulher é muito subjetivista, muito impressionista, ou frívola, e historicamente muito superficial. Porque, na história, o campo do sensível sempre foi relegado, enquanto que o inteligível, a razão, o discurso racional sempre foi a valorização, sempre foi a fonte valor, a tradição socrático-platônica que funda o ocidente,. A filosofia na Grécia clássica vai expulsar a retórica, os pintores, os sofistas da pólis para valorizar o discurso da razão. E o discurso da razão é o discurso masculino, historicamente sempre foi o discurso do homem. A mulher não, é o discurso das artes, do fingimento, é o discurso do falso, do sensível. E aí, eu acho que, pensando assim, nessa pretensão de tentar pensar nossa tradição filosófica, de onde parte nossos valores, ao homem coube sempre o pensamento sistêmico, o pensamento sistemático, organizacional, a totalização.
Então eu vejo muito mais cinéfilos que dizem “eu vou esgotar a obra de todos esses caras, vou ver todos os filmes da Mostra do Rio, da Mostra de São Paulo, vou escrever verdadeiras listas dos cem mais, dos dez mais, dos mil melhores”. Então, tem uma preocupação de organizar, de sistematizar, de hierarquizar. Enquanto que para a mulher, trabalhando a mulher nesse sentido muito genérico, hieraquizar uma emoção é muito difícil. Eu sou incapaz de dizer, quando você me pergunta, quais eram as referências primeiras, para mim é muito difícil isso, porque as referências são muito fragmentadas. Quando eu era adolescente eu vi filmes do Kieslovski que na época me abalaram, assim como eu vi outros que me abalaram, então é uma verdadeira colcha de referências não sistêmicas. Enquanto o homem tem um compromisso maior com a organização, a mulher não, ela tem compromisso maior com a sua experiência sensorial, com a sua experiência sensível.
Então eu acho que isso se reflete muito na produção crítica, porque para você ser crítico mesmo, no sentido estricto, não uma ensaísta, não uma pessoa que eventualmente fale sobre filmes, que articule filmes com outras coisas, você tem que ter um compromisso de dar conta da cinematografia que está sendo feita naquele momento histórico e no momento também passado. O crítico tem que ser também uma pesquisador e um arquivologista.
O Nietzsche tem um conceito muito bonito que é a vontade de verdade. Ele tem uma leitura crítica, ali no final do século XIX, quando ele escreve, e ele vai detonar o ocidente, detonar a civilização ocidental pela vontade de verdade. Porque ele diz que a vontade de verdade é sempre isso, essa vontade de dar conta daquilo que estaria sempre por trás, como se sempre existisse uma verdade por trás de tudo. E eu acho que essa vontade de verdade é muito masculina, muito masculina, tem que ir sempre por trás do sentido, há sempre um sentido por trás, há sempre algo a ser descoberto. Acho que a mulher, nesse aspecto, está mais no terreno da superfície. Dizer que alguém é superficial é uma crítica, é super pejorativo, porque a superfície foi condenada historicamente, o ocidente condenou a superfície para valorizar a profundidade. A superfície sempre foi uma característica feminina e a profundidade sempre foi uma característa masculina. Os homens eram os profundos, padres, teólogos, professores. As mulheres não.
O Nietzsche vai transvalorar essa categorias de superfície e profundidade, ele vai operar uma inversão: não, a superfície é que é potente, a profundidade é tudo aquilo que é colonizado, é a verdade, a metafísica, a religião, é tudo que é transcendente, isso tudo é muito masculino. E eu acho que a mulher está mais comprometida com a superfície no sentido amplo, porque para o Nietzsche a superfície é infinita, a profundidade tem um fundo, uma hora ela acaba, e a superfície se esprai profundamente.
Mulheres: Mas aí quando a mulher escreve você vê diferença? Se a mulher foi, de certa forma, alijada desse espaço, dessa construção racional, quando ela alcança esse espaço, você percebe alguma diferença? Entre uma mulher escrevendo, por exemplo, uma crítica de cinema, e um homem, há diferença?
Ilana Feldman: Essa pergunta é difícil porque eu me sentiria um pouco leviana para falar sobre isso. Eu realmente precisaria ter um contato muito maior com a produção crítica feminina para fazer uma avaliação minimamente criteriosa. É difícil porque a escrita não é transparente, são tantas máscaras.
Mulheres: e no seu texto?
Ilana Feldman: De mim eu posso falar melhor. Digamos assim, o que seria masculino, uma característica, eu estou falando de uma maneira muito genérica, de uma impressão a partir e uma experiência pessoal. Uma característica masculina na crítica, eu acho, é você citar outros diretores, outros atores, outros filmes. É, por exemplo, trabalhar no regime de citação e de referência cinematográfica. Então para falar de um filme de fulano eu cito um plano de beltrano, um travelling de sicrano e teço essas relações no âmbito da própria história do cinema. Isso, na minha impressão, é que as mulheres fazem menos na crítica, as mulheres, em geral, tratam um filme de modo mais autônomo. Elas tem menos compromisso de dizer de onde vem isso, de que esse plano é uma referência daquele, e te tecer essa colcha de referência de cinema que, às vezes, até pode um pouco alijar um leitor menos preparado.
Mulheres: Então uma característica do masculino na escrita seria uma espécie de comparação, de uma certa forma de disputa embutida quando você compara?
Ilana Feldman: Eu nunca tinha pensado nisso, na disputa, porque a disputa é uma relação de poder. Eu nunca tinha pensado, mas eu acho que pode ser. Mas acho que está dentro desse regime de sistematização, de hierarquização, isso presta, isso não presta. Dificilmente uma mulher vai dizer que esse cineasta deve ser sepultado, que aquele deve virar cânone. Porque isso existe no discurso crítico, que para se legitimar tem que enterrar uns e fazer viver outros, Isso não me interessa na crítica, não me interessa. A crítica não é um instrumento de canonização nem de sepultamento. Dizer que um autor está morto, que um autor já morreu, eu acho muita prepotência e pouco producente, porque se morreu eu estou escrevendo por que? Para que serve isso que eu estou escrevendo? Se eu estou escrevendo é porque eu acho que há alguma coisa que precisa ser dita sobre aquilo ali, por pior que seja. Aquilo tem um impacto, tem uma repercussão, é preciso articular um discurso.
Mulheres: Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre um assunto polêmico. Como você também passou para o lado da realização, você acha ou acredita que existe um olhar feminino no cinema?
Ilana Feldman: Não.
Mulheres: Por que?
Ilana Feldman: Eu acho que é assim. Voltando à questão da superfície e da tradição Socrático-Platônico. O que acontece? Convencionou-se a se chamar olhar feminino tudo aquilo ligado à emoção, ao sensível, a uma impressão subjetiva menos mediada pela razão. Isso é uma convenção. Literatura feminina é subjetivista, fluxo de consciência, Clarice Lispector. Ou quando um homem usa esse tipo de procedimento, desse tipo de artifício de linguagem, é porque ele tem um olhar feminino sobre o mundo. Isso é uma convenção histórica. Quer dizer, se olhar feminino significa isso, essa convenção histórica, ok, eu acredito no olhar feminino. Considerando que esse olhar feminino é um olhar menos comprometido com uma verdade, menos comprometido com a sistematização, com a hierarquisação, com um pensamento organizador, em busca dessa verdade, e tal. Agora, se você fala em olhar feminino como gênero, aí não acredito, eu não acredito. Porque senão a gente está condenado a eterna implosão e impossibilidade do diálogo, quando há diálogo, por mais que seja na crise, na tensão, no conflito, mas há diálogo.
Mulheres: E dentro dessa possibilidade que você acredita, se ele acontece, ele acontece como? É na abordagem, nos temas? Ou é possível na estética?
Ilana Feldman: Eu acho que no tema jamais. É na linguagem, é na forma, aí seria na estética. Se há um olhar feminino, considerando com todas as ressalvas que o feminino não diz respeito ao gênero mulher, ao cromossomo. Considerando que o feminino é um constructo histórico, que significa isso, isso e aquilo, eu acho que isso se revela na estética, na forma, na linguagem. Porque tudo na vida é questão de linguagem. Uma coisa é fazer um filme sobre uma mulher, eu posso fazer um filme de uma perspectiva masculina sobre uma mulher. A mulher pode ser o centro do filme, a protagonista, mas isso não significa que o olhar seja feminino. Ao contrário, se eu fetichizo essa mulher, se essa mulher é mero objeto de desejo do meu olhar, aí é um olhar absolutamente masculino.
Isso eu estava até conversando hoje. Me incomoda muito que sempre o dono do discurso racional é o homem. Em filmes que têm casal, por exemplo, a mulher é sempre o objeto de desejo do homem, a mulher é sempre a imagem e o homem é sempre a palavra. Isso eu estava falando sobre um curta que eu vi recentemente, isso está de forma brilhante em “O Desprezo”, do Godard (Jean-Luc Godar). O personagem do cara é o roteirista, ele é aquele que detém o poder da palavra e do discurso. E a Brigitte Bardot é a atriz, ela é a imagem, ela é o objeto do desejo. Então eu acho que não é da ordem do tema, é da ordem da aproximação, e a ordem da aproximação é a ordem da linguagem.
Mulheres: Passou recentemente na TV Cultura um seminário muito interessante sobre a invenção do contemporâneo, ou seja, um pouco do que a gente está falando aqui. E uma antropóloga disse uma coisa muito interessante. Ela disse que o homem sempre teve sua vida sexual prolongada, que ele tinha prazer sexual até os 60 anos e por aí afora. Já a mulher ia até a menopausa. Com as conquistas sociais e sexuais, a mulher descobriu que a vida sexual dela poderia ser prolongada também. Mas o contemporâneo é uma invenção tão grande, que aquilo que era uma conquista passou a ser esperado da mulher também. Então a mulher tem que ter prazer depois da menopausa, ou seja, é uma conquista, mas é também uma cobrança. Fazendo um paralelo com o cinema. Uma vez eu ouvi a Ana Maria Magalhães dizendo que quando ela fez um dos episódios do filme “Erotique”, baseado na Clarice Lispector, muita gente achou que ela tirar a roupa do ator, já que sempre tiraram a roupa dela nos filmes, mas que ela não tirou – era o Guilherme Leme, o ator. É claro que é a Ana Maria que teria que falar sobre isso, mas não há aí uma atitude que ela identificou como esperada dela?
Ilana Feldman: É, ela projetou.
Mulheres: Então quando você diz que está na linguagem, na estética, como esse olhar feminino aparece e de que forma?
Ilana Feldman: Na abordagem. Voltando à questão da vontade de verdade que o Nietzsche vai identificar como sendo uma mazela do mundo ocidental. Tirar a roupa de uma mulher é vontade de verdade, porque você está sempre querendo ver por trás, qual a verdade daquela mulher. Como se desnudá-la, descobri-la, aí no sentido de des-cobrir, fosse revelar algo de verdadeiro, de profundo sobre ela. Enquanto que para a mulher, o erotismo não está na verdade, não está naquilo que está por trás, não está em mostrar o pênis do cara. O erotismo é da ordem da superfície, o erotismo, ele é muito mais, ele se espraia, ele é muito mais difuso, ele é muito mais epitelial, o erotismo é epitelial. Então a mulher, numa perspectiva feminina, no sentido do sexo, seria não tirar a roupa do homem porque não há interesse nenhum em mostrar o falo, o por trás. Eu não quero ver o que está por trás, o erótico não está na verdade, na verdade de mostrar o pênis do homem, por exemplo, ele nu. Não, isso não interessa, isso não é o erótico, o erótico está na superfície, no epitélio, está na nessa linguagem epitelial, está naquilo justamente que não se mostra.
Daí porque eu acho que essa vontade de verdade é muito masculina, é uma perspectiva sempre muito masculina, de querer revelar alguma coisa por trás. E aí eu acho que uma perspectiva feminina seria trabalhar nessa dimensão do que é difuso, que é o erotismo. A Clarice Lispector, eu acho uma escritora absolutamente erótica, ela tem contos muitos eróticos. Mas é de uma fineza, é tão difuso, é tão sutil, que não há como apontar, “está ali!”. Não, qualquer explicação nesse sentido seria muito simplório, muito redutor.
Mulheres: Então isso de a Ana Maria Magalhães não tirar a roupa do ator é para você uma opção que passa por esse olhar feminino?
Ilana Feldman: Sim, acho que sim. Eu acho que não interessa à mulher. O nú é uma coisa engraçada. Eu acho interessante isso, você vê a pornografia, o discurso da pornografia é esse, da visibilidade total. Pornografia é um sentido amplo, a pornografia faz uma ótica da cultura, tem que ver tudo, tem que mostrar tudo. É a lógica da transparência, é a lógica do reality show, tem que ter acesso à visibilidade, à verdade daquilo. Mas por que eu tenho que ter acesso à essa verdade? Ela é uma ilusão, ela é uma ficção, é uma construção.
Mulheres: Agora vamos falar da diretora. O que te interessou a passar para a realização, a dirigir? Você começou lá no olhar político sobre o cinema, depois o trabalho teórico e depois a realização. E o interessante é que no cinema você tem co-direções.
Ilana Feldman: Eu acho que a realização é uma possibilidade tão boa de tentar, de ação mesmo, de ação ao mundo, porque também a gente age pensando, age escrevendo. Mas às vezes é um trabalho muito solitário. E a realização é solitária também, é uma ilusão achar que o cinema é um trabalho coletivo, não, às vezes o set é uma experiência de solidão absoluta. Para fazer o “Almas Passantes”, por exemplo, eu e o Cléber (Cléber Eduardo) nos sentimos muito sozinhos no set também, por mais que tivesse um grupo ali de colaboradores. Mas é uma possibilidade de ação, é uma delícia construir uma linguagem. Entrar na ilusão de que você pode dominar uma linguagem. Porque é uma ilusão, a linguagem é tão fugidia, os sentidos sempre escapam. E o crítico que realiza vive uma situação à beira do abismo porque, supostamente, ele acha que tem mais controle sobre o sentido que está produzindo. Supostamente, o crítico teria mais consciência de como ele manipula a linguagem, os artifícios, os procedimentos, os cortes, os planos. Mas assim, por mais que ele queira controlar, sempre escapa, a gente nunca tem controle sobre o sentido daquilo que a gente está produzindo.
Mulheres: O “Se Tu Fores”, co-dirigido com o Guilherme Coelho, foi o seu primeiro filme?
Ilana Feldman: Sim, foi.
Mulheres: Ele é de quando?
Ilana Feldman: É de 2001.
Mulheres: Você fez também o “Bem Te Vi”, um curta em 16mm.
Ilana Feldman: Nossa, que perigo (risos), você sabe de todos. O “Bem te Vi” foi na UFF, foi um filme de escola. Na verdade o “Bem Te Vi” era um projeto de uma amiga minha, Fabiana (da Câmara), era um projeto dela, e eu co-dirigi e produzi. O “Se Tu Fores” é um documentário que eu quis muito fazer, junto com o Guilherme, a gente ganhou um prêmio do Itaú Cultural para novos realizadores.
Mulheres: O “Bem Te Vi” é de quando?
Ilana Feldman: É de 2000... 1999.
Mulheres: E como é co-dirigir?
Ilana Feldman: Eu adoro, eu adoro. Eu acho tão rico essa troca, essa possibilidade de trocar, de produzir conflito, produzir crise. Porque eu acho que fazer um filme sozinho, é de novo a questão da solidão, eu acho solitário. Eu preciso de interlocução, eu já sou uma crise permanente, mas aí eu acho ótimo quando isso reflete em alguém, quando eu sou questionada, eu não suporto a idéia de não ser questionada, eu acho insuportável. Sabe essa posição de não ter alguém para te problematizar? E eu acho que a co-direção é sempre um exercício de negociação, de colocar em crise.
Mulheres: Você e o Cléber são casados?
Ilana Feldman: Somos.
Mulheres: E como é essa parceria também no cinema? Dificulta ou facilita? As questões ficam no set ou vão para casa?
Ilana Feldman: Ah, é tão complexo isso. Porque não fica no set. É uma relação de companheirismo e de parceria muito ampla. Então a gente é casado, a gente já escreveu texto juntos, a gente já fez um filme junto, então às vezes se confunde mesmo. Às vezes ele fala uma coisa para mim em casa e eu digo “eu não sou sua produtora” (risos). Isso na brincadeira. Eu acho que não tem como não confundir, emoção é uma coisa confusa mesmo. Mas eu acho que essa confusão, se for bem administrada, essa palavra é um horror, ela é muito potente, muito produtiva.
Mulheres: O “Almas Passantes”, segundo o que o Cléber falou na apresentação do filme, é um projeto seu, não é?
Ilana Feldman: Sim.
Mulheres: Como surgiu esse projeto, essa idéia de junção entre Baudelaire e João do Rio?
Ilana Feldman: Esse roteiro do curta inicialmente nasceu mesmo de um questionamento que tive na academia. Foi em uma aula que eu tive de estética e cultura de massa, em que a gente leu os teóricos da modernidade, como Walter Benjamin, Baudelaire. Toda essa literatura que tematizava a modernidade e a cidade, a questão do choque, do hiper-estímulo, da flanery. A partir disso eu li uma monografia de uma colega que juntava dois personagens conceituais, Baudelaire e João do Rio. E era um diálogo entre obras. A partir dessa monografia eu tive a idéia então de fazer um roteiro de ficção para um curta-metragem que seria um diálogo, mas que esse diálogo não ficasse todo conceito, que eu pudesse trazer o diálogo para o plano da experiência. Como eu posso pegar personagens que existiram, personagens que tem uma bagagem literária, uma responsabilidade enorme, como é que posso atualizar essa obra no nível da experiência, trazer para o nível da experiência e atualizar para o Rio de Janeiro contemporâneo?
Porque a minha indagação inicial era que tudo que foi dito no final do século XIX e início do século XX é o que dizem agora como sendo a pós-modernidade. Mas está tudo lá, a fragmentação, hiper-estimulação, desatenção, o choque. Toda essa experiência moderna com o espaço público, com a cidade, que hoje é dito como o pós-modernismo, isso, de certo modo, já está no berço da modernidade. Então eu queria atualizar isso para o Rio de Janeiro contemporâneo. Eu pensei “bom, nada mais interessante do que trazer esses personagens para o presente e tentar acompanhá-los numa flanery, numa viagem, como é que eles reagiriam chegando em um Rio de Janeiro contemporâneo. De que modo essa obras continuam atuais, mais de um século depois continuam valendo para o presente.
Então a partir daí surgiu a idéia do roteiro. A primeira versão foi feita com a Fabiana da Câmara, que é a diretora também do “Bem Te Vi”, e depois eu o inscrevi na RioFilme e ele ganhou um prêmio. Mas durante muito tempo eu achei muito difícil realizar esse filme, era um fantasma, eu entrava em pânico só de pensar em decupar o filme no centro da cidade, porque é muito difícil também essa questão da escolha, da perspectiva. Ao estar no centro você tem mil possibilidades de apontar a câmera, são possibilidades infinitas de recortes no espaço. Eu queria dar conta de tanta coisa! Da questão da superposição arquitetônica, como é que você tem no centro do Rio, arquitetura colonial, arquitetura eclética, arquitetura do império, arquitetura da república, arquitetura moderna, como isso pode estar no espaço, estar no som? Como eu posso construir também camadas sonoras de vários tempos? Eram tantas opções desmedidas, que eu fica inibida frente à minha pretensão. E aí eu conheci o Cléber, a gente começou a namorar e ele foi uma presença fundamental para eu conseguir realizar isso. Ele dizia “vamos decupar, vamos esquecer o conceito e partir para a experiência mesmo, como é que a gente pode organizar isso cinematicamente”.
Mulheres: Eu adorei a trilha sonora, porque ela é ampla, mas o interessante é que ela não se confunde. São várias tipos de música, mas elas estão todas ali naquele bojo, naquele meio, de uma forma muito interessante. O seu primeiro curta também tinha na música um componente importante, não é? É um documentário sobre sambistas, tem o Walter Alfaiate. Como se dá esse entendimento cultural pela música no seu cinema?
Ilana Feldman: É, eu gosto muito de música, mas de uma maneira nada sistemática, não sou nenhuma estudiosa. Mas o que me interessava no caso do “Almas Passantes” era criar um discurso sobre a música, um discurso musical, quer dizer, como é que eu posso na construção da imagem e na construção do som produzir uma convergência de interesse. Porque o som, para mim, em geral, é vilipendiado no cinema. No audiovisual, o visual é sempre mais importante do que o som, que é da ordem do imaterial. Então é realmente muito difícil lidar com ele, muito sensorial. Então eu queria que o som do “Almas Passantes” produzisse uma cacafonia e uma sensação de caos em diálogo com o hiper-estímulo da imagem também. O centro da cidade é um lugar fascinante para isso, porque você ouve de tudo, tem todos os barulhos do mundo, é o churrasquinho de gato, é o funk, é a performance urbana, é o barulho das pessoas. É um lugar assim de uma profusão musical de tantas ordens, que eu acho isso fascinante, como é que isso são vários tempos históricos também.
Então a gente optou por trabalhar, por construir uma camada sonora de som ambiente, mas usar em um dado momento o funk, em um dado momento o rap, uma chaison francesa, ou um canto afro que está sendo executado ali no largo da carioca. Isso então era uma preocupação mesmo, de construção desse universo sonoro. Isso foi uma das partes mais prazeirosas do filme, a edição de som, foi muito bom. E aí nesse escopo contemporâneo do som, também trazer elementos do som do passado. Eu acredito num certo acúmulo temporal, assim como a gente tem um acúmulo na arquitetura, isso é visual. Como trabalhar no acúmulo? Então tem uma música da Chiquinha Gonzaga, tem uma narração das Casas Edson de 1901, isso está presente também.
E aí você me pergunta em relação ao documentário que eu fiz anteriormente sobre os sambistas da Velha Guarda da Portela, que era o Jair do Cavaquinho, o Walter Alfaiate, e a Tia Surika. No caso, eu acho que para além da música, a questão fundamental que tem é o tempo, não é nem a música. Porque em ambos os universos há um deslocamento de tempo. Baudelaire e João do Rio, por mais que Baudelaire seja a figura do distanciamento e o João do Rio a figura da interação, eles são deslocados, há um deslocamento temporal. No caso do “Se Tu Fores”, dos sambistas, o que mais me impressionava era o deslocamento. Como é que a música deles estava em muita sintonia e expressava subjetivamente esse deslocamento que eles tinham em relação ao mundo contemporâneo. Quer dizer, eles personificavam, aqueles sambistas personificavam valores que não existem mais, um protocolo do comportamentos, de valores, um certo lirismo, uma certa poesia, um certo modo de aproximação do homem com a mulher. Protocolos mesmo de comportamento que é do passado, e, de certo modo, esses sambistas expressavam esse deslocamento existencial. Eu acho que essa questão desse tempo, que está dentro de tempo, mas também está fora, é, na verdade, meu grande interesse sempre, em lidar com esses personagens. Personagens que estão dentro, mas também estão fora.
Mulheres: Em cada vez que a Hermila Guedes aparece em um filme, sua aparição puxa o olho para ela imediatamente. No caso de “Almas Passantes” foi com a Helena Ignez, com uma aparição absolutamente arrebatadora, caminhando daquele jeito. Como foi a escolha dos atores e também como foi trazer a Helena para o filme?
Ilana Feldman: A Helena foi um presente, porque para mim foi uma escolha que não poderia ser mais adequada. Inicialmente, a passante seria uma mulher qualquer, qualquer mesmo, uma não-atriz. Eu queria uma mulher que passasse de um modo fugidio, porque é isso uma passante, aquela por quem você não consegue apreender aquela imagem, aquela imagem está sempre à deriva. E eu queria uma mulher mais velha, queria por causa da questão do tempo de novo, queria uma mulher que tivesse marcas na pele, rugas. O Nelson Cavaquinho tem uma música linda que diz “as rugas fizeram residência no meu rosto”. Eu queria uma mulher com várias residências no rosto, que não fosse uma jovenzinha, que fosse uma mulher com o corpo carregado de história.
Uma vez eu fui com Cléber ver o “Rio Ota” (“Os Sete Afluentes do Rio Ota”), que é uma peça que a Helena fazia da Monique Gardenberg. A Helena apareceu e eu fiquei pensando “gente, essa mulher é ótima”, e ela é a “Mulher de Todos” do Sganzerla (Rogério Saganzerla). E a passante é uma mulher que é de todos e não é de ninguém. E aí a gente começou a pensar, nisso de uma mulher mais velha, e no caso da Helena ela carrega a história do cinema brasileiro, através dela descortina-se tantas coisas. A gente achou que seria muito interessante que ela fizesse essa participação especial e que ela fosse a passante, ela fosse um corpo. Aliás, como ela sempre foi no cinema, o cinema sempre explorou muito esse lado corporal, ela é uma atriz muito mais de corpo que de rosto. E a escolha foi essa, foi por tudo isso, porque ela é a mulher de todos, porque ela é a mulher de ninguém, porque ela tem essa relação com o corpo, porque ela tem essa relação com a história, com a história pessoal dela, com a história do cinema brasileiro. A gente achou que poderia ser, mais do que uma referência cinefílica, mais uma camada de significação. Para o público entendedor que a conhece compreende, mas eu acredito que quem não conhece Helena Ignez também não fica alijado completamente daquilo. Eu acho que pode não ser um problema também para quem não a conhece.
Mulheres: Essa foi a segunda exibição do filme. Como é acompanhar esse momento?
Ilana Feldman: É maravilhoso, principalmente quando a gente se surpreende. Nada mais chato do que achar que tem algum controle sobre o sentido do que você está produzindo. E o filme me surpreendeu muito, porque como ele é tão conceitual, ele nasceu de uma viagem acadêmica, parte de personagens que existiram, personagens que têm uma bagagem literária, que são super importantes na literatura, uma responsabilidade enorme de conseguir traduzir isso numa experiência cinemática. E o que mais me surpreendeu foi que as pessoas que mais se emocionaram com o filme, que mais sinceramente ficaram mobilizadas são pessoas leigas, digamos assim. Não são pessoas que têm uma bagagem teórica, que têm uma bagagem de crítica. Isso é uma surpresa muito grata, porque aí eu acho que fico tranqüila, porque o que eu queria era a partir das questões intelectuais ir para a questão da experiência, fazer um filme sensorial com personagens intelectuais, digamos assim.
Como eu faço um filme sensorial com isso? Como construir uma linguagem do sentido, que é a linguagem do fluxo, que é a linguagem da flanery? a flanery é sensorial. E aí, nesse sentido, é muito surpreendente ter um retorno positivo de pessoas que não necessariamente compartilham dessas experiências. Aí a gente pode até voltar naquela questão do texto, quer dizer, eu posso partir de uma referência super erudita, digamos assim, mas isso pode ser acessível, tudo depende do modo como você se aproxima, da linguagem, da abordagem.
Mulheres: Você pretende dar continuidade à carreira de diretora, de curtas, de longas?
Ilana Feldman: Penso. Eu e o Cléber temos um projeto de curta que a gente está enviando para os editais, São Paulo, Minc. Longa eu não penso não, acho muita responsabilidade, é uma outra selva. Mas sempre em projetos muito pessoais. Eu não me vejo como uma cineasta profissional, não tenho esse interesse, não quero viver de cinema. Mas acho que o cinema é um meio de expressão maravilhoso e de alcance que, por mais que seja muito restrito o nicho de pessoas que estão vendo, mesmo assim ele tem um alcance para além da palavra que é emocionante.
Mulheres: Que mulher te chama atenção entre as que estão dirigindo hoje? E também no universo da reflexão, do pensamento cinematográfico?
Ilana Feldman: No Brasil?
Mulheres: Sim.
Ilana Feldman: No longa-metragem eu confesso que... No longa eu não saberia dizer “essa mulher me chama atenção”. Eu não faço muito essa distinção. Mas como personalidade feminina também não há nenhuma mulher no longa que me mobilize. No curta-metragem você vê mais realizadoras, eu acho que é um movimento que está começando mais agora a se intensificar. No curta você tem muito mais diretoras do que em longas.
Mulheres: Quem você citaria?
Ilana Feldman: A Juliana Rojas, por exemplo, que fez um curta junto com o Marco Dutra, eles também são parceiros de criação. Eles fizeram um curta que me emocionou muito chamado “Um Ramo”, um curta muito bonito, muito impressionante. Você vê muito em programação de curtas bons filmes com diretoras. No longa no Brasil eu acho que é um pouco menor. A gente tem Tata Amaral, Laís Bodanzky...
Mulheres: E no campo da reflexão?
Ilana Feldman: pausa... a Tatiana Monassa, da Contracampo, é uma menina muito talentosa. Mas não é uma relação de reverência, entende? Não tenho essa figura, uma figura que possa me reportar como sendo uma espécie de mestre, de muita reverência. Não tenho nem na reflexão, nem na realização de longas-metragens. Essas diretoras são boas, cada uma a seu modo fez filmes muito interessantes, mas para mim não são mais marcantes porque elas são mulheres. Por exemplo, o Karim Aiñouz. Eu acho que ele tem um olhar feminino naquele sentido, o olhar que ele deita sobre a Hermila (Guedes), eu acho muito feminino, de uma delicadeza, de um modo tão sutil de lidar com a experiência subjetiva da personagem muito impressionante. O cinema da Tata Amaral, nesse sentido, é um cinema muito masculino.
Mulheres: Qual o último filme brasileiro que você assistiu, que não seja em mostra ou em festivais?
Ilana Feldman: Que não seja em mostras? Nossa, eu sempre te frusto nessas perguntas mais objetivas. Essas perguntas que dependem de enumeração são difíceis. Na Mostra de Tiradentes eu vi toda a produção que foi exibida e toda a produção do Aurora, quer dizer, todos os filmes dos novos realizadores. Isso foi em janeiro. Depois em fevereiro eu fui muitas vezes ao cinema, mas foi para ver esses filmes oscarizáveis. Eu, não fui ver filme brasileiro no cinema no mês de fevereiro. Então os últimos filmes brasileiros que eu vi foi lá em Tiradentes, e como eu participei do debate sobre o “Corpo”, filme da Rossana Foglia e do Rubens Rewald, eu o assisti lá e também o vi muitas vezes em DVD antes de revê-lo lá no cinema. Então eu não sei te dizer qual foi o último filme brasileiro que eu vi no cinema sem ser esses filmes da Mostra e os que eu vi em DVD. Eu realmente não me lembro.
Mulheres: Eu sempre convido minhas entrevistadas para homenagearem uma mulher do cinema brasileiro, de qualquer área e de qualquer época.
Ilana Feldman: pausa... Eu gosto muito da Lina Chamie, eu acho uma figura muito interessante. Aliás, o filme dela é também bem interessante, o “Via Láctea”. É uma pergunta difícil porque eu nunca pensei nesse sentido, sobre uma mulher que eu homenagearia. Mas a Lina é uma figura que eu gosto muito, dos interesses estéticos dela, da figura humana, gosto muito, Mas eu ainda poderia continuar pensando sobre isso, porque pergunta assim de sopetão a gente sempre falha.
Mulheres: A intenção é essa mesma, é a de quem vem de imediato.
Ilana Feldman: Mas eu acho que há uma coisa a se notar. No curta-metragem tem uma geração de mulheres fazendo filmes, na própria Mostra de Tiradentes eu vi curtas de mulheres muito interessantes. Então eu acho que é um campo, é uma tomada de posição. A mulher está passando mais para a realização, ela está se tornando sujeito do olhar, porque ela sempre foi objeto do olhar. Eu acho que isso é mesmo uma tendência do audiovisual contemporâneo.
Mulheres: Obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada em março de 2008, na "I Mostra Filmes Polvo de Cinema e Crítica".

Veja também sobre ela