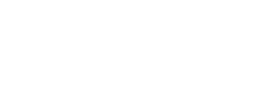Dilma Lóes
 A atriz, roteirista e cineasta Dilma Lóes nasceu no Rio de Janeiro em 22 de julho de 1950. Desempenhou ainda no cinema outras funções técnicas. como continuísta, montadora, diretora de arte, produtora, produtora executiva, sonoplasta e figurinista. Dilma Lóes nasceu em ambiente artístico – filha dos atores Lydia Mattos e Urbano Lóes - daí sua vocação natural para as artes cênicas. “Naquela época, existia um grande preconceito contra artista. Era discriminada na escola por professores só porque era filha de artista, que era considerado meio marginal, persona non grata. Tudo foi fluindo naturalmente para que eu seguisse os mesmos passos dos meus pais, já que cresci numa atmosfera de expressão artística, era naquele ambiente que me sentia confortável”. Seus primeiros filmes como atriz na décadas de 1960 foi em duas produções estrangeiras. No cinema brasileiro começa em Parafernália, o dia da caça, de Francis Palmeira. No ano seguinte, atua, entre outros, em Ascensão e queda de um paquera, de Victor Di Mello, cineasta que terá participação ativa em comédias eróticas de sucesso dos anos 1970 e com quem se casa. “Eu e Victor Di Mello fomos parceiros em alguns filmes. O que nós dois tínhamos em comum era o desejo de fazer comédia. Humor pra nós dois era fundamental. A nossa grande diferença é que ele, talvez por pressão dos produtores que visavam sempre o lucro, ou talvez por ele mesmo, por ser homem e achar que era importante ter mulher nua nos filmes, tinha sempre essa preocupação de criar cenas de sexo com mulheres nuas. Eu gostava de criar as cenas de comédia.Tentava forçar uma barra para ser feito um roteiro com mais conteúdo”. Dilma Lóes atua também em novelas, como "Pigmaleão 70" e "O Bem-Amado", mas sua praia sempre foi o cinema. “Além das novelas, trabalhei dois anos em "Os Trapalhões", em que tive a grande felicidade de conhecer o Dedé Santana, pessoa extraordinária. Gostei de trabalhar nas comédias. Novela não combina muito com o meu temperamento”. Entre tantos filmes em que atuou está o clássico Essa gostosa brincadeira a dois ( 1973, Victor di Mello). “Foi uma delícia fazer. Mossy já tinha sido parceiro em outro filme, é um grande ator e grande amigo também, foi muito bom trabalhar com ele. E dirigiu vários trabalhos: “Todos os documentários que produzi e dirigi foram resultados do desejo de mostrar uma situação que precisa ser mudada, etc”. Nesta entrevista exclusiva ao Mulheres do Cinema Brasileiro, Dilma Lóes fala do início da carreira, os trabalhos na televisão e no cinema, sua experiência em morar fora do Brasil, as questões sociais que lhe interessam e indignam como o racismo que retratou em Quando o Crioulo Dança, e muito mais. Mulheres do Cinema Brasileiro: Qual é a sua formação de atriz? Começou pelo teatro, TV ou cinema? Dilma Lóes: Formação prática. Só fiz um curso de teatro depois de uns 13 anos de profissão. Comecei fazendo figuração em TV no programa do Agildo Ribeiro e Paulo Silvino, chamado "TV Ó Canal Zero". MCB: Como foi a convivência com a família de artistas, pai e mãe? Isso te influenciou na escolha da carreira artística? DL: A convivência foi muito saborosa, mas também dolorosa. Saborosa porque quase todos os finais de semana a casa ficava cheia de amigos que iam para lá cantar e fazer música. Meu pai era letrista, minha mãe fazia música, e era uma grande alegria aquela cantaria nos finais de semana. O lado doloroso era a falta de tempo deles para participarem mais do dia-a-dia dos filhos. Naquela época, existia um grande preconceito contra artista. Era discriminada na escola por professores só porque era filha de artista, que era considerado meio marginal, persona non grata. Tudo foi fluindo naturalmente para que eu seguisse os mesmos passos dos meus pais, já que cresci numa atmosfera de expressão artística, era naquele ambiente que me sentia confortável. MCB: Você estreou no cinema fazendo duas produções estrangeiras. Como se deu isso? DL: Estava fazendo figuração em um filme espanhol chamado Sumuru, o Beijo da Morte e Roberto Baker, o produtor do filme, me chamou para fazer um teste para ser protagonista do episódio brasileiro de um seriado francês chamado Les Globbe Troter. Como o diretor do filme não tinha encontrado uma atriz profissional com o tipo físico que ele queria, abriram teste para amadoras, fiz o teste e ganhei o papel. O segundo filme foi uma produção da Universal Pictures dirigida por Paul Stanley, com Vic Morrow e Edmond O’Brain. Eles estavam fazendo teste com atrizes entre 25 e 28 anos que falassem inglês fluente. Eu não falava inglês e tinha 18 anos. Fui lá com uma maquiagem pesada, peruca preta comprida, cílios postiços, aparentando uns 25 anos. Pedi o texto à produção, decorei com uma tia que era professora de inglês, fiz o teste e fui aprovada. Quando o diretor veio conversar comigo em inglês, ficou surpreso que eu não falava a língua porque achou a minha pronúncia ótima. MCB: E no cinema brasileiro, como foi a sua estreia? DL: A estreia no cinema brasileiro foi com o filme Parafernália, o dia da caça, de Francis Palmeira, um diretor sensível, gostei de fazer o filme. MCB: Dá para você relembrar os quatro primeiros filmes brasileiros que trabalhou, e os respectivos diretores – Francis Palmeira, Mozael Silveira, Alberto Salvá, e Geraldo Miranda e Pio Zamuner? DL: Parafernália, o dia da caça foi um filme de produção independente, com pouco dinheiro. A garra e o idealismo do Francis contagiou todo o elenco. O segundo filme, Meu nome é Lampião, do Mozael Silveira, foi uma produção do Roberto Farias com certo recurso e estrutura. O terceiro foi Vida e glória de um canalha, do Alberto Salvá, com pouco recurso financeiro, mas muita criatividade, que é a marca registrada do Salvá. O quarto filme foi uma produção do Mazzaropi (Betão Ronca Ferro, 1970, Geraldo Miranda e Pio Zamuner) , oficialmente dirigido pelo Pio Zamuner, mas era o Mazzaropi que no final fazia tudo do jeito que ele queria, não respeitava ninguém, nem equipe, nem atores. Mas ele pagava três vezes mais do que os outros produtores e por isso as pessoas aceitavam trabalhar com ele. MCB: Com o cineasta Alberto Salvá você fez três filmes. DL: Sempre gostei muito de trabalhar com o Salvá. Ele é um ótimo diretor. É sensível, aberto à ideias, deixa o ator criar. Ele é uma pessoa muito generosa e especial. MCB: Gostaria que você comentasse sobre o filme Revólveres não Cospem Flores. DL: Revólveres não Cospem Flores foi um filme que adorei fazer. Adoro o Salvá. Ele é um diretor muito sensível, talentosíssimo, simples e instintivo, e usa a sensibilidade em benefício do filme e do trabalho do ator. É o diretor que mais gostei de trabalhar, que mais me senti à vontade, que mais me deixou livre para encarnar os personagens. O personagem do Revólveres não Cospem Flores foi crescendo , tomando conta de mim, e ele foi deixando acontecer e interferindo o mínimo para não quebrar aquela energia forte que estava acontecendo. É o que considero um trabalho de arte, é como uma dança, em que quem leva é a música, a gente só tem que seguir. Se começar a entrar o racional, pensando que passo que vou fazer depois daquele, vai estragar tudo, porque vai virar uma fórmula, linha de montagem, todos dançando igual, sem alma. O Revólveres foi o resultado de um trabalho de expressão livre das almas, com momentos mágicos. MCB: Como se deu o seu encontro com o cineasta Victor Di Mello, com quem veio a se casar? DL: Nos conhecemos na Fiorentina, um restaurante no Leme, onde a classe artística frequentava nos anos 1960 e 70. MCB: Você e o Victor construíram uma parceria de sucesso no cinema. Dá para vocêfalar um pouco mais sobre isso? DL: Eu e Victor Di Mello fomos parceiros em alguns filmes. O que nós dois tínhamos em comum era o desejo de fazer comédia. Humor pra nós dois era fundamental. A nossa grande diferença é que ele, talvez por pressão dos produtores que visavam sempre o lucro, ou talvez por ele mesmo, por ser homem e achar que era importante ter mulher nua nos filmes, tinha sempre essa preocupação de criar cenas de sexo com mulheres nuas. Eu gostava de criar as cenas de comédia.Tentava forçar uma barra para ser feito um roteiro com mais conteúdo. O Victor me ajudava, tentava convencer os produtores, mas o foco maior era no que eles consideravam que dava dinheiro, que eram mulheres nuas. Então, dentro dos limites permitidos, fazíamos comédia e eu tentava introduzir algum conteúdo nas histórias. MCB: Como se deu a passagem da atriz para as outras áreas? Foi influência do Victor di Mello, ou você já pensava nesses caminhos? Veio dessas experiências anteriores em época de colégio quando escrevia as peças e atuava? DL: Na verdade nunca me senti uma profissional de alguma coisa. Sempre me expressei artisticamente de várias formas, desde criança. Já trabalhei em dezenas de profissões e gostei de todas justamente porque não me sentia uma profissional só daquilo. Gosto de sentir minha alma livre para fazer o que tiver desejo de fazer. Gosto de experimentar, de aprender, conhecer o novo, testar coisas novas, etc. Considero meu melhor talento as minhas ideias, que podem ser expressas através de um roteiro, um conto, como também no projeto de uma casa, num novo passo de dança ou um projeto de melhoria social. Então, por ser desse jeito, não fico em nenhuma situação ou profissão que sinta que esteja adormecendo meu potencial humano. Quando tinha nove anos, escrevi e dirigi minha primeira peça de teatro na escola. Era um musical. Adoro música e dança, é uma das formas de expressão de que mais gosto. MCB: E o teatro profissional? DL: Trabalhei em três peças. Duas comédias, adoro comédia, e uma infantil. A primeira foi em 1969, "Frank Sinatra, 4816", com o Paulo Gracindo e Henriette Morineau, pela qual recebi o prêmio Diário de Notícias de Atriz Revelação de teatro de 1969. A outra peça foi "Vejo um vulto na janela", me acudam que sou donzela, da Leilah Assunção, em 1981. A terceira peça foi o musica infantil "Se a Banana Prender, o Mamão Solta", de minha autoria e direção. MCB: Como foi atuar em novelas? DL: A primeira foi em 1968, na TV Tupi, "O doce mundo de Guida", direção de Cardoso Filho. A segunda foi "Pigmaleão 70", dirigida por Regis Cardoso (na Globo). Era uma comédia, adorei fazer. Depois foi "O Bem amado", dirigida por Regis Cardoso, também comédia, mas meu papel era sério. Atuei também em "Tempo de Viver", direção de Marcos Andreucci, com Reginaldo Farias e Paulo César Peréio. Foi em 1972. Além das novelas, trabalhei dois anos em Os Trapalhões, em que tive a grande felicidade de conhecer o Dedé Santana, pessoa extraordinária. Gostei de trabalhar nas comédias. Novela não combina muito com o meu temperamento. MCB: Quais são os filmes que mais gostou de participar, seja como atriz ou em outras áreas? DL: River of Mistery, de Paul Stanley, Revólveres não Cospem Flores, do Alberto Salvá, Quando as Mulheres Paqueram, de Victor Di Mello , Essa Gostosa Brincadeira a Dois, de Victor Di Mello, e Quando o Crioulo Dança, dirigido por mim. MCB: Como foi trabalhar na produção do único filme dirigido por Jô Soares, O Pai do Povo? DL: Foi ótimo. Uma equipe harmônica, ótimos profissionais. MCB: Gostaria que você comentasse sobre Essa Gostosa Brincadeira a Dois e a parceria com o Carlo Mossy nesse filme. DL: Essa Gostosa Brincadeira a Dois foi uma delícia fazer. Mossy já tinha sido parceiro em outro filme, é um grande ator e grande amigo também, foi muito bom trabalhar com ele. MCB: O que você pensa sobre as chamadas pornochanchadas, as comédias eróticas da década de 1970, tão atacadas pela crítica na época? DL: Algumas pornochanchadas eu gostava muito, e de pornô não tinham nada. Outras achava de mau gosto. Todas tinham uma mesma característica, que era mostrar só o ponto de vista masculino, já que na época só os homens faziam os roteiros, só os homens dirigiam os filmes e só os homens produziam. Então na tela era visto só uma parte da realidade. O que a mulher sentia não era retratado naqueles filmes. Por isso gostei de participar do roteiro de Quando as Mulheres Paqueram, porque foi a introdução da visão feminina. Foi minha primeira participação em roteiro de longa metragem. Alguns bons críticos não falavam mal, faziam uma boa análise do filme elogiando os pontos bons e criticando os ruins. Quando um crítico falava mal, mas o filme dava um bom retorno financeiro, os diretores não ficavam chateados. E os filmes costumavam ter um ótimo retorno. MCB: Nos anos 1980, você passa para a direção. Como foram esses trabalhos? DL: O primeiro filme que dirigi foi um curta-metragem em 1972 chamado Morrendo a Cada Instante, sobre a destruição do meio ambiente no Brasil. Eu tinha feito uma pesquisa e, já naquela época, 1000 árvores por dia eram arrancadas na Amazônia. O documentário terminava com uma cena de ficção em que pessoas andavam nas ruas usando máscaras contra poluição. O filme participou do festival JB de curta- metragem e, na época, como quase ninguém sabia sobre a destruição do meio ambiente no Brasil, a crítica falou mal do filme, chamando o filme de paranóico. MCB: Dá para você falar mais sobre os filmes que produziu e/ou roteirizou e/ou dirigiu, especialmente o Quando o Crioulo Dança, além dos que já falou? DL: Gosto muito de ver as pessoas felizes, por isso gosto de fazer comédia. Se vejo uma situação errada procuro ajudar a melhorar. Sempre fui assim. Arte pra mim é expressão pura da alma, uma energia que sai da gente e atinge a alma de outras pessoas. Então quando vejo uma coisa errada e não tenho como mudar, vem logo uma ideia de um filme, um conto, um projeto social ou alguma ação que possa contribuir para melhorar aquela determinada situação. Todos os documentários que produzi e dirigi foram resultados do desejo de mostrar uma situação que precisa ser mudada, etc. Foi assim com o Morrendo a cada instante, em 1972, sobre a destruição da natureza. Só Amor não basta, em 1978, é sobre as mães de baixa renda que saíam de casa deixando seus filhos em péssimas condições para irem trabalhar. O documentário/ ficção Nossas Vidas, em 1985, é um painel sobre a mulher brasileira da época, é um filme irreverente, com situações engraçadas, mas tratando de um assunto sério. O documentário/ficção Quando o Crioulo Dança, em 1988. Sempre me incomodou muito o racismo no Brasil, especialmente porque era velado, aí é muito difícil para uma pessoa negra dizer que era vítima de racismo, porque era chamada de louca, já que "no Brasil não existia racismo". Então aproveitei um concurso de roteiros promovido pela Ford Fundation sobre o racismo no Brasil para criar um roteiro em que pudesse falar tudo que pensava sobre o assunto e reproduzir cenas de racismo que as pessoas negras viviam no seu dia-a-dia, e, que de alguma maneira, pudesse tocar o coração das pessoas brancas. O roteiro foi um dos vencedores e então a Fundação Ford produziu o vídeo. Quando o documentário ficou pronto, exibi em diversas organizações da comunidade negra e as pessoas choravam emocionadas por verem suas vidas bem retratadas no vídeo. Inscrevi o documentário em dois festivais, mas não foi classificado nem para a pré-seleção. Achei meio estranho o fato de que todos os negros que assistiam saíam tão emocionados e o filme não se classificar nem na pré-seleção. Em uma das exibições, convidei o Grande Otelo e, no final, ele me falou seriamente: Não perde seu tempo tentando entrar nos festivais daqui. Ninguém vai aceitar o seu documentário, porque todo mundo nega que existe racismo no Brasil. Manda o seu trabalho lá para fora que ele vai ser muito bem recebido. Ele é forte e sincero. Depois, se ganhar alguma coisa lá, todas as portas vão se abrir aqui. Aí, já meio descrente de qualquer coisa e deprimida porque não conseguia exibir o documentário, juntei minhas últimas forças, pensando nas palavras do Grande Otelo, e enviei o documentário para o festival de Nova York, onde ganhou medalha de Bronze, competindo com mais de 3.000 documentários. Depois disso, claro, o filme começou a ser exibido e aceito nos festivais. Dez anos depois, o Ministério da Educação comprou 3.000 cópias e incluiu o documentário no treinamento dos professores da rede pública, em um trabalho contra a discriminação racial dentro das salas de aula. O roteiro do filme de ficção de um minuto A Regra da Noite, em 1992, foi fruto da minha necessidade de fazer comédia. O roteiro acabou premiado no Festival de Vítória. MCB: Por que você se mudou para os Estados Unidos? Como foi a experiência lá? DL: Porque perdi o interesse em viver no Brasil. Muita violência, minha casa tinha sido invadida, meu filho, na época com nove anos, ficou apavorado, não queria mais dormir sozinho, não queria mais morar no apartamento. Aí achei que era a hora de sair e mostrar para ele que Brasil era um pedacinho bem pequeno do planeta, que existiam muitos outros lugares onde a vida era diferente daqui. A experiência foi maravilhosa em todos os sentidos, pra mim e para o meu filho. Lá é um exemplo concreto de uma sociedade democrática, em que todos podem prosperar porque o dinheiro circula em toda sociedade, não fica retido nos bolsos de poucas pessoas como acontece aqui. Qualquer trabalho é bem remunerado, qualquer pessoa pode prosperar, o sistema funciona muito bem. Na primeira semana que estava lá, meu filho ficava brincando nas rua porque tinha acabado de chegar e ainda estava vendo escola para ele. De repente, um policial bate na minha porta perguntando porque ele não estava na escola e eu expliquei que tinha recém-chegado do Brasil, e ele me disse que toda criança tinha que ficar na escola, senão os pais vão presos. Me deu uma semana para colocar meu filho na escola. O ônibus da escola pegava o meu filho na porta e trazia de volta. Outro mundo, outras possibilidades, respeito, educação e segurança passaram a fazer parte dos meus dias. E quanto mais distante, mais claro ficava para mim que a estrutura social do Brasil mudou muito pouco desde a invasão dos portugueses em 1500. Tudo girava em torno dos interesses da corte portuguesa, que só tirava as riquezas daqui sem dar nada, sempre roubando, escravizando. A renda continua retida nos bolsos de poucos, não circula, muito poucos podem prosperar. Nos Estados Unidos me realizei trabalhando em diversas coisas. Tive uma empresa de exportação por oito anos, me formei em hipnose e regressão de vidas passadas, me espiritualizei, tratei de pessoas, escrevi contos para um jornal brasileiro e trabalhei na HBO fazendo trailers para o Brasil. MCB: Como foi voltar ao Brasil, depois de tantos anos? DL: No primeiro ano foi muito difícil, é uma total desadaptação. Você já não é a mesma pessoa, já não vê o mundo da mesma maneira que antes, não gosta das coisas que antes gostava e gosta de outras que são estranhas aos seus amigos. Alguns amigos já não tem mais nada em comum com você e você com eles, seus valores mudaram, mas você volta para o mundo de antigamente e isso é muito estranho. Demora um tempo pra construir uma nova vida com seus novos amigos, que você nem sabe ainda quem são e onde estão. Reacostumar com a má distribuição de renda, que só permite poucos prosperarem na vida... difícil. No segundo ano foi menos pior. Agora, o lado muito bom foi estar novamente perto da família, da Vanessa, da minha mãe, que são pessoas muito importantes para mim, e também dos amigos que são para sempre, aqueles poucos que sobrevivem a todas as mudanças. A Cléa Simões, uma grande atriz a quem era muito apegada e que foi minha madrinha de casamento, uma mulher extraordinária e uma heroína por ter conseguido se firmar como atriz, em um Brasil tradicionalmente racista, e que por décadas negou esse racismo, mas confinou os atores negros aos papéis de subalternos. À Cléa Simões, aqui fica aqui minha homenagem e muita, muita saudade. MCB: Você faz parte de uma família de artistas há três gerações. Como foi atuar ao lado da sua filha, Vanessa Lóes, em O Amigo Dunor? DL: A Vanessa é uma artista nata, especialmente para artes plásticas e pintura. Desde pequena se destacava na escola com seus desenhos e a habilidade para as artes. Ela fez o filme quando tinha oito anos. Fez muito bem, está muito natural no filme. Como fiquei fora 10 anos, não acompanhei a carreira da Vanessa. O que eu vi, gostei. Assisti alguns tapes dos trabalhos dela que ela levava quando ia me visitar em Miami. MCB: Você está envolvida atualmente em algum projeto? Cinema, televisão,teatro? Não anda com saudades das telas? DL: Tenho três projetos que penso em fazer um dia, mas não por agora. Dois longas-metragens e um documentário média-metragem. Os longas são ficção. Um é um argumento que tenho há quase 30 anos chamado João virou doutor, ambientado no Rio dos anos 1960, e o outro é o filme da peça infantil que fizemos, Se a banana prender, o mamão solta, um musical lindo e engraçado. Esses dois daria para alguém dirigir. O João virou doutor só consigo imaginar o Bruno Barreto dirigindo. O infantil não pensei em ninguém. O documentário de media-metragem tem o título O Brasil que poucos conhecem. É um trabalho de pesquisa, que, na verdade, já estou fazendo há alguns anos, mas preciso ainda ir à Portugal, na Torre do Tombo, onde estão todas as informações das primeiras pessoas expulsas para o Brasil pela inquisição. A maioria era judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo, se separarem de seus familiares e vieram viver no Brasil. Aqui, alguns ainda tentaram cultivar sua cultura, mas eram perseguidos pela inquisição, acusados de serem "judiazantes". Muitos espalharam-se pelo nordeste e pararam de praticar sua religião, mas a cultura enraizada no jeito de ser foi transmitida através de muitas gerações. Então muitos de nós e muito da cultura brasileira é de origem judaica, mas a maioria não sabe. MCB: Qual foi o último filme brasileiro a que assistiu? DL: O último filme foi O Dia em Que Meus Pais Saíram de Férias (2006, Cao Hamburger). Gostei muitíssimo. MCB: Sempre convido minhas entrevistadas para homenagear uma mulher de qualquer época e área do cinema brasileiro. Quem você quer homenagear? DL: A homenagem vai para a minha mãe Lidia Mattos, de quem sou grande fã como atriz e como pessoa especial que é, de generosidade rara, amiga de todas as horas, irreverente, filósofa e balofuda (apelido mais recente). À ela, obrigada por ter vindo ao mundo e ser exatamente como é. Ah, um fato curioso que talvez possa ajudar outras pessoas que passem por situações parecidas. Em 1985, descobri que ser atriz realmente não era o que gostava de fazer, e que gostaria muito de trabalhar como diretora porque teria muito mais possibilidades para criar. E usar minha sensibilidade. Quanto mais refletia sobre o assunto, mais me empolgada com a certeza de que era aquilo mesmo que queria fazer. Empolgada , fui pedir ao Paulo Ubiratan, a quem conhecia bem e que na época era o diretor geral de novelas da Globo, que por favor me conseguisse trabalho dentro da área de direção, que estava disposta a começar do zero, a ser assistente do assistente, fazer o que fosse preciso dentro da área de direção porque era o que realmente queria fazer. Então ele me ouviu e em seguida me disse bem taxativo: “Dilma, presta atenção no que eu vou te dizer: nunca! Eu disse nunca, nem você, nem nenhuma mulher vai dirigir aqui na Globo. Direção é coisa pra homem. Tem quer ser grosso, tem que gritar, falar palavrão… Nem você nem nenhuma mulher jamais vai dirigir aqui dentro“. Naquele momento, o mundo desabou para mim. Eu disse: “para mim direção é sensibilidade , não tem nada a ver com gritar ou falar palavrão, mas você é o dono da bola, não posso fazer nada“. Fui pra casa e pela primeira vez na vida entrei em depressão profunda. Era horrível pensar que nunca ia poder fazer o que gostava só porque tinha uma vagina. Durante um mês, praticamente só dormia, não queria sair da cama, não tinha energia pra fazer nada e me perguntava porque tinha nascido mulher. “Nunca” era uma palavra muito forte, como um muro impossível de se ultrapassar. Certa vez, depois de uns 30 dias de total inércia, acordei de madrugada, senti uma força imensa, sentei na cama e pensei: “Porque eu estou deixando a opinião de uma pessoa interferir negativamente na minha vida? Vou fazer um documentário mostrando como é ser mulher no Brasil. Vou começar do início, da primeira mulher que surgiu no mundo”. Aí fiz o vídeo Nossas Vidas, que foi um sucesso, ganhou prêmios no Brasil e me levou pra Alemanha, onde acabei recebendo uma verba para desenvolver o roteiro do filme infantil Se A banana prender, o mamão solta. O Nossas vidas foi o início de um novo e maravilhoso ciclo na minha vida e carreira. Passei a agradecer ao Paulo Ubiratan pelo incidente, pois sem ele esse novo ciclo não teria acontecido. Desde então, quando alguma coisa não acontece da forma que espero, acato porque sei que tudo tem uma razão de ser e a gente só entende o porquê um tempo depois, nunca na hora em que a situação ruim acontece MCB: Muito obrigado pela entrevista DL: O prazer foi meu.
A atriz, roteirista e cineasta Dilma Lóes nasceu no Rio de Janeiro em 22 de julho de 1950. Desempenhou ainda no cinema outras funções técnicas. como continuísta, montadora, diretora de arte, produtora, produtora executiva, sonoplasta e figurinista. Dilma Lóes nasceu em ambiente artístico – filha dos atores Lydia Mattos e Urbano Lóes - daí sua vocação natural para as artes cênicas. “Naquela época, existia um grande preconceito contra artista. Era discriminada na escola por professores só porque era filha de artista, que era considerado meio marginal, persona non grata. Tudo foi fluindo naturalmente para que eu seguisse os mesmos passos dos meus pais, já que cresci numa atmosfera de expressão artística, era naquele ambiente que me sentia confortável”. Seus primeiros filmes como atriz na décadas de 1960 foi em duas produções estrangeiras. No cinema brasileiro começa em Parafernália, o dia da caça, de Francis Palmeira. No ano seguinte, atua, entre outros, em Ascensão e queda de um paquera, de Victor Di Mello, cineasta que terá participação ativa em comédias eróticas de sucesso dos anos 1970 e com quem se casa. “Eu e Victor Di Mello fomos parceiros em alguns filmes. O que nós dois tínhamos em comum era o desejo de fazer comédia. Humor pra nós dois era fundamental. A nossa grande diferença é que ele, talvez por pressão dos produtores que visavam sempre o lucro, ou talvez por ele mesmo, por ser homem e achar que era importante ter mulher nua nos filmes, tinha sempre essa preocupação de criar cenas de sexo com mulheres nuas. Eu gostava de criar as cenas de comédia.Tentava forçar uma barra para ser feito um roteiro com mais conteúdo”. Dilma Lóes atua também em novelas, como "Pigmaleão 70" e "O Bem-Amado", mas sua praia sempre foi o cinema. “Além das novelas, trabalhei dois anos em "Os Trapalhões", em que tive a grande felicidade de conhecer o Dedé Santana, pessoa extraordinária. Gostei de trabalhar nas comédias. Novela não combina muito com o meu temperamento”. Entre tantos filmes em que atuou está o clássico Essa gostosa brincadeira a dois ( 1973, Victor di Mello). “Foi uma delícia fazer. Mossy já tinha sido parceiro em outro filme, é um grande ator e grande amigo também, foi muito bom trabalhar com ele. E dirigiu vários trabalhos: “Todos os documentários que produzi e dirigi foram resultados do desejo de mostrar uma situação que precisa ser mudada, etc”. Nesta entrevista exclusiva ao Mulheres do Cinema Brasileiro, Dilma Lóes fala do início da carreira, os trabalhos na televisão e no cinema, sua experiência em morar fora do Brasil, as questões sociais que lhe interessam e indignam como o racismo que retratou em Quando o Crioulo Dança, e muito mais. Mulheres do Cinema Brasileiro: Qual é a sua formação de atriz? Começou pelo teatro, TV ou cinema? Dilma Lóes: Formação prática. Só fiz um curso de teatro depois de uns 13 anos de profissão. Comecei fazendo figuração em TV no programa do Agildo Ribeiro e Paulo Silvino, chamado "TV Ó Canal Zero". MCB: Como foi a convivência com a família de artistas, pai e mãe? Isso te influenciou na escolha da carreira artística? DL: A convivência foi muito saborosa, mas também dolorosa. Saborosa porque quase todos os finais de semana a casa ficava cheia de amigos que iam para lá cantar e fazer música. Meu pai era letrista, minha mãe fazia música, e era uma grande alegria aquela cantaria nos finais de semana. O lado doloroso era a falta de tempo deles para participarem mais do dia-a-dia dos filhos. Naquela época, existia um grande preconceito contra artista. Era discriminada na escola por professores só porque era filha de artista, que era considerado meio marginal, persona non grata. Tudo foi fluindo naturalmente para que eu seguisse os mesmos passos dos meus pais, já que cresci numa atmosfera de expressão artística, era naquele ambiente que me sentia confortável. MCB: Você estreou no cinema fazendo duas produções estrangeiras. Como se deu isso? DL: Estava fazendo figuração em um filme espanhol chamado Sumuru, o Beijo da Morte e Roberto Baker, o produtor do filme, me chamou para fazer um teste para ser protagonista do episódio brasileiro de um seriado francês chamado Les Globbe Troter. Como o diretor do filme não tinha encontrado uma atriz profissional com o tipo físico que ele queria, abriram teste para amadoras, fiz o teste e ganhei o papel. O segundo filme foi uma produção da Universal Pictures dirigida por Paul Stanley, com Vic Morrow e Edmond O’Brain. Eles estavam fazendo teste com atrizes entre 25 e 28 anos que falassem inglês fluente. Eu não falava inglês e tinha 18 anos. Fui lá com uma maquiagem pesada, peruca preta comprida, cílios postiços, aparentando uns 25 anos. Pedi o texto à produção, decorei com uma tia que era professora de inglês, fiz o teste e fui aprovada. Quando o diretor veio conversar comigo em inglês, ficou surpreso que eu não falava a língua porque achou a minha pronúncia ótima. MCB: E no cinema brasileiro, como foi a sua estreia? DL: A estreia no cinema brasileiro foi com o filme Parafernália, o dia da caça, de Francis Palmeira, um diretor sensível, gostei de fazer o filme. MCB: Dá para você relembrar os quatro primeiros filmes brasileiros que trabalhou, e os respectivos diretores – Francis Palmeira, Mozael Silveira, Alberto Salvá, e Geraldo Miranda e Pio Zamuner? DL: Parafernália, o dia da caça foi um filme de produção independente, com pouco dinheiro. A garra e o idealismo do Francis contagiou todo o elenco. O segundo filme, Meu nome é Lampião, do Mozael Silveira, foi uma produção do Roberto Farias com certo recurso e estrutura. O terceiro foi Vida e glória de um canalha, do Alberto Salvá, com pouco recurso financeiro, mas muita criatividade, que é a marca registrada do Salvá. O quarto filme foi uma produção do Mazzaropi (Betão Ronca Ferro, 1970, Geraldo Miranda e Pio Zamuner) , oficialmente dirigido pelo Pio Zamuner, mas era o Mazzaropi que no final fazia tudo do jeito que ele queria, não respeitava ninguém, nem equipe, nem atores. Mas ele pagava três vezes mais do que os outros produtores e por isso as pessoas aceitavam trabalhar com ele. MCB: Com o cineasta Alberto Salvá você fez três filmes. DL: Sempre gostei muito de trabalhar com o Salvá. Ele é um ótimo diretor. É sensível, aberto à ideias, deixa o ator criar. Ele é uma pessoa muito generosa e especial. MCB: Gostaria que você comentasse sobre o filme Revólveres não Cospem Flores. DL: Revólveres não Cospem Flores foi um filme que adorei fazer. Adoro o Salvá. Ele é um diretor muito sensível, talentosíssimo, simples e instintivo, e usa a sensibilidade em benefício do filme e do trabalho do ator. É o diretor que mais gostei de trabalhar, que mais me senti à vontade, que mais me deixou livre para encarnar os personagens. O personagem do Revólveres não Cospem Flores foi crescendo , tomando conta de mim, e ele foi deixando acontecer e interferindo o mínimo para não quebrar aquela energia forte que estava acontecendo. É o que considero um trabalho de arte, é como uma dança, em que quem leva é a música, a gente só tem que seguir. Se começar a entrar o racional, pensando que passo que vou fazer depois daquele, vai estragar tudo, porque vai virar uma fórmula, linha de montagem, todos dançando igual, sem alma. O Revólveres foi o resultado de um trabalho de expressão livre das almas, com momentos mágicos. MCB: Como se deu o seu encontro com o cineasta Victor Di Mello, com quem veio a se casar? DL: Nos conhecemos na Fiorentina, um restaurante no Leme, onde a classe artística frequentava nos anos 1960 e 70. MCB: Você e o Victor construíram uma parceria de sucesso no cinema. Dá para vocêfalar um pouco mais sobre isso? DL: Eu e Victor Di Mello fomos parceiros em alguns filmes. O que nós dois tínhamos em comum era o desejo de fazer comédia. Humor pra nós dois era fundamental. A nossa grande diferença é que ele, talvez por pressão dos produtores que visavam sempre o lucro, ou talvez por ele mesmo, por ser homem e achar que era importante ter mulher nua nos filmes, tinha sempre essa preocupação de criar cenas de sexo com mulheres nuas. Eu gostava de criar as cenas de comédia.Tentava forçar uma barra para ser feito um roteiro com mais conteúdo. O Victor me ajudava, tentava convencer os produtores, mas o foco maior era no que eles consideravam que dava dinheiro, que eram mulheres nuas. Então, dentro dos limites permitidos, fazíamos comédia e eu tentava introduzir algum conteúdo nas histórias. MCB: Como se deu a passagem da atriz para as outras áreas? Foi influência do Victor di Mello, ou você já pensava nesses caminhos? Veio dessas experiências anteriores em época de colégio quando escrevia as peças e atuava? DL: Na verdade nunca me senti uma profissional de alguma coisa. Sempre me expressei artisticamente de várias formas, desde criança. Já trabalhei em dezenas de profissões e gostei de todas justamente porque não me sentia uma profissional só daquilo. Gosto de sentir minha alma livre para fazer o que tiver desejo de fazer. Gosto de experimentar, de aprender, conhecer o novo, testar coisas novas, etc. Considero meu melhor talento as minhas ideias, que podem ser expressas através de um roteiro, um conto, como também no projeto de uma casa, num novo passo de dança ou um projeto de melhoria social. Então, por ser desse jeito, não fico em nenhuma situação ou profissão que sinta que esteja adormecendo meu potencial humano. Quando tinha nove anos, escrevi e dirigi minha primeira peça de teatro na escola. Era um musical. Adoro música e dança, é uma das formas de expressão de que mais gosto. MCB: E o teatro profissional? DL: Trabalhei em três peças. Duas comédias, adoro comédia, e uma infantil. A primeira foi em 1969, "Frank Sinatra, 4816", com o Paulo Gracindo e Henriette Morineau, pela qual recebi o prêmio Diário de Notícias de Atriz Revelação de teatro de 1969. A outra peça foi "Vejo um vulto na janela", me acudam que sou donzela, da Leilah Assunção, em 1981. A terceira peça foi o musica infantil "Se a Banana Prender, o Mamão Solta", de minha autoria e direção. MCB: Como foi atuar em novelas? DL: A primeira foi em 1968, na TV Tupi, "O doce mundo de Guida", direção de Cardoso Filho. A segunda foi "Pigmaleão 70", dirigida por Regis Cardoso (na Globo). Era uma comédia, adorei fazer. Depois foi "O Bem amado", dirigida por Regis Cardoso, também comédia, mas meu papel era sério. Atuei também em "Tempo de Viver", direção de Marcos Andreucci, com Reginaldo Farias e Paulo César Peréio. Foi em 1972. Além das novelas, trabalhei dois anos em Os Trapalhões, em que tive a grande felicidade de conhecer o Dedé Santana, pessoa extraordinária. Gostei de trabalhar nas comédias. Novela não combina muito com o meu temperamento. MCB: Quais são os filmes que mais gostou de participar, seja como atriz ou em outras áreas? DL: River of Mistery, de Paul Stanley, Revólveres não Cospem Flores, do Alberto Salvá, Quando as Mulheres Paqueram, de Victor Di Mello , Essa Gostosa Brincadeira a Dois, de Victor Di Mello, e Quando o Crioulo Dança, dirigido por mim. MCB: Como foi trabalhar na produção do único filme dirigido por Jô Soares, O Pai do Povo? DL: Foi ótimo. Uma equipe harmônica, ótimos profissionais. MCB: Gostaria que você comentasse sobre Essa Gostosa Brincadeira a Dois e a parceria com o Carlo Mossy nesse filme. DL: Essa Gostosa Brincadeira a Dois foi uma delícia fazer. Mossy já tinha sido parceiro em outro filme, é um grande ator e grande amigo também, foi muito bom trabalhar com ele. MCB: O que você pensa sobre as chamadas pornochanchadas, as comédias eróticas da década de 1970, tão atacadas pela crítica na época? DL: Algumas pornochanchadas eu gostava muito, e de pornô não tinham nada. Outras achava de mau gosto. Todas tinham uma mesma característica, que era mostrar só o ponto de vista masculino, já que na época só os homens faziam os roteiros, só os homens dirigiam os filmes e só os homens produziam. Então na tela era visto só uma parte da realidade. O que a mulher sentia não era retratado naqueles filmes. Por isso gostei de participar do roteiro de Quando as Mulheres Paqueram, porque foi a introdução da visão feminina. Foi minha primeira participação em roteiro de longa metragem. Alguns bons críticos não falavam mal, faziam uma boa análise do filme elogiando os pontos bons e criticando os ruins. Quando um crítico falava mal, mas o filme dava um bom retorno financeiro, os diretores não ficavam chateados. E os filmes costumavam ter um ótimo retorno. MCB: Nos anos 1980, você passa para a direção. Como foram esses trabalhos? DL: O primeiro filme que dirigi foi um curta-metragem em 1972 chamado Morrendo a Cada Instante, sobre a destruição do meio ambiente no Brasil. Eu tinha feito uma pesquisa e, já naquela época, 1000 árvores por dia eram arrancadas na Amazônia. O documentário terminava com uma cena de ficção em que pessoas andavam nas ruas usando máscaras contra poluição. O filme participou do festival JB de curta- metragem e, na época, como quase ninguém sabia sobre a destruição do meio ambiente no Brasil, a crítica falou mal do filme, chamando o filme de paranóico. MCB: Dá para você falar mais sobre os filmes que produziu e/ou roteirizou e/ou dirigiu, especialmente o Quando o Crioulo Dança, além dos que já falou? DL: Gosto muito de ver as pessoas felizes, por isso gosto de fazer comédia. Se vejo uma situação errada procuro ajudar a melhorar. Sempre fui assim. Arte pra mim é expressão pura da alma, uma energia que sai da gente e atinge a alma de outras pessoas. Então quando vejo uma coisa errada e não tenho como mudar, vem logo uma ideia de um filme, um conto, um projeto social ou alguma ação que possa contribuir para melhorar aquela determinada situação. Todos os documentários que produzi e dirigi foram resultados do desejo de mostrar uma situação que precisa ser mudada, etc. Foi assim com o Morrendo a cada instante, em 1972, sobre a destruição da natureza. Só Amor não basta, em 1978, é sobre as mães de baixa renda que saíam de casa deixando seus filhos em péssimas condições para irem trabalhar. O documentário/ ficção Nossas Vidas, em 1985, é um painel sobre a mulher brasileira da época, é um filme irreverente, com situações engraçadas, mas tratando de um assunto sério. O documentário/ficção Quando o Crioulo Dança, em 1988. Sempre me incomodou muito o racismo no Brasil, especialmente porque era velado, aí é muito difícil para uma pessoa negra dizer que era vítima de racismo, porque era chamada de louca, já que "no Brasil não existia racismo". Então aproveitei um concurso de roteiros promovido pela Ford Fundation sobre o racismo no Brasil para criar um roteiro em que pudesse falar tudo que pensava sobre o assunto e reproduzir cenas de racismo que as pessoas negras viviam no seu dia-a-dia, e, que de alguma maneira, pudesse tocar o coração das pessoas brancas. O roteiro foi um dos vencedores e então a Fundação Ford produziu o vídeo. Quando o documentário ficou pronto, exibi em diversas organizações da comunidade negra e as pessoas choravam emocionadas por verem suas vidas bem retratadas no vídeo. Inscrevi o documentário em dois festivais, mas não foi classificado nem para a pré-seleção. Achei meio estranho o fato de que todos os negros que assistiam saíam tão emocionados e o filme não se classificar nem na pré-seleção. Em uma das exibições, convidei o Grande Otelo e, no final, ele me falou seriamente: Não perde seu tempo tentando entrar nos festivais daqui. Ninguém vai aceitar o seu documentário, porque todo mundo nega que existe racismo no Brasil. Manda o seu trabalho lá para fora que ele vai ser muito bem recebido. Ele é forte e sincero. Depois, se ganhar alguma coisa lá, todas as portas vão se abrir aqui. Aí, já meio descrente de qualquer coisa e deprimida porque não conseguia exibir o documentário, juntei minhas últimas forças, pensando nas palavras do Grande Otelo, e enviei o documentário para o festival de Nova York, onde ganhou medalha de Bronze, competindo com mais de 3.000 documentários. Depois disso, claro, o filme começou a ser exibido e aceito nos festivais. Dez anos depois, o Ministério da Educação comprou 3.000 cópias e incluiu o documentário no treinamento dos professores da rede pública, em um trabalho contra a discriminação racial dentro das salas de aula. O roteiro do filme de ficção de um minuto A Regra da Noite, em 1992, foi fruto da minha necessidade de fazer comédia. O roteiro acabou premiado no Festival de Vítória. MCB: Por que você se mudou para os Estados Unidos? Como foi a experiência lá? DL: Porque perdi o interesse em viver no Brasil. Muita violência, minha casa tinha sido invadida, meu filho, na época com nove anos, ficou apavorado, não queria mais dormir sozinho, não queria mais morar no apartamento. Aí achei que era a hora de sair e mostrar para ele que Brasil era um pedacinho bem pequeno do planeta, que existiam muitos outros lugares onde a vida era diferente daqui. A experiência foi maravilhosa em todos os sentidos, pra mim e para o meu filho. Lá é um exemplo concreto de uma sociedade democrática, em que todos podem prosperar porque o dinheiro circula em toda sociedade, não fica retido nos bolsos de poucas pessoas como acontece aqui. Qualquer trabalho é bem remunerado, qualquer pessoa pode prosperar, o sistema funciona muito bem. Na primeira semana que estava lá, meu filho ficava brincando nas rua porque tinha acabado de chegar e ainda estava vendo escola para ele. De repente, um policial bate na minha porta perguntando porque ele não estava na escola e eu expliquei que tinha recém-chegado do Brasil, e ele me disse que toda criança tinha que ficar na escola, senão os pais vão presos. Me deu uma semana para colocar meu filho na escola. O ônibus da escola pegava o meu filho na porta e trazia de volta. Outro mundo, outras possibilidades, respeito, educação e segurança passaram a fazer parte dos meus dias. E quanto mais distante, mais claro ficava para mim que a estrutura social do Brasil mudou muito pouco desde a invasão dos portugueses em 1500. Tudo girava em torno dos interesses da corte portuguesa, que só tirava as riquezas daqui sem dar nada, sempre roubando, escravizando. A renda continua retida nos bolsos de poucos, não circula, muito poucos podem prosperar. Nos Estados Unidos me realizei trabalhando em diversas coisas. Tive uma empresa de exportação por oito anos, me formei em hipnose e regressão de vidas passadas, me espiritualizei, tratei de pessoas, escrevi contos para um jornal brasileiro e trabalhei na HBO fazendo trailers para o Brasil. MCB: Como foi voltar ao Brasil, depois de tantos anos? DL: No primeiro ano foi muito difícil, é uma total desadaptação. Você já não é a mesma pessoa, já não vê o mundo da mesma maneira que antes, não gosta das coisas que antes gostava e gosta de outras que são estranhas aos seus amigos. Alguns amigos já não tem mais nada em comum com você e você com eles, seus valores mudaram, mas você volta para o mundo de antigamente e isso é muito estranho. Demora um tempo pra construir uma nova vida com seus novos amigos, que você nem sabe ainda quem são e onde estão. Reacostumar com a má distribuição de renda, que só permite poucos prosperarem na vida... difícil. No segundo ano foi menos pior. Agora, o lado muito bom foi estar novamente perto da família, da Vanessa, da minha mãe, que são pessoas muito importantes para mim, e também dos amigos que são para sempre, aqueles poucos que sobrevivem a todas as mudanças. A Cléa Simões, uma grande atriz a quem era muito apegada e que foi minha madrinha de casamento, uma mulher extraordinária e uma heroína por ter conseguido se firmar como atriz, em um Brasil tradicionalmente racista, e que por décadas negou esse racismo, mas confinou os atores negros aos papéis de subalternos. À Cléa Simões, aqui fica aqui minha homenagem e muita, muita saudade. MCB: Você faz parte de uma família de artistas há três gerações. Como foi atuar ao lado da sua filha, Vanessa Lóes, em O Amigo Dunor? DL: A Vanessa é uma artista nata, especialmente para artes plásticas e pintura. Desde pequena se destacava na escola com seus desenhos e a habilidade para as artes. Ela fez o filme quando tinha oito anos. Fez muito bem, está muito natural no filme. Como fiquei fora 10 anos, não acompanhei a carreira da Vanessa. O que eu vi, gostei. Assisti alguns tapes dos trabalhos dela que ela levava quando ia me visitar em Miami. MCB: Você está envolvida atualmente em algum projeto? Cinema, televisão,teatro? Não anda com saudades das telas? DL: Tenho três projetos que penso em fazer um dia, mas não por agora. Dois longas-metragens e um documentário média-metragem. Os longas são ficção. Um é um argumento que tenho há quase 30 anos chamado João virou doutor, ambientado no Rio dos anos 1960, e o outro é o filme da peça infantil que fizemos, Se a banana prender, o mamão solta, um musical lindo e engraçado. Esses dois daria para alguém dirigir. O João virou doutor só consigo imaginar o Bruno Barreto dirigindo. O infantil não pensei em ninguém. O documentário de media-metragem tem o título O Brasil que poucos conhecem. É um trabalho de pesquisa, que, na verdade, já estou fazendo há alguns anos, mas preciso ainda ir à Portugal, na Torre do Tombo, onde estão todas as informações das primeiras pessoas expulsas para o Brasil pela inquisição. A maioria era judeus que foram forçados a se converterem ao catolicismo, se separarem de seus familiares e vieram viver no Brasil. Aqui, alguns ainda tentaram cultivar sua cultura, mas eram perseguidos pela inquisição, acusados de serem "judiazantes". Muitos espalharam-se pelo nordeste e pararam de praticar sua religião, mas a cultura enraizada no jeito de ser foi transmitida através de muitas gerações. Então muitos de nós e muito da cultura brasileira é de origem judaica, mas a maioria não sabe. MCB: Qual foi o último filme brasileiro a que assistiu? DL: O último filme foi O Dia em Que Meus Pais Saíram de Férias (2006, Cao Hamburger). Gostei muitíssimo. MCB: Sempre convido minhas entrevistadas para homenagear uma mulher de qualquer época e área do cinema brasileiro. Quem você quer homenagear? DL: A homenagem vai para a minha mãe Lidia Mattos, de quem sou grande fã como atriz e como pessoa especial que é, de generosidade rara, amiga de todas as horas, irreverente, filósofa e balofuda (apelido mais recente). À ela, obrigada por ter vindo ao mundo e ser exatamente como é. Ah, um fato curioso que talvez possa ajudar outras pessoas que passem por situações parecidas. Em 1985, descobri que ser atriz realmente não era o que gostava de fazer, e que gostaria muito de trabalhar como diretora porque teria muito mais possibilidades para criar. E usar minha sensibilidade. Quanto mais refletia sobre o assunto, mais me empolgada com a certeza de que era aquilo mesmo que queria fazer. Empolgada , fui pedir ao Paulo Ubiratan, a quem conhecia bem e que na época era o diretor geral de novelas da Globo, que por favor me conseguisse trabalho dentro da área de direção, que estava disposta a começar do zero, a ser assistente do assistente, fazer o que fosse preciso dentro da área de direção porque era o que realmente queria fazer. Então ele me ouviu e em seguida me disse bem taxativo: “Dilma, presta atenção no que eu vou te dizer: nunca! Eu disse nunca, nem você, nem nenhuma mulher vai dirigir aqui na Globo. Direção é coisa pra homem. Tem quer ser grosso, tem que gritar, falar palavrão… Nem você nem nenhuma mulher jamais vai dirigir aqui dentro“. Naquele momento, o mundo desabou para mim. Eu disse: “para mim direção é sensibilidade , não tem nada a ver com gritar ou falar palavrão, mas você é o dono da bola, não posso fazer nada“. Fui pra casa e pela primeira vez na vida entrei em depressão profunda. Era horrível pensar que nunca ia poder fazer o que gostava só porque tinha uma vagina. Durante um mês, praticamente só dormia, não queria sair da cama, não tinha energia pra fazer nada e me perguntava porque tinha nascido mulher. “Nunca” era uma palavra muito forte, como um muro impossível de se ultrapassar. Certa vez, depois de uns 30 dias de total inércia, acordei de madrugada, senti uma força imensa, sentei na cama e pensei: “Porque eu estou deixando a opinião de uma pessoa interferir negativamente na minha vida? Vou fazer um documentário mostrando como é ser mulher no Brasil. Vou começar do início, da primeira mulher que surgiu no mundo”. Aí fiz o vídeo Nossas Vidas, que foi um sucesso, ganhou prêmios no Brasil e me levou pra Alemanha, onde acabei recebendo uma verba para desenvolver o roteiro do filme infantil Se A banana prender, o mamão solta. O Nossas vidas foi o início de um novo e maravilhoso ciclo na minha vida e carreira. Passei a agradecer ao Paulo Ubiratan pelo incidente, pois sem ele esse novo ciclo não teria acontecido. Desde então, quando alguma coisa não acontece da forma que espero, acato porque sei que tudo tem uma razão de ser e a gente só entende o porquê um tempo depois, nunca na hora em que a situação ruim acontece MCB: Muito obrigado pela entrevista DL: O prazer foi meu.
Entrevista realizada em junho de 2007.

Veja também sobre ela