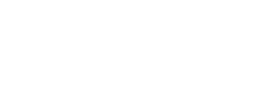Renata Carvalho
 A atriz Renata Carvalho sacudiu, e vem sacudindo, a cena cultural no Brasil em várias frentes. Nos palcos, sua montagem de "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", de autoria da escocesa Jo Cliford, virou um acontecimento, tanto pela maestria da montagem e de sua interpretação visceral quanto pelos enfrentamentos fora da cena, envolvendo censuras e perseguições. "Com certeza existe um antes e depois dessa peça, não só para mim. Este trabalho conseguiu levantar discussões calorosas na arte, na política, na religião, no judiciário e na educação ao mesmo tempo, denunciando e evidenciando a transfobia estrutural por onde ela passa. A peça sofreu 5 censuras entre 2017 e 2019. Desde agosto de 2016, quando estreamos, somos alvos de fake news, ameaças de espancamento e morte, levar tiro, linchamento virtual. Já sofremos um ataque à bomba, usei colete à prova de bala, manifestações nas entradas dos locais de apresentação, agressões (inclusive física) à equipe técnica, incendiaram ingressos, já retiraram som, cadeiras, iluminação, já apresentei com policia dentro do espaço e muitas plateias precisaram passar por revista para entrarem no local de apresentação", relembra a atriz.
A atriz Renata Carvalho sacudiu, e vem sacudindo, a cena cultural no Brasil em várias frentes. Nos palcos, sua montagem de "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", de autoria da escocesa Jo Cliford, virou um acontecimento, tanto pela maestria da montagem e de sua interpretação visceral quanto pelos enfrentamentos fora da cena, envolvendo censuras e perseguições. "Com certeza existe um antes e depois dessa peça, não só para mim. Este trabalho conseguiu levantar discussões calorosas na arte, na política, na religião, no judiciário e na educação ao mesmo tempo, denunciando e evidenciando a transfobia estrutural por onde ela passa. A peça sofreu 5 censuras entre 2017 e 2019. Desde agosto de 2016, quando estreamos, somos alvos de fake news, ameaças de espancamento e morte, levar tiro, linchamento virtual. Já sofremos um ataque à bomba, usei colete à prova de bala, manifestações nas entradas dos locais de apresentação, agressões (inclusive física) à equipe técnica, incendiaram ingressos, já retiraram som, cadeiras, iluminação, já apresentei com policia dentro do espaço e muitas plateias precisaram passar por revista para entrarem no local de apresentação", relembra a atriz.
Outra frente importante, e que está, intrinsicamente, ligada a seu campo de atuação como atriz, são suas ações de denúncia da transfobia e pela exigência da representativade trans/travesti na cena cultural, a partir da fundação do Monart e do Manifesto Representatividade Trans. "Fundo o MONART como uma denúncia de que nós existimos sim e temos talento, inspirada em Zezé Mota e Abdias do Nascimento, que fizeram o mesmo com artistas negros. Mas também como forma de nos conhecermos, trocarmos e pensarmos juntes nossa inclusão e permanência na arte. Hoje, o Monart conta com mais de 170 artistas trans de várias áreas artísticas de todo o Brasil. O MONART e o Manifesto Representatividade Trans vêm para ampliar nossos entendimentos artísticos, e o que pedimos a todes os artistas é que tenham comprometimento ético com nossas pautas, e com isso, pausem a prática do transfake". Renata faz uma radiografia precisa frente à reação dos atores cis gays: "Toda mudança requer um luto de algo, talvez esses atores gays não tenham interesse por representatividade por não terem interesse em mudar algo que os privilegia tanto. Por isso, hoje estamos falando de ética. Não tem problema você não estar atento às nossas pautas, mas e agora que você sabe, o que você faz com tudo isso? E é esse compromisso ético que esperamos de todes es artistas. A mudança é perceptível, óbvio que temos muito a avançar, mas como diz Riobaldo: Há um ponto de marca, que dele não se pode mais voltar para trás".
O talento de atriz de Renata Carvalho tem levado sua arte também para o audiovisual, seja com atuações em séries em canais de televisão e nas plataformas como também em filmes, marcando sua presença no cinema, como no belo Vento Seco, dirigido por Daniel Nolasco, em que interpreta Paula. "Foi meu primeiro trabalho no cinema. O produtor de elenco Kassio Pires me assistiu no espetáculo “Domínio Público” em uma apresentação em Goiás , nos encontramos em São Paulo e ali Kassio e Nolasco me apresentaram a Paula. Passamos quase dois meses em Catalão para estabelecermos o tempo da cidade, frequentamos festas e lugares observando hábitos alimentares, vestuário, comportamentos, músicas favoritas, gestos e o uso da linguagem que foram fundamentais para compor a Paula e criar uma relação afetiva com o elenco e equipe técnica. Foi muito emocionante estar no lançamento do filme no Berlinale, e agora, vendo-o rodar o mundo. Eu amo o resultado do filme e a Paula foi um presente, que bom estrear com Vento Seco.
Renata Carvalho, que nasceu em Santos, São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 1981, está fazendo aniversário hoje. Essa entrevista foi formulada em outubro de 2020, quando Vento Seco foi exibido no 9o. Olhar de Cinema, mas só agora conseguimos realizá-la, e pela coincidência de data acabou sendo também uma homenagem a essa atriz já fundamental na cena cultural brasileira. Na entrevista, Renata Carvalho repassa sua carreira nos palcos e nas telas, além de sua militância no sentido mais amplo e verdadeiro da palavra em defesa dos corpos travestis/trans e de sua representatividade.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Quando se deu o desejo de ser atriz? Quando tomou a decisão e como a colocou em prática? Renata Carvalho: Iniciei em um curso gratuito de iniciação teatral em 1996, no Teatro Municipal de Santos. Foi o melhor encontro da minha vida, e de lá nunca mais saí. MCB: Você começou a carreira artística em Santos, não é isso? Poderia falar um pouco e citar alguns trabalhos? RC: Minha carreira se inicia e tem seu alicerce em Santos, minha prática e permanência no teatro por 20 anos aconteceu na baixada santista. Meus primeiros papéis foram em 1997 como o Orgon em Tartufo, de Moliére, e a Deolinda em “O caixeiro da Taverna” de Martins Pena. Em 1999, em “A casa de Bernarda Alba”, como Martírio, uma de suas filhas. Minha feminilidade fora dos palcos retirou-me a possibilidade de interpretar papéis masculinos. Em 2002, fundo a Cia. Ohm de Teatro e estreio na direção com “...” (reticências), e permaneço na direção por 10 anos: 2011: “Prólogo para o Diletante”; 2011: “O último suspiro”; 2009: “Quando as máquinas param”; 2005-2009: “Pelo buraco da fechadura”; 2004: “Lei 5.536”.
Estudo o corpo trans/travesti desde 2007, ano do meu percebimento travesti, quando me torno agente de prevenção voluntária de ISTs, HIV/AIDS, hepatites e tuberculose, pela secretária municipal de saúde de Santos, trabalhando, especificamente, com travestis e mulheres trans na prostituição.Com isso, passo a militar pela causa LGBTQIA+, com foco na população trans/travesti.
Em 2012 faço meu primeiro solo, “Dentro de mim mora outra”, onde contava minha vida e travestilidade. Este trabalho foi muito importante na minha trajetória, pois foi meu retorno aos palcos, e, dessa vez, como atriz. E é, a partir dele, que passo a debater meu corpo travesti em cena, e isso vai permear toda a minha arte e pesquisa. Faço parte d’O Coletivo, um coletivo artístico que reúne vários artistas da baixada santista, e com eles fiz: :2015: “ZONA!” e 2013 “Projeto Bispo”.
Fiz: 2000: Navalha na carne; (1999), mas também fui produtora, maquiadora e sou dramaturga. Minha arte passa por Patrícia Galvão, Plínio Marcos, Oscar Von Pfuhl, Carlos Alberto Soffredini, Greghi Filho, o FESTA - Festival Santista de Teatro, o Curta Santos, o Porto, a zona de prostituição e a praia. MCB: Quando e como foi a chegada em São Paulo? RC - Tudo se iniciou em 2015, quando soube que tinha sido selecionada para interpretar Jesus de Nazaré em “O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu” de Jo Clliford, com tradução e direção de Natalia Mallo. Em Santos, eu ainda trabalhava como cabeleireira, já que não conseguia me manter como artista, única opção possível, pois já tinha passado pela prostituição. Os ensaios da peça aconteciam em São Paulo, Gabi Gonçalves assume a assistência de direção e a produção com a Corpo Rastreado. Com a remuneração pelo trabalho, deixo o salão em setembro de 2015 e passo a me dedicar apenas ao teatro. Em 2016, estreamos no FILO - Festival Internacional de Londrina. Em janeiro de 2017, me mudo para São Paulo. Este trabalho possibilitou a minha profissionalização e permanência na arte. MCB: Você poderia citar alguns de seus trabalhos nos palcos, onde tem carreira importante e premiada?
RC: Meus últimos trabalhos no teatro foram: 2019: “Manifesto Transpofágico”, um solo onde narro a historicidade e transcestralidade do meu corpo travesti; 201:) “Domínio Público”, espetáculo que revê a censura de quatro artistas na arte; 2016: “O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu”. MCB: A peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, é que a tornou conhecida no Brasil inteiro. Considero um dos maiores acontecimentos teatrais dos últimos anos. É um divisor de águas na sua carreira? RC: Com certeza existe um antes e depois dessa peça, não só para mim. Este trabalho conseguiu levantar discussões calorosas na arte, na política, na religião, no judiciário e na educação ao mesmo tempo, denunciando e evidenciando a transfobia estrutural por onde ela passa. A peça sofreu 5 censuras entre 2017 e 2019. Desde agosto de 2016, quando estreamos, somos alvos de fake news, ameaças de espancamento e morte, levar tiro, linchamento virtual. Já sofremos um ataque à bomba, usei colete à prova de bala, manifestações nas entradas dos locais de apresentação, agressões (inclusive física) à equipe técnica, incendiaram ingressos, já retiraram som, cadeiras, iluminação, já apresentei com policia dentro do espaço e muitas plateias precisaram passar por revista para entrarem no local de apresentação. Foi muito violento para todes nós, passarmos por tantas violações e desrespeitos, mas, ao mesmo tempo, a peça percorreu o Brasil e países como Alemanha, Irlanda do Norte, Escócia e Cabo Verde na África. Possibilitou minha profissionalização e permanência nas artes, levando minha voz e corpo a lugares inimagináveis. E ainda conseguiu denunciar a exclusão e transfobia de corpos trans/travestis nas artes, auxiliando a luta por representatividade coletiva trans, a inclusão e permanência desses corpos nas artes. MCB: Você é fundadora do MONART e do Manifesto Representativo Trans, iniciativas fundamentais na reivindicação de representatividade. O que a levou para essa militância? RC: Como o meu corpo é político, eu também preciso ser. Sempre fui um ser político, mas como agente de prevenção voluntária, passo a participar de encontros, bates papos, conferências, congressos, conheço o movimento político organizado das travestis, a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), e passo a estudar o corpo travesti/trans, inicialmente mais voltado para questões ligadas à saúde. Aos poucos vou alargando para o espaço das artes. Minha transpologia (nome do meu estudo) aponta para a construção social, midiática, carnavalesca, criminal, patológica e sexual, que permeia o senso comum do que é uma travesti, e a arte corroborou com suas narrativas viciadas, estereotipadas e depreciativas com a prática do trans fake. E que nós artistas somos e fomos responsáveis por marcar determinados corpos, então precisamos ser responsáveis para reconstruir o imaginário do senso-comum. Sempre que denunciava a falta de pessoas trans nos espaços de arte, como resposta ouvia muito: - Mas não existem artistas trans capacitados.
Fundo o MONART como uma denúncia de que nós existimos sim e temos talento, inspirada em Zezé Mota e Abdias do Nascimento, que fizeram o mesmo com artistas negros. Mas também como forma de nos conhecermos, trocarmos e pensarmos juntes nossa inclusão e permanência na arte. Hoje, o Monart conta com mais de 170 artistas trans de várias áreas artísticas de todo o Brasil. O MONART e o Manifesto Representatividade Trans vêm para ampliar nossos entendimentos artísticos, e o que pedimos a todes os artistas é que tenham comprometimento ético com nossas pautas, e com isso, pausem a prática do transfake.
MCB: Além de travestis e trans ainda terem condições de vida da Idade Média, pois é um escândalo que a perspectiva de vida seja de 35 anos, é também um escândalo que as artistas travestis e as/os artistas trans não tenham espaço para se expressarem. Como você vê a peças e filmes sobre travestis e trans ainda sendo representadas por cis, mesmo com todo o apelo da comunidade? Tem melhorado as oportunidades para artistas travestis e trans?
RC: A vida média de uma travesti /trans no Brasil oscila entre 27 a 35 anos. Primeiro que é evidente o avanço de artistas trans e travestis dentro da arte. Nunca vimos um número tão expressivo de artistas trans se destacando em vários campos da arte e de forma tão plural. A representatividade é coletiva, precisamos ocupar em quantidade para conseguirmos a naturalização desses corpos. É evidente que quando grandes empresas e produtoras (Globo, Netflix, O2, Canal Brasil, FOX, entre outras) entendem a representatividade trans nas produções artísticas e passam a incluir esses corpos em suas produções, vemos a reação do mercado como um todo mudar.
Mesmo com todo avanço na luta e no debate por representatividade trans nas artes, nós artistas trans encontramos uma barreira, um muro que dificulta o diálogo de forma ética. Esse muro, concomitantemente, vem dos homens cisgêneros gays, que por estarmos na mesma sigla LGBT, daria uma falsa ideia de pertencimento e entendimento das nossas pautas, utilizando sua orientação sexual como escudo de defesa. Ou então, que estariam sendo censurados e que não poderiam mais “brincar” entre o feminino e masculino. Bom, para haver censura precisamos de uma relação de poder, e ela não está com as pessoas trans. E penso com os meus silicones, mas os homens cisgêneros “brincam de masculino e feminino” desde que o teatro é teatro. Vejo esses homens cisgêneros gays, na maioria de vivência branca, como os atores cisgêneros brancos do Séc. VI, que foram contra a entrada de mulheres cisgêneras brancas no teatro. Vale lembrar, que as mulheres eram proibidas de falar em público, a oratória só era permitida aos homens brancos. Esses atores (muitos ficaram famosos com personagens femininos) viam essa luta como perda, para eles . O teatro “perdeu” com a entrada das mulheres cisgêneras brancas? O homem cisgênero parou de experimentar o feminino em cena? Ou os vejo, como na década de 40, onde artistas cisgêneros brancos foram contra a reivindicação de Abdias do Nascimento, que buscava a representatividade negra nos palcos e o fim da prática do blackface, ou ainda, os que diziam para Zezé Motta que não existiam atores negros talentosos (escutava o mesmo), e ela abre uma agencia para atores negros.
Toda mudança requer um luto de algo, talvez esses atores gays não tenham interesse por representatividade por não terem interesse em mudar algo que os privilegia tanto. Por isso, hoje estamos falando de ética. Não tem problema você não estar atento às nossas pautas, mas e agora que você sabe, o que você faz com tudo isso? E é esse compromisso ético que esperamos de todes es artistas. A mudança é perceptível, óbvio que temos muito a avançar, mas como diz Riobaldo: Há um ponto de marca, que dele não se pode mais voltar para trás. MCB: Você, finalmente, e demorou mais que deveria, está também levando seu talento para o audiovisual. Gostaria que comentasse sobre suas participações nas séries Pico da Neblina, Toda Forma de Amor, e Nós. RC: Corpos como o meu nunca foram bem recebidos e acolhidos pelo audiovisual, o meu corpo só é atrativo para a indústria pornográfica. Existe uma barreira causada pela transfobia estrutural, que nos exclui dos sets de filmagem. Todos esses trabalhos no audiovisual aconteceram nos últimos 3 anos. Em 2019, Toda forma de amor foi minha primeira experiência. Também em 2019, em Pico da Neblina, a personagem misteriosa “Carmem” foi minha primeira grande produção, estamos na espera do começo das gravações da 2ª temporada, interrompida pela pandemia. Em 2020, Nós tem, além de mim, mais duas atrizes trans, Fabia Mirassos e Maria Leo Araruna. Dalila me presenteou com uma cena linda. Está sendo um desafio delicioso descobrir essas novas formas de atuação. MCB: Sua participação no filme Para onde voam as feiticeiras, da Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, como você mesma, é pequena, mas marcante. É muito impactante quando você diz ali que é atriz há 22 anos, mas nunca foi convidada para o cinema. Poderia comentar sobre isso? RC: Sempre foi um sonho fazer um longa-metragem, mas o corpo travesti é visto como uma farsa, mentira, doente, pecaminoso, que barra nossas presenças nas artes. Eu digo que o cinema é a medicina da educação, poucos alcançam ou podem exercê-la. O audiovisual corroborou bastante na construção do imagético do que é ser uma travesti, mesmo quando “permitem” a nossa presença a grande maioria são em histórias estereotipadas, viciadas, criminais, doentes e/ou sexuais. Já fui em testes que a primeira coisa que me perguntaram foi: O que você está fazendo aqui? Já me disseram que ninguém acreditaria em mim interpretando aquele papel, que minha voz não era crível, fui retirada de última hora do elenco de dois filmes, onde seria a protagonista. O diretor de um deles me mandou um e-mail muito triste e um pouco envergonhado, no outro a diretora mandou um e-mail frio e desapareceu, foram muito dolorosos esses momentos. Eu fiz/faço cinema, e muites outres, porque ele se democratizou com a tecnologia nas mãos e faculdades de cinema gratuitas, ampliou a possibilidade de realizar cinema. Fiz dois filmes como atriz em 2019: Vento Seco, gravado em Catalão no interior de Goiás, e Os primeiros soldados, gravado em Vitória, no Espírito Santo - esse com estreia para esse ano. O audiovisual precisa ser mais plural, diverso e para todes. MCB: Vento Seco, de Daniel Nolasco, é sua estreia como atriz no cinema, não é isso? Como aconteceu esse trabalho? RC: Foi meu primeiro trabalho no cinema. O produtor de elenco Kassio Pires me assistiu no espetáculo “Domínio Público” em uma apresentação em Goiás , nos encontramos em São Paulo e ali Kassio e Nolasco me apresentaram a Paula. Passamos quase dois meses em Catalão para estabelecermos o tempo da cidade, frequentamos festas e lugares observando hábitos alimentares, vestuário, comportamentos, músicas favoritas, gestos e o uso da linguagem que foram fundamentais para compor a Paula e criar uma relação afetiva com o elenco e equipe técnica. Foi muito emocionante estar no lançamento do filme no Berlinale, e agora, vendo-o rodar o mundo. Eu amo o resultado do filme e a Paula foi um presente, que bom estrear com Vento Seco. MCB: Qual foi a sensação de pisar no set de cinema como atriz pela primeira vez? RC: Receber um roteiro, ver os equipamentos técnicos, realizar ensaios, provas de figurino e maquiagem, trocar com a direção, preparação e elenco, ter a possibilidade da criação é um sonho sendo vivido. Espero sempre ter esse frescor toda vez que conseguir pisar num set. MCB: A líder sindical Paula, que é também a melhor amiga do protagonista Sandro, é uma personagem de destaque nesse belo e impactante filme. Há ali, na personagem, uma junção de altivez, doçura e postura crítica. Como foi compô-la? Você gostou do resultado do filme? RC: A Paula é a personagem solar do filme, a amiga fiel e festeira, e, ao mesmo tempo, a que cobra, denúncia e luta por direitos trabalhistas, um contraponto político à passividade do trabalhador conformado. A Paula é uma ativista, e o ativismo está presente na minha vida, ela é uma homenagem a todes esses ativistes que eu conheço, e que, de alguma forma, me atravessaram. A Política está muito presente em todo o filme, mas talvez, a Paula o torna concreto. Mas a personagem se faz na pausa, no respirar e no trazer ao chão, ao real, à terra, e com isso ela planta, cuida e alimenta. O filme está percorrendo festivais pelo mundo recebendo muitas críticas positivas, eu, particularmente, tenho muito orgulho de fazer parte deste filme e poder contar essa história. MCB: Tem algum outro trabalho na televisão ou no cinema que não falamos aqui? RC - O média-metragem Corpo sua autobiografia, que acabamos de ganhar um prêmio para aumentá-lo para um longa, onde faço o roteiro, atuo e divido a direção com Cibele Appes. Narra a história de um corpo em isolamento social e familiar, e o afastamento não é devido a um vírus, e, sim, por ser um corpo travesti E faço uma participação na 3ª temporada da série Impuros, da Fox. MCB: Para terminar, as únicas duas perguntas fixas do site. A primeira é qual o último filme brasileiro a que assistiu?
RC - Cartas para além dos muros (dirigido por André Canto). MCB: Qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e o porquê?
RC - Grace Passô. Quando vejo Grace, depois de conquistar sua existência no teatro, entrando no cinema de forma digna, escrevendo, dirigindo e interpretando personagens e histórias aprofundadas, colocando seu corpo como sujeito e não mais objeto. Ela me inspira, me fortalece e penso: - É possível. E Fernanda Montenegro, que nos ensina o verdadeiro papel do artista.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada por email no dia 2 de fevereiro de 2021.Crédito da foto: Carolina Pires

Mulheres do Cinema Brasileiro: Quando se deu o desejo de ser atriz? Quando tomou a decisão e como a colocou em prática?
Renata Carvalho: Iniciei em um curso gratuito de iniciação teatral em 1996, no Teatro Municipal de Santos. Foi o melhor encontro da minha vida, e de lá nunca mais saí.
MCB: Você começou a carreira artística em Santos, não é isso? Poderia falar um pouco e citar alguns trabalhos?
RC: Minha carreira se inicia e tem seu alicerce em Santos, minha prática e permanência no teatro por 20 anos aconteceu na baixada santista. Meus primeiros papéis foram em 1997 como o Orgon em Tartufo, de Moliére, e a Deolinda em “O caixeiro da Taverna” de Martins Pena. Em 1999, em “A casa de Bernarda Alba”, como Martírio, uma de suas filhas. Minha feminilidade fora dos palcos retirou-me a possibilidade de interpretar papéis masculinos. Em 2002, fundo a Cia. Ohm de Teatro e estreio na direção com “...” (reticências), e permaneço na direção por 10 anos: 2011: “Prólogo para o Diletante”; 2011: “O último suspiro”; 2009: “Quando as máquinas param”; 2005-2009: “Pelo buraco da fechadura”; 2004: “Lei 5.536”.
Estudo o corpo trans/travesti desde 2007, ano do meu percebimento travesti, quando me torno agente de prevenção voluntária de ISTs, HIV/AIDS, hepatites e tuberculose, pela secretária municipal de saúde de Santos, trabalhando, especificamente, com travestis e mulheres trans na prostituição.Com isso, passo a militar pela causa LGBTQIA+, com foco na população trans/travesti.
Em 2012 faço meu primeiro solo, “Dentro de mim mora outra”, onde contava minha vida e travestilidade. Este trabalho foi muito importante na minha trajetória, pois foi meu retorno aos palcos, e, dessa vez, como atriz. E é, a partir dele, que passo a debater meu corpo travesti em cena, e isso vai permear toda a minha arte e pesquisa. Faço parte d’O Coletivo, um coletivo artístico que reúne vários artistas da baixada santista, e com eles fiz: :2015: “ZONA!” e 2013 “Projeto Bispo”.
Fiz: 2000: Navalha na carne; (1999), mas também fui produtora, maquiadora e sou dramaturga. Minha arte passa por Patrícia Galvão, Plínio Marcos, Oscar Von Pfuhl, Carlos Alberto Soffredini, Greghi Filho, o FESTA - Festival Santista de Teatro, o Curta Santos, o Porto, a zona de prostituição e a praia.
MCB: Quando e como foi a chegada em São Paulo?
RC - Tudo se iniciou em 2015, quando soube que tinha sido selecionada para interpretar Jesus de Nazaré em “O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu” de Jo Clliford, com tradução e direção de Natalia Mallo. Em Santos, eu ainda trabalhava como cabeleireira, já que não conseguia me manter como artista, única opção possível, pois já tinha passado pela prostituição. Os ensaios da peça aconteciam em São Paulo, Gabi Gonçalves assume a assistência de direção e a produção com a Corpo Rastreado. Com a remuneração pelo trabalho, deixo o salão em setembro de 2015 e passo a me dedicar apenas ao teatro. Em 2016, estreamos no FILO - Festival Internacional de Londrina. Em janeiro de 2017, me mudo para São Paulo. Este trabalho possibilitou a minha profissionalização e permanência na arte.
MCB: Você poderia citar alguns de seus trabalhos nos palcos, onde tem carreira importante e premiada?
RC: Meus últimos trabalhos no teatro foram: 2019: “Manifesto Transpofágico”, um solo onde narro a historicidade e transcestralidade do meu corpo travesti; 201:) “Domínio Público”, espetáculo que revê a censura de quatro artistas na arte; 2016: “O evangelho segundo Jesus, Rainha do céu”.
MCB: A peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, é que a tornou conhecida no Brasil inteiro. Considero um dos maiores acontecimentos teatrais dos últimos anos. É um divisor de águas na sua carreira?
RC: Com certeza existe um antes e depois dessa peça, não só para mim. Este trabalho conseguiu levantar discussões calorosas na arte, na política, na religião, no judiciário e na educação ao mesmo tempo, denunciando e evidenciando a transfobia estrutural por onde ela passa. A peça sofreu 5 censuras entre 2017 e 2019. Desde agosto de 2016, quando estreamos, somos alvos de fake news, ameaças de espancamento e morte, levar tiro, linchamento virtual. Já sofremos um ataque à bomba, usei colete à prova de bala, manifestações nas entradas dos locais de apresentação, agressões (inclusive física) à equipe técnica, incendiaram ingressos, já retiraram som, cadeiras, iluminação, já apresentei com policia dentro do espaço e muitas plateias precisaram passar por revista para entrarem no local de apresentação. Foi muito violento para todes nós, passarmos por tantas violações e desrespeitos, mas, ao mesmo tempo, a peça percorreu o Brasil e países como Alemanha, Irlanda do Norte, Escócia e Cabo Verde na África. Possibilitou minha profissionalização e permanência nas artes, levando minha voz e corpo a lugares inimagináveis. E ainda conseguiu denunciar a exclusão e transfobia de corpos trans/travestis nas artes, auxiliando a luta por representatividade coletiva trans, a inclusão e permanência desses corpos nas artes.
MCB: Você é fundadora do MONART e do Manifesto Representativo Trans, iniciativas fundamentais na reivindicação de representatividade. O que a levou para essa militância?
RC: Como o meu corpo é político, eu também preciso ser. Sempre fui um ser político, mas como agente de prevenção voluntária, passo a participar de encontros, bates papos, conferências, congressos, conheço o movimento político organizado das travestis, a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), e passo a estudar o corpo travesti/trans, inicialmente mais voltado para questões ligadas à saúde. Aos poucos vou alargando para o espaço das artes. Minha transpologia (nome do meu estudo) aponta para a construção social, midiática, carnavalesca, criminal, patológica e sexual, que permeia o senso comum do que é uma travesti, e a arte corroborou com suas narrativas viciadas, estereotipadas e depreciativas com a prática do trans fake. E que nós artistas somos e fomos responsáveis por marcar determinados corpos, então precisamos ser responsáveis para reconstruir o imaginário do senso-comum. Sempre que denunciava a falta de pessoas trans nos espaços de arte, como resposta ouvia muito: - Mas não existem artistas trans capacitados.
Fundo o MONART como uma denúncia de que nós existimos sim e temos talento, inspirada em Zezé Mota e Abdias do Nascimento, que fizeram o mesmo com artistas negros. Mas também como forma de nos conhecermos, trocarmos e pensarmos juntes nossa inclusão e permanência na arte. Hoje, o Monart conta com mais de 170 artistas trans de várias áreas artísticas de todo o Brasil. O MONART e o Manifesto Representatividade Trans vêm para ampliar nossos entendimentos artísticos, e o que pedimos a todes os artistas é que tenham comprometimento ético com nossas pautas, e com isso, pausem a prática do transfake.
MCB: Além de travestis e trans ainda terem condições de vida da Idade Média, pois é um escândalo que a perspectiva de vida seja de 35 anos, é também um escândalo que as artistas travestis e as/os artistas trans não tenham espaço para se expressarem. Como você vê a peças e filmes sobre travestis e trans ainda sendo representadas por cis, mesmo com todo o apelo da comunidade? Tem melhorado as oportunidades para artistas travestis e trans?
RC: A vida média de uma travesti /trans no Brasil oscila entre 27 a 35 anos. Primeiro que é evidente o avanço de artistas trans e travestis dentro da arte. Nunca vimos um número tão expressivo de artistas trans se destacando em vários campos da arte e de forma tão plural. A representatividade é coletiva, precisamos ocupar em quantidade para conseguirmos a naturalização desses corpos. É evidente que quando grandes empresas e produtoras (Globo, Netflix, O2, Canal Brasil, FOX, entre outras) entendem a representatividade trans nas produções artísticas e passam a incluir esses corpos em suas produções, vemos a reação do mercado como um todo mudar.
Mesmo com todo avanço na luta e no debate por representatividade trans nas artes, nós artistas trans encontramos uma barreira, um muro que dificulta o diálogo de forma ética. Esse muro, concomitantemente, vem dos homens cisgêneros gays, que por estarmos na mesma sigla LGBT, daria uma falsa ideia de pertencimento e entendimento das nossas pautas, utilizando sua orientação sexual como escudo de defesa. Ou então, que estariam sendo censurados e que não poderiam mais “brincar” entre o feminino e masculino. Bom, para haver censura precisamos de uma relação de poder, e ela não está com as pessoas trans. E penso com os meus silicones, mas os homens cisgêneros “brincam de masculino e feminino” desde que o teatro é teatro. Vejo esses homens cisgêneros gays, na maioria de vivência branca, como os atores cisgêneros brancos do Séc. VI, que foram contra a entrada de mulheres cisgêneras brancas no teatro. Vale lembrar, que as mulheres eram proibidas de falar em público, a oratória só era permitida aos homens brancos. Esses atores (muitos ficaram famosos com personagens femininos) viam essa luta como perda, para eles . O teatro “perdeu” com a entrada das mulheres cisgêneras brancas? O homem cisgênero parou de experimentar o feminino em cena? Ou os vejo, como na década de 40, onde artistas cisgêneros brancos foram contra a reivindicação de Abdias do Nascimento, que buscava a representatividade negra nos palcos e o fim da prática do blackface, ou ainda, os que diziam para Zezé Motta que não existiam atores negros talentosos (escutava o mesmo), e ela abre uma agencia para atores negros.
Toda mudança requer um luto de algo, talvez esses atores gays não tenham interesse por representatividade por não terem interesse em mudar algo que os privilegia tanto. Por isso, hoje estamos falando de ética. Não tem problema você não estar atento às nossas pautas, mas e agora que você sabe, o que você faz com tudo isso? E é esse compromisso ético que esperamos de todes es artistas. A mudança é perceptível, óbvio que temos muito a avançar, mas como diz Riobaldo: Há um ponto de marca, que dele não se pode mais voltar para trás.
MCB: Você, finalmente, e demorou mais que deveria, está também levando seu talento para o audiovisual. Gostaria que comentasse sobre suas participações nas séries Pico da Neblina, Toda Forma de Amor, e Nós.
RC: Corpos como o meu nunca foram bem recebidos e acolhidos pelo audiovisual, o meu corpo só é atrativo para a indústria pornográfica. Existe uma barreira causada pela transfobia estrutural, que nos exclui dos sets de filmagem. Todos esses trabalhos no audiovisual aconteceram nos últimos 3 anos. Em 2019, Toda forma de amor foi minha primeira experiência. Também em 2019, em Pico da Neblina, a personagem misteriosa “Carmem” foi minha primeira grande produção, estamos na espera do começo das gravações da 2ª temporada, interrompida pela pandemia. Em 2020, Nós tem, além de mim, mais duas atrizes trans, Fabia Mirassos e Maria Leo Araruna. Dalila me presenteou com uma cena linda. Está sendo um desafio delicioso descobrir essas novas formas de atuação.
MCB: Sua participação no filme Para onde voam as feiticeiras, da Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, como você mesma, é pequena, mas marcante. É muito impactante quando você diz ali que é atriz há 22 anos, mas nunca foi convidada para o cinema. Poderia comentar sobre isso?
RC: Sempre foi um sonho fazer um longa-metragem, mas o corpo travesti é visto como uma farsa, mentira, doente, pecaminoso, que barra nossas presenças nas artes. Eu digo que o cinema é a medicina da educação, poucos alcançam ou podem exercê-la. O audiovisual corroborou bastante na construção do imagético do que é ser uma travesti, mesmo quando “permitem” a nossa presença a grande maioria são em histórias estereotipadas, viciadas, criminais, doentes e/ou sexuais. Já fui em testes que a primeira coisa que me perguntaram foi: O que você está fazendo aqui? Já me disseram que ninguém acreditaria em mim interpretando aquele papel, que minha voz não era crível, fui retirada de última hora do elenco de dois filmes, onde seria a protagonista. O diretor de um deles me mandou um e-mail muito triste e um pouco envergonhado, no outro a diretora mandou um e-mail frio e desapareceu, foram muito dolorosos esses momentos. Eu fiz/faço cinema, e muites outres, porque ele se democratizou com a tecnologia nas mãos e faculdades de cinema gratuitas, ampliou a possibilidade de realizar cinema. Fiz dois filmes como atriz em 2019: Vento Seco, gravado em Catalão no interior de Goiás, e Os primeiros soldados, gravado em Vitória, no Espírito Santo - esse com estreia para esse ano. O audiovisual precisa ser mais plural, diverso e para todes.
MCB: Vento Seco, de Daniel Nolasco, é sua estreia como atriz no cinema, não é isso? Como aconteceu esse trabalho?
RC: Foi meu primeiro trabalho no cinema. O produtor de elenco Kassio Pires me assistiu no espetáculo “Domínio Público” em uma apresentação em Goiás , nos encontramos em São Paulo e ali Kassio e Nolasco me apresentaram a Paula. Passamos quase dois meses em Catalão para estabelecermos o tempo da cidade, frequentamos festas e lugares observando hábitos alimentares, vestuário, comportamentos, músicas favoritas, gestos e o uso da linguagem que foram fundamentais para compor a Paula e criar uma relação afetiva com o elenco e equipe técnica. Foi muito emocionante estar no lançamento do filme no Berlinale, e agora, vendo-o rodar o mundo. Eu amo o resultado do filme e a Paula foi um presente, que bom estrear com Vento Seco.
MCB: Qual foi a sensação de pisar no set de cinema como atriz pela primeira vez?
RC: Receber um roteiro, ver os equipamentos técnicos, realizar ensaios, provas de figurino e maquiagem, trocar com a direção, preparação e elenco, ter a possibilidade da criação é um sonho sendo vivido. Espero sempre ter esse frescor toda vez que conseguir pisar num set.
MCB: A líder sindical Paula, que é também a melhor amiga do protagonista Sandro, é uma personagem de destaque nesse belo e impactante filme. Há ali, na personagem, uma junção de altivez, doçura e postura crítica. Como foi compô-la? Você gostou do resultado do filme?
RC: A Paula é a personagem solar do filme, a amiga fiel e festeira, e, ao mesmo tempo, a que cobra, denúncia e luta por direitos trabalhistas, um contraponto político à passividade do trabalhador conformado. A Paula é uma ativista, e o ativismo está presente na minha vida, ela é uma homenagem a todes esses ativistes que eu conheço, e que, de alguma forma, me atravessaram. A Política está muito presente em todo o filme, mas talvez, a Paula o torna concreto. Mas a personagem se faz na pausa, no respirar e no trazer ao chão, ao real, à terra, e com isso ela planta, cuida e alimenta. O filme está percorrendo festivais pelo mundo recebendo muitas críticas positivas, eu, particularmente, tenho muito orgulho de fazer parte deste filme e poder contar essa história.
MCB: Tem algum outro trabalho na televisão ou no cinema que não falamos aqui?
RC - O média-metragem Corpo sua autobiografia, que acabamos de ganhar um prêmio para aumentá-lo para um longa, onde faço o roteiro, atuo e divido a direção com Cibele Appes. Narra a história de um corpo em isolamento social e familiar, e o afastamento não é devido a um vírus, e, sim, por ser um corpo travesti E faço uma participação na 3ª temporada da série Impuros, da Fox.
MCB: Para terminar, as únicas duas perguntas fixas do site. A primeira é qual o último filme brasileiro a que assistiu?
RC - Cartas para além dos muros (dirigido por André Canto).
MCB: Qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e o porquê?
RC - Grace Passô. Quando vejo Grace, depois de conquistar sua existência no teatro, entrando no cinema de forma digna, escrevendo, dirigindo e interpretando personagens e histórias aprofundadas, colocando seu corpo como sujeito e não mais objeto. Ela me inspira, me fortalece e penso: - É possível. E Fernanda Montenegro, que nos ensina o verdadeiro papel do artista.
Veja também sobre ela