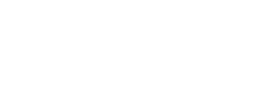Zora Santos
 Nascida em Belo Horizonte, Zora Santos é uma atriz com carreira no teatro e no cinema, e referência para o movimento negro. Referência no sentido mais próprio do termo, pois sua militância vem do corpo negro sobrevivente.
Nascida em Belo Horizonte, Zora Santos é uma atriz com carreira no teatro e no cinema, e referência para o movimento negro. Referência no sentido mais próprio do termo, pois sua militância vem do corpo negro sobrevivente.
Sua carreira começou no início da década de 1970, ao vencer um concurso de manequim. A partir daí, desenvolve carreira na moda, passa temporada na Europa, estreia no teatro, faz temporada nos palcos do Rio de Janeiro, e, depois de décadas, dá sequência à carreira de atriz. A estreia no cinema se dá em um clássico, Os Inconfidentes (1972), de Joaquim Pedro de Andrade. Na década de 1980, atua em Chico Rei (1985), de Walter Lima Jr, depois fica décadas sem atuar. Retorna às telas nos anos 2010, em Paresiga (2018), dirigido por Gilberto Scarpa, e depois atua em Vaga Carne (2019), filme de Grace Passô e Ricardo Alves Jr.
Zora Santos movimenta também as redes sociais, seja em posicionamentos fortes sobre a questão negra, seja com suas lives sobre cozinha preta, como nos projetos “Vem cozinhar comigo” e “Comida de Cerca”. Marca presença também na Segunda Preta, espaço para apresentações e reconfigurações de atrizes negras e atores negros nos palcos, em projeto em que já foi homenageada.
O Site Mulheres do Cinema Brasileiro está comemorando 17 anos, foi criado no dia 12 de maio de 2004, e essa entrevista com a atriz Zora Santos dá sequência às comemorações, iniciada com entrevista com Zezé Motta. A celebração vai contar ainda com outras entrevistadas, assim como repostagem de antigos conteúdos que foram retirados do site, e voltarão atualizados.
Nessa entrevista, concedida por telefone, Zora Santos repassa sua trajetória, que começou nas passarelas como manequim, a estreia no cinema e os filmes em que atuou, o trabalho impactante com a cozinha, a questão negra, e muito mais nessa entrevista especial e comemorativa.
Mulheres Do Cinema Brasileiro: Zora, para a gente começar: nome, cidade em que nasceu, a data de nascimento e a formação.
Zora Santos: Zora Santos, eu sou de Belo Horizonte, nasci em 11 de março de 1953, sou autodidata.
MCB: O início da sua trajetória artística foi no começo da década de 1970. Me corrija se estou errado, mas logo no início, em 1972, você participa de um concurso de modelo, e, logo depois também, já estreia no teatro e no cinema. Eu gostaria que você falasse sobre esse início da sua trajetória.
ZS: Posso, posso se eu der conta, pois eu sou péssima em datas, eu só consigo me nortear pelos anos em que meus filhos nasceram, por aí eu consigo me situar. No início dos anos 1970, 71, não sei precisamente, começou com um programa que tinha aqui em Belo Horizonte na TV Itacolomi, que era uma versão mineira do programa Flávio Cavalcanti, eu não sei se você se lembra.
MCB: Do Flávio Cavalcanti eu me lembro demais, essa versão daqui não.
ZS: Esse daqui era feito pelo filho do Jacob do Bandolin, o Sérgio Bittencourt, ele apresentava o programa, onde lançou um concurso a pedido do estilista Byan, daqui de Belo Horizonte. Ele lançou o concurso procurando uma manequim, na época não se falava modelo, para desfilar essa primeira coleção do Byan, que, aliás, era interessantíssima, era feita toda com artesanato mineiro. Aí umas amigas do colégio me inscreveram, mas não me falaram, só me comunicaram na véspera, e, para a minha surpresa, eu ganhei o concurso. Começou tudo daí, porque da passarela até hoje parece que o caminhar é esse, né? Da passarela eu fui convidada pelo José Mayer para substituir Ana Deyse em uma peça, que era no teatro Senac. Eu estreei com essa peça, que depois foi para o Rio de Janeiro, no teatro Senac do Rio, e lá começou.
MCB: É o “Relatório Kinsey”?
ZS: É o “Relatório Kinsey”, direção do Alcione Araújo.
MCB: E a carreira de manequim, ela prosseguiu? Ela foi paralela? Como que se deu?
ZS: Na época, como hoje, foi uma carreira muito curta. Primeiro que na época, aqui no Brasil, tinha uma mulher linda, Veluma, uma carioca, tinha eu, e depois veio uma safra de modelos, mas tinha dificuldade. Parece até bobagem o que eu vou falar, mas as donas das confecções, nem era confecção assim, na época era alta costura, tinha um receio das mulheres negras usarem as roupas, porque as mulheres negras, para elas, deixavam cheiro nas roupas.
MCB: Impressionante, né Zora?
ZS: Pois é... alta costura ainda né? Mas aí logo depois eu comecei no teatro e fui para outro caminho.
MCB: Você contou como se deu a sua estreia como modelo, e que no teatro você disse que foi convidada pelo José Mayer. Você já tinha essa vontade da carreira artística como atriz?
ZS: Eu era muito nova, talvez eu não tinha muita consciência de ter esse desejo não, mas quando eu pisei no palco do teatro Senac pela primeira vez eu não queria outra vida, fui mordida pelo bichinho do palco, ai que as coisas começaram a acontecer na minha cabeça em relação a representar. Agora, depois de mais velha, é que eu percebo que, na verdade, eu fazia isso a vida inteira. Eu encontrei amigas de ginásio, por exemplo, que me contam histórias que eu entendo que já fazia teatro, só não tinha consciência disso. Uma delas me contou que eu fui presidente de um grêmio em uma época, e que eu promovia peças. Eu não me lembrava disso, segundo ela, em uma das reuniões desse grêmio, inclusive, eu ri muito, em uma delas eu dublei Caetano Veloso (risos).
MCB: Que ótimo!
ZS: Então a coisa já vinha, eu só não tinha consciência disso, e ainda bem que eu tive oportunidade de descobrir esse caminho.
MCB: Eu tenho aqui nomes de alguns espetáculos, me corrija se tiver alguma incorreção. Tem o “Orfeu”, que é de direção do Haroldo de Oliveira, com direção musical do Paulo Moura.
ZS:A Zezé (Motta) fazia Eurídice.
MCB: Eu quero voltar a esse espetáculo, mas vou citar mais alguns.
MCB: “A Incrível Borboleta Azul”.
ZS: Esse é da Esthergilda Menicucci, direção de Márcio Machado.
MCB: E tem “No Mundo da Lua”.
ZS: “No Mundo da Lua” foi no Rio, direção de Eduardo Machado, uma peça infantil do Teatro Rival.
MCB: Me fala sobre o “Orfeu”, que é um marco, com montagens importantes, essa com direção musical do Paulo Moura, você acabou de falar agora da Zezé. Queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho.
ZS: O Zózimo Bulbul fez o “Orfeu”, esse trabalho foi montado, inicialmente, no Renascença Clube, no Rio, com produção do Cláudio Coutinho, foi montado e levado no Renascença com os associados do clube. Aí o Cláudio Coutinho resolveu produzir essa peça, convidou a Zezé Zezé, convidou Zózimo, levou o elenco que fez o Renascença. Eu fiz uma audição e passei. Foi uma experiência que não tem como descrever. Primeiro, imagina, uma direção musical de Paulo Moura, né? Da temporada mesmo eu me lembro pouco, no Teatro Tereza Rachel, era um elenco grande, a gente tinha muito tempo de vê-los atuando e ensaiando, isso, para mim, foi como um curso de teatro, tanto que eu me lembro muito dos ensaios. O “Orfeu” marcou a minha vida muito mais nos bastidores e no aprendizado, foi no “Orfeu” que eu aprendi a ler o texto, que eu percebi o que era cantar, porque era um musical, né? Não foi uma temporada muito longa, foi curta, mas foi um período muito importante para mim, isso sim me abriu um olhar para o teatro, sabe.
MCB: E como se deu esse trânsito entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, como se deu esses trabalhos fora daqui?
ZS: Pois é, antes de ir para o Rio eu cheguei a ir para a Europa.
MCB: Não sabia....
ZS: Antes do teatro, eu fiz uma temporada de moda, depois que eu voltei entrei no “Relatório Kinsey”, daí fui para o Rio, o elenco voltou e eu fiquei. Aí aconteceram muitos trabalhos, eu fiz várias feiras de moda no Rio, e aí eu intercalava entre moda e teatro.
MCB: Você ficou no Rio por quanto tempo?
ZS: Nossa, eu fiquei anos, anos. Acho que eu voltei para Belo Horizonte quando tive meu primeiro filho, eu não estava grávida, eu fiquei grávida aqui, mas eu voltei e meu filho nasceu em 1979. E nós estamos falando aí do começo dos anos 70, né?
MCB: É muito tempo mesmo.
ZS: Só que, nesse intervalo, já ia me esquecendo, antes de ir para o Rio, antes da peça, eu fiz Os Inconfidentes (1972),com o Joaquim (Pedro de Andrade), eu fui chamada por causa da moda.
MCB: Sim, nós vamos, daqui a pouco, entrar especificamente no cinema.
ZS: As datas estão dançando na minha cabeça (risos).
MCB: Porque, na verdade, também, tudo acontece ao mesmo tempo, né Zora? Tudo no início da década de 1970.
ZS: Que era uma época louca também para a cabeça de todo mundo que viveu aqueles tempos.
MCB: É uma época que eu, particularmente no cinema, gosto muito, gosto muito dessa época também na canção popular. Enfim, década de 1970 é um pouco o meu xodó.
ZS: O meu também. Eu tenho medo de parecer saudosista, mas é porque eu era jovem na época e, talvez por isso, eu achava tudo maravilhoso, tudo divino e maravilhoso, como dizia o poeta. Tinha toda aquela efervescência, toda aquela produção enorme, teatro, cinema, as coisas aconteciam todos os dias, a sensação que eu tenho é que a gente estagnou, né?
MCB: Mais do que isso, né Zora? A gente retrocedeu, nós fomos lá para a Idade Média.
ZS: É, exatamente. O meu filho morre de rir, os meus amigos também, porque a grande maioria é jovem, e eu falo para eles que eu acho a geração deles, que estão com 40 anos hoje. eu acho assim tão careta, sabe.
MCB: E trabalhos na televisão?
ZS: Não fiz. Eu me lembro de uma participação que eu fiz nos tempos áureos do “Fantástico”, foi um clipe com o Luiz Melodia.
MCB: Olha que maravilha.
ZS: Ele cantando “Pérola Negra”, quatro mulheres negras, uma delas era Maria Rosa, que foi atriz de novela, a outra eu acho que era a Veluma. O clipe era lindo, era lindo, fez um sucesso enorme.
MCB: Até hoje a gente sabe da dificuldade de atores e atrizes negras na televisão, mas naquela época você não fez porque não te interessou ir atrás ou não encontrou mesmo possibilidade?
ZS: Eu não encontrei mesmo possibilidade, e eu estava mais focada em teatro. É engraçado perceber isso hoje, mas eu não tenho deslumbre não, essa profissão para mim é trabalho, se as coisas acontecerem eu faço com prazer, com alegria, mas eu não sou muito de correr atrás das coisas que as pessoas acreditam que seja o sucesso não.
MCB: Vamos falar agora de cinema. Você começou falando de Os Inconfidentes, eu queria saber como se deu essa sua chegada no cinema brasileiro?
ZS: Quando eu ganhei o concurso, alguém me viu, não me lembro mais quem, e me fizeram um convite para eu participar. Foi muito engraçado, porque a produção foi lá em casa pedir meu pai para eu ir, porque eu era menor (risos). Eu me lembro que tem uma coisa muito engraçada, para rir com o olhar de hoje, eu estudava ainda, eu fazia ginásio e eu tive medo de ir para Outro Preto sozinha. Eu tinha um amigo na Serra, um amigo do coração, eu chamei esse amigo para ir para Ouro Preto comigo, porque a gente iria gravar lá. Esse amigo foi, foi um parceiro, enturmou com a equipe toda. A gente se perdeu lá, não nos encontramos mais, e esse amigo, sabe quem era? O Carlão (Carlos Rocha), do teatro, que foi casado com a Cida Falabella.
MCB: Que ótimo!
ZS: Os dois adolescentes indo para Ouro Preto, para aquela equipe, com aquele elenco maravilhoso. E quando eu digo que a gente se perdeu lá é porque, assim que eu cheguei, o Fernando Torres me adotou, porque eu era uma menina, né. Sabe o que é adotar? Ele cuidava se eu já tinha jantado, ele me levava para o hotel depois que acabava a gravação, e ele me adotou porque eu tinha idade para ser filha dele, ele tinha deixado os filhos no Rio. Então aí eu me perdi do Carlão, o Carlão ficou amigo das pessoas lá também, me perdi em Ouro Preto é ótimo, né? E o elenco era uma coisa de outro planeta, porque era José Wilker, (Paulo César) Peréio, Margarida Rey, olha...
MCB: É, fabuloso.
ZS: Era um elenco maravilhoso, e o cinema, eu vou te confessar, eu falei do teatro, mas agora também, depois de alguns anos, eu descobri que do que eu gosto mesmo é de cinema. Eu falei sobre isso com o Ricardo Alves Jr uma vez, eu sou a única atriz que fala que gosta do set. Eu gosto da espera, eu gosto daquele clima.
MCB: Que é isso que eu ia te pedir agora, se você consegue se lembrar quando você pisou no set de cinema pela primeira vez?
ZS: Pois é, acho que foi na Casa dos Contos, na Praça Tiradentes, eu tenho até foto dessa cena, é a única foto que eu tenho, com o Fernando Torres, com o (Paulo César) Peréio. Eu me lembro da cena, eu me lembro perfeitamente agora, o tanto que tremi, o tanto de insegurança. O Joaquim era um príncipe, eu tinha ideia que set de cinema era aquele com diretor de cinema que se comportava como chefe de cozinha, sabe? Aquele que joga faca, que grita E ele era um lorde, falava baixinho, fazia carinho em ator, fosse figurante, fosse quem fosse. Por isso, talvez, eu goste tanto do set, talvez seja porque a lembrança que eu tenho no set é dele.
MCB: E é um filme tão bonito e tão importante na história do cinema brasileiro, ou seja, você estreou com o pé direito.
ZS: É, estrear com esse diretor e esse elenco, tá carimbado, né?
MCB: E um clássico, né Zora? Porque Os Inconfidentes é um clássico do cinema brasileiro. Aí você atua no Os condenados, do Zelito Viana.
ZS: A história de Os Condenados é ótima, porque eu fiz figuração, mas a cena foi cortada.
MCB: Ah, foi?
ZS: É, eu nem cito.
MCB: Os condenados tem a minha atriz paixão, que é a Isabel Ribeiro.
ZS: Acho ela maravilhosa. Nesse filme, era uma cena de um cabaré, e essa cena foi cortada. Eu me lembro dela atuando, ela era aquele tipo de atriz que quando a cena acabava ela tinha crise de choro, sabe?
MCB: Eu sou apaixonado por ela, Zora.
ZS: Nossa, ela era de uma entrega, era o filme também com o Cláudio Marzo, né?
MCB: É, e ela era uma prostituta.
ZS: É, era no cabaré a cena em que eu participei. Ela atuando não tinha para ninguém, maravilhosa demais, mas esse filme eu nem cito.
MCB: E ela faz parte aí de uma geração que morreu cedo, ela, Dina Sfat...
ZS: Dina Sfat, exatamente.
MCB: São atrizes fortes.
ZS: Elas eram muito intensas, aquela pessoa que vivia 24 horas por dia para se preparar, para atuar, para entrar no personagem, é uma outra era, né, um outro tipo de ator, Grace (Passô) me lembra muito ela.
MCB: A Grace é muito poderosa mesmo, porque tem essa questão do furor, né, é um furacão.
ZS: Eu chamo ela de furacão, furacão Grace, ela tem essa coisa que a Isabel tinha, que a Dina Sfat tinha, que a gente não sabe dizer em palavras.
MCB: Exato, e que você olha e diz: é atriz.
ZS: É, são raras. Renata Sorrah também tem isso.
MCB: Darlene Glória também é assim. E uma das que sou mais apaixonado na vida, que é a Léa Garcia.
ZS: Fabulosa, a Léa tem uma coisa para além dessas que a gente está falando, a Léa tem uma coisa que eu também não sei dizer em palavras, que é passar o texto com o olhar, que aquilo eu queria aprender. Pode dar para ela o papel que for, o papel que não tem importância na trama, que ela com o olhar passa tudo, tudo, a Léa tem um olhar poderosíssimo.
MCB: E é altiva, né Zora?
ZS: É, e sabe usar, ela sabe, é uma grande atriz. Isso que você está fazendo, esse trabalho é importantíssimo porque nós realmente não temos memória, não temos documentos, não temos registros, né? Eu costumo pensar que o sistema é tão bruto que isso é de propósito, sabe? Porque eu acho que quando você apaga a história, como aqui no Brasil, você abre brecha para a grande indústria da televisão, porque aí o público passa a querer consumir só caras novas, independente de qualidade, independente do trabalho. A dedicação, o empenho, o trabalho, essa era de celebridade que a gente vive matou também isso.
MCB: E aí tem o Chico Rei (1985), com o Walter Lima Júnior. Como foi esse trabalho, como você chegou até ele?
ZS: O Chico Rei foi uma saga, a história do Chico Rei. Primeiro que era uma produção alemã e brasileira, e essa produção decidiu trazer atores negros do Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, aqui de Belo Horizonte nós fomos, acho, umas 30 pessoas, do Rio mais 30. Quem fez o Chico Rei foi um ator (Severino d’Acelino), se não me engano do Maranhão. De Salvador foram mais 30, de São Paulo mais 30. Aí a gente se encontrou em Parati, e na noite em que o elenco inteiro chegou, isso deveria ser um filme, os alemães que vieram, os atores alemães entraram em pânico e não saíram do hotel, porque tinha mais de 300 negros na rua de Parati, e eles não haviam visto nem um, agora imagine esse tanto?
MCB: É bom que tomaram um banho de civilização, né (risos)?
ZS: Exatamente, eu acho que eles eram seis. E você sabe da história? Sabe que foi construído um navio negreiro para filmar, né? Tinha o (Antônio) Pitanga, o elenco era maravilhoso. Eles saíam às 4 horas da manhã para filmar em alto mar, porque eles queriam a luz natural do dia amanhecendo em alto mar, quanta história que eles chegavam contando. E aí era uma festa em Parati toda noite, porque mesmo quem não estava trabalhando estava em Parati, era uma produção rica. Eu gravei em terra lá em Parati, uma cena linda, cena do batismo, da chegada dos escravizados, onde eles recebiam o nome cristão, foi muito bonita essa cena. Aí vem a fase de Ouro Preto, a produção trouxe todo esse elenco para Ouro Preto, esse tanto de gente, todos os hotéis ocupados, todas as pensões. Como se chama os locais de estudantes?
MCB: República.
ZS: Todas as repúblicas, aquela pretaiada pelas ruas. Os primeiros 15 dias foram maravilhosos, no final do primeiro mês o dinheiro acabou. A produção era de um longa e de um especial para a TV alemã. O filme não foi rodado todo, não sei se você sabe dessa história, eles editaram o que foi possível, porque o dinheiro acabou e o elenco ficou. O produtor brasileiro foi para o Rio e o elenco ficou em Ouro Preto ao Deus dará, os restaurantes se recusavam a fornecer comida, os hotéis começaram a colocar o elenco pra fora porque não recebia.
MCB: Olha, que loucura.
ZS: Foi um caos, seria um filme paralelo, né? E eu estava grávida da Mariana, minha filha do meio, eu fiz o filme toda grávida, a Mariana nasceu lá, não tinha acabado ainda a filmagem, ela nasceu em Ouro Preto, em 1981. Esse filme foi uma saga. Uma aventura mesmo, tanto que eu vou te confessar que eu não consigo assistir ao filme inteiro até hoje, não consegui.
MCB: Você se lembra quanto tempo durou as filmagens?
ZS: Contando Parati e Ouro Preto? Eu não sei te precisar não, mas, Mariana nasceu em Ouro Preto, isso deve ter durado uns cinco meses, todo mundo junto, eu acho que deve ter durado isso.
MCB: E como foi a relação com o Walter Lima Junior?
ZS: Ele é outro lorde. Quando aconteceu essa questão da produção, ele ficou estressadíssimo, como todo mundo, muita gente não recebeu, as pessoas foram dispensadas, muita gente do elenco foi dispensada sem ter dinheiro para voltar para casa, para você ter uma ideia. O Walter, durante as filmagens, foi maravilhoso. Eu tenho a lembrança do final, que foi muito traumático.
MCB: Imagino, tanto que foi um filme mal lançado, eu me lembro, eu assisti a esse filme quando ele foi lançado nos cinemas, mas eu me lembro que foi um lançamento curto, ele ficou pouco tempo em cartaz e muita gente ficou anos sem conhecer esse filme.
ZS: É, imagino que a fonte secou, o dinheiro acabou e não tinha dinheiro nem para o lançamento, parece que a produção foi mal conduzida, sabe, não posso afirmar isso, mas parece que foi mal conduzida, teve uma confusão aí.
MCB: Depois você só volta ao cinema em Paresiga ou tem algum outro que eu não estou sabendo?
ZS: Depois é só em Paresiga.
MCB: E por quê? Você não teve oportunidades? Você não foi atrás, não te interessou? A vida tomou outros caminhos? O que aconteceu?
ZS: A vida tomou outros caminhos. Porque quando eu fui para o Chico Rei eu já tinha o primeiro filho, Bernardo, eu estava grávida da Mariana, Mariana nasceu em Ouro Preto. Depois que acabou o filme, que nós fomos dispensados, eu me dediquei a criar os filhos e a correr atrás de trabalho para criar esses filhos, então eu fiquei praticamente quase 40 anos sem fazer nada de atriz.
MCB: Nem no teatro, Zora?
ZS: Deixa eu ver. No teatro eu voltei a atuar em trabalho com o Adyr (Assunpção), mas a gente nem estreou, nós chegamos a ensaiar durante muito tempo, e isso foi bom porque me renovou para voltar a atuar, meus filhos já estavam adultos. E aí foi nesse meio tempo que entra a cozinha.
MCB: Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aí você já retoma ao cinema nesse filme com o Gilberto Scarpa. Queria que você comentasse sobre esse trabalho.
ZS: Foi maravilhoso, o Gilberto escreveu o filme para o Adyr, e o Adyr me indicou, a gente tinha trabalhado, feito esse trabalho do teatro que eu te contei. Eu fiz um teste e o Gilberto me escolheu. O roteiro do Gilberto é ótimo , ele tem um humor que é maravilhoso, e ele escreveu em cima do As Pontes de Madson. O Paresiga é de uma trilogia, e esse episódio que eu faço com o Adyr é em cima do As Pontes de Madson. Então fazer o filme foi maravilhoso. A primeira coisa que o Gilberto sugeriu foi que a gente esquecesse o filme, ele trabalhou com a gente exatamente para apagar da mente o filme e dar um enfoque mineiro, que o roteiro dele pedia, a história de um casal simples e comum, mineiros em viagem. Eu já te falei que adoro set, e o set do filme foi maravilhoso, a gente filmava tudo aqui em Belo Horizonte, na Serra do Rola Moça. É uma delícia o resultado do filme, foi muito bom ter feito, uma coisa leve, uma experiência leve com o resultado do filme. Aliás, cinema, mesmo com a edição, eu acho que o ambiente do set determina muito o resultado final. Porque quando a gente tem um diretor que tira do ator exatamente o que ele quer, e, às vezes, sem mesmo o ator saber, isso fica lá no filme . Porque cinema é arte do diretor, ele que sabe o que quer, a gente acha que está fazendo uma coisa e quando a gente vê o filme a gente leva um tapa. E tem a edição, o trabalho do ator é um complemento. Com o Vaga Carne foi assim, eu levei um susto.
MCB: Você faz, com a Grace Passô e o Ricardo Alves Jr, o Vaga Carne, que já vinha de um monólogo da Grace muito impressionante no teatro.
ZS: O Vaga Carne, que é uma outra experiência, porque eu achava que o “Vaga Carne” do teatro já era uma coisa definitiva. E aí eles pegam um monólogo, que dependia da Grace o tempo todo, e fazem uma outra coisa. Quando eu vi o filme no Festival de Tiradentes, quando abriu a tela, eu levei um tapa. A linguagem que Ricardo e Grace conseguem fazer com o Vaga Carne no cinema é uma coisa única, tem uma coisa nova ali, mas eu não sei o que é. Porque é um embrião aquilo, você não acha não?
MCB: E ao mesmo tempo também trazendo a força do teatro. Porque as cenas ali de palco e de plateia no filme, com vocês ali o tempo todo, trazendo uma pulsão, já que o Vaga Carne, ele é, sobretudo, o corpo da Grace, né?
ZS: O corpo o tempo todo. Eu acho que eles desmistificam aquela conversa que são duas linguagens completamente diferentes.
MCB: Sim, aquela coisa redutora, de teatro filmado.
ZS: Isso. Porque não é. Eles levaram o teatro para a tela, mas não é um teatro filmado, é um filme que eu tenho um prazer muito grande de ter feito. Eu acho que esse filme também inaugura alguma coisa, que a gente não sabe o que é. Eu acho que ele tem uma importância, de filmagem, de linguagem, eu tenho um prazer muito grande de ter feito esse filme.
MCB: No “Vaga Carne” no teatro tem ali o corpo da Grace, já no filme tem o corpo da Grace e todas aquelas reverberações, né Zora? Reverberações materializadas, é muito forte mesmo.
ZS: E que é uma coisa muito difícil de ser realizada, primeiro no tempo que foi, porque é um filme que só se tornou possível por causa do Festival de Tiradentes (para a homenagem que Grace recebeu da Mostra de Cinema de Tiradentes). Então ele foi feito a toque de caixa, o tempo foi muito curto para realizar, para editar. A montagem do Gabito (Gabriel Martins) é linda, é bárbara, eu tenho um orgulho enorme.
MCB: O seu próximo trabalho audiovisual, e que vai dialogar com a sua trajetória da cozinha, é o Quarentenas, no episódio Droga Zora (websérie de Gilberto Scarpa)
ZS: Acredito que sim, aí já é a fase de pandemia, eu tentando fazer juntar o que eu aprendi na vida com o ato de representar e o ato de cozinhar
MCB: Com a sua trajetória com a cozinha nas redes sociais, com o “Vem Cozinhar Comigo”, com o “Comida de Cerca”, a gente está falando de resgate, de resistência, de memória, né, de memória preta.
ZS: Sim.
MCB: Porque a sua cozinha é essencialmente preta, você é essencialmente preta. Como vem essa questão da sua militância Zora? Porque a militância, ela é uma palavra que, às vezes, fica tão externa, sendo que para a gente que é preto, ela já está no nosso corpo, no nosso corpo sobrevivente, né?
ZS: Eu acho que, de uma certa forma, você já até respondeu.
MCB: Mas eu queria te ouvir falando sobre isso, seja atuando, seja participando da Segunda Preta, seja os seus pronunciamentos nas redes sociais, com a cozinha, eu queria que você falasse um pouco sobre essa militância, mas no sentido mais próprio dela, que é essa do corpo sobrevivente.
ZS: Eu acho que, na verdade, eu descobri que eu poda colocar o meu corpo a serviço da gente preta, a serviço da cultura preta, na passarela. Na passarela eu descobri que a minha arma era o meu corpo. Com eu vim da moda, e só a palavra já é uma coisa excludente, elitista, todas as vezes que eu fazia um desfile eu percebia que eu precisava estar ali, mas eu queria estar fora dali. Sabe aquela imagem que rodou na internet por um tempo, de uma criança preta dentro do cercadinho e os meninos brancos em volta, olhando, como em um zoológico?
MCB: Sim, sim.
ZS: Eu me sentia daquele jeito, eu me sentia como aquela criança, toda vez que eu subia na passarela era o exótico, nunca era o belo, sabe, eu nunca fui considerada uma mulher bonita, eu era considerada uma mulher exótica. É aquela do cercadinho, né? É aquela que o Mandela mandou buscar o corpo dela na Europa, aquela que eles expunham toda noite porque ela tinha uma bunda enorme (Sarah Baartman). Foi exposta como uma aberração durante anos, acho que na Inglaterra. Eu também me sentia como aquela mulher, então eu fui percebendo que eu precisava usar o meu corpo. Na passarela era ficar calada, era um animal, mas o teatro, por exemplo, me proporcionava a fala, o olhar, a entonação, o cinema também. E aí veio a cozinha. Eu percebi que essa gourmetização só chegou a esse ponto porque as cozinheiras pretas permitiram, porque são quem estão atrás desse fogão a vida inteira nesse país, quem alimentou esse país pra ele chegar aonde ele chegou, e ele não chegou a lugar nenhum não, mas para chegar até aqui. E sempre foi uma profissão discriminada, totalmente ignorada. Aliás, hoje é o Dia do Cozinheiro, dia 10 de maio, foi uma profissão totalmente ignorada. Quando eu percebi que eu poderia juntar o que eu aprendi, o que eu aprendia com o palco e com o cinema, com leitura, com vivência, que eu podia usar a cozinha para falar disso, aí foi um prato cheio. E aí vieram as lives na pandemia. A gente não pode negar que a internet é um palco, e é um palco onde eu posso fazer o que que quiser e dizer o que eu quiser, e aproveitar isso para falar para os mais jovens “Ou, acorda, gente” A comida da sua avó é boa sim, o hambúrguer chegou depois, a gente foi criado comendo frango com quiabo.
MCB: Angu, né Zora? Ora-pro-nóbis.
ZS: Angu, bambá de couve, ora-pro-nóbis. Isso é a nossa comida, a nossa saúde hoje vem daí e a gente deixou o sistema matar isso, e quando eu falo do sistema matar eu estou falando, por exemplo, das fontes, aí a Academia lança a mão, dá nome, chama de produto alimentício não convencional. Não convencional para quem, cara pálida? Sendo que as nossas pretas sempre alimentaram a gente, né?
MCB: Exato.
ZS: Eu acho que é muito mais preservação, apesar que eu não gosto dessa palavra, e resgate também não gosto, do que qualquer outra coisa, sabe. Se isso tem um enfoque de militância, eu fico até feliz, militância no sentido que você colocou, porque cabe a nós mesmo. E tem outra coisa: a gente não tem que procurar em nenhum outro lugar não, tá dentro da gente.
MCB: É por isso que eu falei do corpo sobrevivente. Quando você falou sobre a questão da modelo e da beleza exótica, a gente pensando nas atrizes negras e nos atores negros, quer beleza maior que de um Zózimo Bulbul, por exemplo, Maria Rosa, Luiza Maranhão, Ruth de Souza, Léa Garcia, você, enfim, atores fantásticos.
ZS: Antonio Pompeo.
MCB: Atores e atrizes lindíssimos e fantásticos, de uma beleza imensa, Esse país é cruel, é um rascunho de nação, né Zora?
ZS: Rascunho, é um país filho da puta mesmo. O povo preto, mais uma vez, precisa tomar tento, porque a tendência é piorar. A meninada precisa entender que não tem buscar fora não, que é o que a gente estava falando, de buscar dentro, o corpo que você citou, não tem que buscar fora não, tá dentro da gente.
MCB: Zora, agora para encerrar a nossa entrevista, as únicas duas perguntas fixas do site. A primeira é: Qual o último filme brasileiro a que você assistiu?
ZS: Assisti hoje, de novo, O Pagador de Promessas (1962, Anselmo Duarte). MCB: E qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que você deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e o porquê?
ZS: Eu vou deixar a Léa Garcia. Porque como eu te disse, os olhos de Léa Garcia me encantam, os olhos dela atuando. Existe uma música que se chama “Os Olhos de Bette Davis”, não é? Pois é, eu diria Os Olhos de Léa Garcia.
MCB: Muito obrigado, um beijo, querida.
ZS: Um beijo enorme pra você. Se cuide.
Entrevista realizada por telefone no dia 10 de maio de 2021.Crédito foto: Pablo Bernardo.

Veja também sobre ela