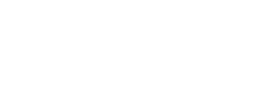Miriam Chnaiderman
 Miriam Chnaiderman é psicanalista, ensaísta e cineasta. Uma das palavras que ela mais repetiu nessa entrevista foi "encantada". E a expressão parece ter mesmo o sentido exato para a entrega com que essa premiada documentarista se lança às suas questões e aos seus filmes: "Eu tenho os meus encantamentos teóricos aí pela psicanálise, mas eu sempre escrevi sobre cinema. Então teve um momento em que eu publicava bastante na Folha Ilustrada, comentários de filmes, sempre me encantei. Agora, o mergulho veio depois".
Miriam Chnaiderman é psicanalista, ensaísta e cineasta. Uma das palavras que ela mais repetiu nessa entrevista foi "encantada". E a expressão parece ter mesmo o sentido exato para a entrega com que essa premiada documentarista se lança às suas questões e aos seus filmes: "Eu tenho os meus encantamentos teóricos aí pela psicanálise, mas eu sempre escrevi sobre cinema. Então teve um momento em que eu publicava bastante na Folha Ilustrada, comentários de filmes, sempre me encantei. Agora, o mergulho veio depois".
Filha de intelectuais, o paí é o tradutor Bóris Chnaiderman e a mãe a psicanalista Regina Chnaiderman, é casada com o diretor Reinaldo Pinheiro. O cineasta teve papel fundamental na passagem da psicanalista e ensaísta para a documentarista: "Eu era super crítica, essa coisa de ter um consultório, fechado, limitado, eu pensava numa coisa mais ampla. O fazer cinema aconteceu mais tarde mesmo, aconteceu a partir do meu encontro com o Reinaldo (Pinheiro), ele me procurou para escrever um roteiro de ficção e aí de repente ficou possível. O que era antes uma coisa em que eu podia fazer reflexões, pensar, ler, de repente o cinema se tornou possível".
Miriam Chnaiderman dirigiu documentários importantes e premiados, como "Dizem que sou Louco", sobre loucos de rua; "Passeios no Recanto Silvestre", sobre o escritor e cineasta José Agrippino de Paula; e "Gilete Azul", sobre a artista plástica Nazaré Pacheco. Miriam Chnaiderman foi premiada na última edição do "Femina - Festival de Cinema Feminino" com o prêmio de Melhor Documentário para o filme "Procura-se Janaína: "A gente não tinha a mínima idéia se íamos conseguir achar a Janaína ou não. A Janaína entrou na Febem em 81/ 82, então ela pegou o momento em que a Febem passou a receber só menores infratores. Pegou a instalação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 89/ 90, e pegou a Lei Antimanicomial também, em 96/ 97. Então, mesmo que não achassemos a Janaína, era um jeito de fazer o percurso por esses fatos da saúde mental no Brasil".
Miriam Chnaiderman esteve na "Cineop - 3a Mostra de Cinema de Ouro Preto", na delegação do filme "Nossa Vida Não Cabe Num Opala", dirigido por seu marido, Reinaldo Pinheiro, e do qual é co-produtora. Miriam Chnaiderman conversou com o Mulheres e na entrevista fala sobre a infância, a psicanálise, o interesse pelo cinema, a trajetória como documentarista e sobre os filmes que realizou.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Você é psicanalísta, ensaísta, cineasta. Dá para vocês nos contar como esses caminhos se configuraram?
Miriam Chnaiderman: Eu sempre fui muito encantada com o cinema e com o mundo das artes em geral, então eu tenho um caminho peculiar, quer dizer, eu penso que a arte me instrumenta como psicanalista mesmo. Eu fiz o meu mestrado em literatura, fiz meu doutorado em teatro, sobre o trabalho do ator, Stanislavski e Freud. E nesse meu caminho, em meio à minha clínica, eu tenho consultório, sempre estudei muito Freud. Eu tenho os meus encantamentos teóricos aí pela psicanálise, mas eu sempre escrevi sobre cinema. Então teve um momento em que eu publicava bastante na Folha Ilustrada, comentários de filmes, sempre me encantei. Agora, o mergulho veio depois.
Mulheres: Você trabalha com a psicanálise desde quando?
Miriam Chnaiderman: Eu me formei em psicologia em 1973, já faz tempo. Junto com psicologia eu fazia filosofia. Eu vim de uma família de intelectuais, então eu convivi muito, meu pai é tradutor do russo, ele que traduziu o Maiakovsk, está com 91 anos e continua traduzindo. Eu tinha uma coisa muito efervescente na minha casa, eu assisti aos filmes do Enseinsten com o meu pai traduzindo, ele era chamado sempre na Cinemateca para fazer a tradução dos letreiros e me levava. Então muito menina eu já mergulhei num mundo que até hoje me alimenta, de uma formação que foi por aí. Minha mãe era uma psicanalista bastante desruptora, que quebrava com certos cânones da imagem do psicanalista. Ela formou um grupo mais aberto, mais politizado.
Mulheres: Qual o nome dela?
Miriam Chnaiderman: Regina Chnaiderman, e meu pai Boris Chnaiderman. Minha mãe já morreu e meu pai está aí com 91 anos, publicando, escrevendo livros. Então dentro disso, minha mãe sonhava que eu fizesse psicologia, mas eu tinha lá minhas dúvidas, e aí entrei em psicologia e filosofia. Mas eu fui me encantando mesmo com a psicanálise. Eu era super crítica, essa coisa de ter um consultório, fechado, limitado, eu pensava numa coisa mais ampla. O fazer cinema aconteceu mais tarde mesmo, aconteceu a partir do meu encontro com o Reinaldo (Pinheiro), ele me procurou para escrever um roteiro de ficção e aí de repente ficou possível. O que era antes uma coisa em que eu podia fazer reflexões, pensar, ler, de repente o cinema se tornou possível. E aí eu fiz o meu primeiro curta, e a idéia, por incrível que pareça, não é minha, é do Reinaldo (risos). Ele tinha a idéia de fazer um documentário sobre loucos de rua, que é um poema do Leminski “todo bairro tem um louco que o bairro sabe quem é”. Ele tinha essa idéia, já tinha até um projeto e eu “mas isso eu não quero fazer, eu fazer?” E pus no concurso na Secretaria de Cultura do Estado e ganhei o Prêmio Estímulo.
Mulheres: Mas esse não foi aquele primeiro roteiro que ele te convidou, não é?
Miriam Chnaiderman: Não, aquele roteiro não aconteceu. Era um roteiro de longa, um roteiro bem bonito, chamado “Bandido Blue”, e foi uma experiência riquíssima, eu dimensionei o que é fazer um roteiro de cinema. Então é uma coisa muito dura, porque para você escrever um roteiro você tem que ver o filme acontecendo na sua frente, é uma loucura, é uma alucinação sob controle escrever roteiro. E foi de uma intensidade, uma história próxima, visceral, foi uma experiência bem importante para mim.
Aí eu fiz o meu primeiro curta, em 1994, o “Dizem que sou Louco”. Eu saí com uma equipe e a gente passou dois anos na rua, assim numa coisa de tentar ver numa cidade como São Paulo, na loucura de São Paulo, o que aconteceu com o louco de bairro e se ainda existe o louco do bairro ou o louco de rua. Foi uma experiência muito importante, foi um filme feito com pouquíssimo dinheiro, é um filme que eu gosto muito até hoje. Em 94, você cinescopar, você fazer o transfer era algo absolutamente novo e a gente não tinha dinheiro. E eu acho mais adequado o equipamento de vídeo. Naquele momento era uma loucura, eles davam o equivalente a 5 mil dólares de prêmio, era um absurdo, logo depois virou 60 mil reais, ou seja era uma coisa maluca. E eu tentando arrumar mais dinheiro. E aí a gente acabou usando no filme, que é em 16mm, o material de pesquisa com vários suportes e isso deu uma coisa de textura nesse filme bem interessante. É um filme onde tudo que eu faço hoje já está presente porque eu não queria estigmatizar, eu queria fazer um filme da cidade louca, e eu gosto muito do filme. Agora o filme que vai me lançar, onde eu vou ter um reconhecimento como documentarista, como cineasta, é o meu segundo, que é o “Artesãos da Morte”
Mulheres: Antes de você comentar sobre esse filme, você disse que fazer roteiro tinha sido uma experiência muito profunda. E dirigir, foi difícil?
Miriam Chnaiderman: Olha eu tenho um jeito de dirigir. No “Dizem que sou louco” eu trabalhei com uma equipe de psicanalistas que trabalham com acompanhamento terapêutico. Eram pessoas que estavam preocupadas com a questão da loucura e da cidade, porque trabalham com pessoas fazendo a ponte entre uma internação e a saída para a vida, para o mundo, o acompanhamento de pessoas que não conseguem se mover pela cidade sozinhas. Então eram pessoas que estavam preocupadas com a circulação da loucura pela cidade, e que na filmagem fizeram o caminho inverso, quer dizer, eles estavam com pessoas que estavam o tempo todo na cidade, né?
Então é assim, eu não tenho muito essa coisa, porque faço documentário, essa coisa do diretor de ficção, uma coisa absolutamente dura. Nesse filme, “Dizem que sou louco”, teve uma coisa bem coletivizada, só não foi coletivizada na montagem. Eu me sinto muito mais diretora na montagem, na forma final. Mesmo depois, eu passei a trabalhar com um diretor de fotografia, mas nesse filme, como ele foi indo, e a gente com muito pouco dinheiro, tem três pessoas que fizeram a direção de fotografia E a câmera ora foi com um ora foi com outro, ora ela foi num suporte. O que saí com uma equipe profissional foram três dias, bem pouco, e com diferentes pessoas, cada dia com uma equipe diferente. Então foi um filme onde eu descobri que eu tenho um imenso prazer na montagem.
Mulheres: Mesmo porque, é meio clichê dizer isso, mas a montagem é considerada o coração de um filme. E no documentário mais ainda.
Miriam Chnaiderman: É onde nasce o filme. Agora foi bonito o processo porque a gente discutia muito e eu tentei na montagem passar por imagens, na construção, o que a gente discutia da circulação, do não-lugar, do nomadismo. Então foi muito importante ter essa equipe me dando o suporte, trabalhando comigo. Mas tem um momento que é seu, que eu acho que é na edição. Eu gosto muito dessa coisa, é meu jeito de trabalhar ainda hoje, às vezes muda um pouco, mas não muito. A pesquisa para mim é parte do documentário, a pesquisa anterior é quando surge a questão, eu sempre vou para a rua, para o mundo, com uma questão. Mas quando eu vou já atrás daquilo que eu estou filmando, eu já vou com equipe. Não é muito como o Eduardo Coutinho, por exemplo, que tem uma pesquisa, e aí quando ele entra, ele já vai com uma coisa preparada. Eu não, e nesse filme, “Procura-se Janaína”, dá para ver bem isso, o filme é a pesquisa.
Não sei se você já viu a caixinha do Itaú, que tem cinco documentários, esse último foi do Itaú Cultural. Tem o filme da Maya (Da-Rin), da Paula Gaitán, e tem o making of do meu filme, onde aparece bastante o meu jeito de trabalhar. Eles entrevistaram a gente durante o processo todo para fazer a caixinha, e eles perguntavam “mas como é?”. Porque eu sou uma diretora nessa coisa do documentário, eu escrevo carta, eu ligo, eu contacto. Tem uma coisa que pode ser centralizadora, mas eu não sei se bem o termo, é uma coisa onde as funções se esparramam um pouco no documentário, no meu jeito de trabalhar. Então isso no “Dizem” está e no “Artesãos”, demorou né, de 94 até 2001. E foi interessante porque eu gosto de ser psicanalista, eu gosto da minha clínica, e aí, numa supervisão, pintou a idéia do “Artesãos da Morte”.
Foi uma supervisão, uma pessoa que trabalhava num centro de atendimento de funcionários da prefeitura e que estava com uma questão em relação ao pedreiro do cemitério. E era muito impressionante o quanto esse contato cotidiano com a morte... Bom, era uma história bem dura. Ele tinha tentado suicídio dentro do cemitério, mas esse contato cotidiano com a morte dava para ele uma ânsia de vida impressionante, eu fiquei muito tocada com essa história. E pensei “puxa vida, um documentário sobre as pessoas que no dia a dia tocam o cadáver”, e fiquei tentando anos. É gozado isso do cinema, porque eu fiquei tentando, e aí quando já tinha desistido, sei lá, nem lembrava mais, eu consegui o Prêmio Estímulo mais uma vez e fiz o filme. E aí eu acho que eu fiz com mais condições, não as ideais, nunca são as ideais, é bem complicado isso, mas aí foi onde eu trabalhei com um diretor de fotografia, que foi o Hugo Kovenski, com o equipamento de som, porque o som é precário no “Dizem que sou Louco”. È uma coisa bem complicada, é uma coisa que eu me preocupo, serviu como lição, cuidar bem do som dos documentários. Esse foi premiado no “È Tudo Verdade”, foi premiado na Itália, foi para Rotterdam, circulou pelo mundo, e aí passa a ter o reconhecimento, você se reporta como documentarista.
Depois desse, teve um filme que eu fiz com a coragem, o “Gilete Azul”. Foi um filme feito com o encantamento que eu tive no contato com uma artista plástica, Nazaré Pacheco. Você conhece?
Mulheres: Não.
Miriam Chnaiderman: Olha, é muito impressionante. Ela me procurou, ela é uma artista plástica, e aí me procurou para eu escrever o texto do catálogo de uma exposição dela. Eu tinha ouvido falar dela, mas eu não sabia se ia gostar porque eu sabia que ela tinha problemas congênitos, que ela tinha problemas no corpo, no rosto, e que ela de algum jeito usava isso na obra dela. E eu, a primeira reação foi um pé atrás, essa coisa de “body art”, ai meu Deus!”.
Bom, eu fui conhecer a Nazaré e conhecer o trabalho dela, e ela é uma pessoa encantadora, uma mulher maravilhosa. A mãe dela teve uma coisa, eu nem sei o nome disso, por causa de febre a placenta se move, e ela nasceu toda transfigurada mesmo. Então ela passou por sei lá, doze cirurgias até seis, sete anos. Mas ela é uma mulher linda, ela se cuida, ela se arruma, ela é muito vital, ela tem uma casa linda, ela tem um ateliê. E o que ela estava trabalhando naquele momento era fazendo jóias e vestidos com material cortante. São objetos belíssimos, brilhantes, são os impenetráveis, né, uma bricandeira com Helío Oiticica. Mas tinha uma coisa da sedução e do feminino muito forte o tempo todo. Naquele momento em que me procurou, ela tinha feito um quarto com os fios todos de gilete e estilete. Era um quarto que ela estava instalando em uma galeria, um negócio imenso. E num lugar lá em São Paulo, num saguão dessas universidades da UNIB, ela estava tendo uma exposição com toda a obra dela. E aí eu falei “ai, meu Deus!” É aqueles momentos em que você faz ou não faz. E aí, enfim, você acaba colocando dinheiro do seu bolso pelo encantamento.
E todo mundo se encantou, o diretor de fotografia, a montagem, a música, todo mundo trabalhou assim no encantamento com a Nazaré Pacheco. É um vídeo bem bonito, e onde a questão do feminino está posta de forma bem contundente, porque ela fala sobre as feiticeiras torturadas. Foi bom, porque tem coisas dela que são mais conhecidas. Tem um banco de balanço cheio de prego pra cima, ela fala disso, como na infância ela não podia ter os prazeres que as outras crianças tinham. Ficou um trabalho que eu gosto muito mesmo.
Bom, depois do “Gilete Azul”, eu fiz dois vídeos, e aí eu fui procurada para fazer. Entre o “Gilete” e o filme sobre o José Agripino, tem dois vídeos sobre a questão do preconceito. São vídeos para um trabalho com professores da rede pública. Um chama-se “Isso, Aquilo e Aquilo Outro” e o outro chama-se “Você faz a diferença”. Era pra discutir a questão da discriminação dentro da sala de aula, então foi uma coisa que eu gostei de fazer, eu achei importante fazer. No primeiro, eu quis discutir a questão das diferenças, não só a questão étnica. Agora é muito incrível esse trabalho de documentarista, porque a gente vai se transformando no processo de fazer o documentário. Eu tinha muitas dúvidas em relação às cotas para os negros, no decorrer desse processo eu virei uma militante pelas cotas. Eu realmente hoje defendo de coração as cotas, então eu fui me transformando mesmo no contato com tudo isso.
É muito incrível ser psicanalista e ser documentarista. Eu acho que foi um jeito que eu encontrei, que era uma questão lá de trás, que eu não queria ficar restrita ao consultório. É uma coisa onde eu saio para o mundo, onde eu interfiro, e onde as pessoas vêem o meu trabalho e também são transformadas. Nesse momento eu não concebo ser só uma coisa ou só outra, a questão é que tem momentos onde fica difícil conciliar, mas tem sido fundamental.
Mulheres: Gostaria de retomar um assunto que você abordou que é a questão das cotas. É um tema muito importante, daí gostaria de saber, a partir do que você contou, porque você se tornou favorável às cotas?
Miriam Chnaiderman: É porque eu acho que tem que dar uma virada para as coisas se transformarem, então o jeito é fazer essa virada via cotas. Mesmo porque é muito impressionante como essa coisa do racismo é sutil no mundo que a gente vive. Uma das experiências que eu tive foi muito impressionante, a gente reuniu professores lá em Campinas, eram 15 mulheres que trabalhavam na periferia. Elas estavam lá porque fazem parte desse programa, “Educando Pela Diferença”, que é onde se dava uma formação para as pessoas lidarem com a questão da discriminação. Eu cheguei e perguntei “vocês já passaram por alguma situação de discriminação?” Todo mundo disse não. Mas não é que seja não, mas porque é normal, se você está em um bar e a pessoa diz para você sentar em outro lugar, as pessoas acham normal. Quer dizer, isso é muito impressionante, viver situações de discriminação para pessoas que trabalham em zonas rurais. Então eu acho que tem uma coisa, as pessoas nem percebem essa discriminação,. E é muito grave, é muito sério. Às vezes você vê uma professora falando assim “não, porque a riqueza toda do mundo do Brasil está nos negros”. E isso também é uma forma de discriminação, né, pelo avesso.
Eu acho que tem um trabalho muito importante para ser feito aí, e foi legal fazer esses dois vídeos porque foram 13, 15 mil professores que passaram por essa formação, então são jeitos de você intervir no real. As cotas são mal entendidas, porque não é que então abre vagas e entram dois negros, dois indígenas, não é isso, você muda a nota de corte. Quando eu soube que nas fichas escolares você tem que colocar raça, se você é branco, negro ou amarelo, eu me horrorizei. Mas o que se fala é que você precisa assumir isso para desmanchar isso, que enquanto você não lidar com essa questão de frente e assumir que ela existe, você vai ficar pondo debaixo do tapete. Então claro que a meta não é a racionalização, mas a ultrapassagem disso, assim como as cotas não são para serem mantidas ad eternium. Mas tem um momento em que você tem que enfrentar a questão para poder transformar. Eu me choquei, porque essa coisa de por na ficha de uma criança é negro é... Bom, isso está no “Isso, Aquilo e Aquilo Outro”. Foi muito impressionante, um professor, um negro, contou que uma vez um aluno o chamou de preto fedido. Ai, ele disse que aquilo foi demais para ele, que ele perdeu a linha, e que ele teve que falar para o aluno que ele não era preto, que ele era negro. Mas o fedido não entrou, ele se doeu com a coisa de ter sido chamado de preto, mas o fedido não entrou na dor dele. É muito impressionante as coisas que a gente vai vendo. Esse vídeo estava na internet, não sei se continua, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Federal de São Carlos.
Bom, nesse meio tempo desses vídeos todos eu fui procurada por uma amigo meu, David Caldeironi, que queria fazer um documentário sobre o José Agrippino de Paula. O David é é psicanalista e músico. Ele é um estudioso do Caetano Veloso, já tinha lido o livro “Verdade Tropical”, onde o Caetano fala páginas e páginas do Zé Agrippino. Ele me acompanha no documentário e veio conversar comigo. Meus documentários nunca são uma visão externa, eu sempre mergulho e vou junto com aquilo que eu estou trabalhando. Então eu falei para o David “olha, acho que a gente tem que ir lá e perguntar para o Zé de que jeito ele quer contar a vida dele no filme”. Bom, eu conhecia o Zé Agrippino dos anos 70, exatamente na minha casa. Nos anos 60, 70, eu fazia dança intensamente e o Zé Agrippino era casado com a Maria Esther Stockler, que aparece muito nos filmes dele. Eu dançava com ela, cheguei a fazer aulas com ela e depois a procurei. E era uma coisa, eu não sei se você chegou a ver o Super-8 dela dançando, é de uma beleza.
Mulheres: Eu a vi no “Cinema Falado”, do Caetano.
Miriam Chnaiderman: Isso. E é uma figura. Ela gostava muito da minha mãe. O “Lugar Público” é o primeiro livro do Zé e o menos conhecido, mas que eu gosto muito, porque o “Pan America” foi aquele estouro e o “Lugar Público” não tanto. Mas meu pai leu, ele levou para o meu pai. Ele diz que não foi o meu pai, eu acho que foi e meu pai acha que foi também, que ele é que levou para a Civilização Brasileira para ser publicado. Bom, então tinha isso, eu o conhecia. E a Maria Esther a gente se cruzava. É triste né? Porque os dois morreram recentemente. Bom , a gente se cruzava sempre, eles tiveram uma filha que também morreu, que se chamava Manhã, eu acho um nome lindo. E a Manhã tem a idade da minha filha, Luana. Então muitas vezes ela deixava a Manhã em casa, ela passava e pedia, porque eles tinham uma coisa de morar meio afastados.
Eu sei que a história terminou de um jeito trágico, eles se separaram. Eu acho que ele teve uma filha com uma outra mulher na mesma época que a Manhã nasceu, eu sei que ele tinha uma história com uma outra mulher. Eu sei que a Maria Esther separou com muita raiva, com muita mágoa do Zé. Nos anos 80 eu via o Zé andando pelas ruas com uma túnica branca, andando, um louco de rua. E depois eu soube que a família tinha recolhido ele numa casinha lá onde a mãe vivia, em Embu, que é meio periferia de São Paulo. Mas, enfim, era um homem muito bonito, ele aparece em vários filmes do Sganzerla (Rogério) como figurante pela beleza.
Tem uma pessoa que é curadora da obra dele, que é a Lucila Meireles, que é uma videomaker importante. Então eu fui até a Lucila. O Ronaldo Bressane, da Revista Trip, também estava entrevistando o Zé para fazer um livro de entrevistas. E aí cheguei no irmão do Zé Agripino, contei do filme. O irmão é muito parecido com ele na doçura, porque o Zé Agrippino era um cara super doce. E aí peguei o David e lá fomos para um primeiro encontro, o irmão tinha avisado. É uma casa meio escondida, mas numa avenida hiper barulhenta, não tem nada de campo, tem é uma fumaçada dos caminhões, dos ônibus, é na entrada no Embu. Ele me recebeu “Miriam, como vai?” Foi super carinhoso e me perguntou “como vai a senhora sua mãe?” E eu “Minha mãe morreu”. E ele “É mesmo?”. Isso dá bem a idéia do que era o Zé Agripino, era parado nos anos 70, era um museu vivo dos anos 70.
Ele não gostava de nada apertado, então cueca nem pensar, era umas roupas meio andrajes. Era uma figura mesmo bem próxima das que eu via na rua na época em que estava fazendo o “Dizem que sou Louco”, só que com uma casa totalmente empoeirada, mas com uma certa organização dele. E com muitos papéis, porque ele continuava escrevendo, escrevendo, escrevendo. Precisaria hoje ver tudo isso e ver o que tem. E aí foi isso, eu perguntei para ele como é que ele queria contar a sua história e ele falou “você tem visto a Maria Esther?” E eu “Não, não tenho”. E ele “Eu gostaria de fazer um filme com a câmera que filmei o “Céu Sobre Águas”. É um filme que foi premiado, é um Super-8 maravilhoso, ele tem filmes em Super-8 lindos, onde ele chama muito a Maria Esther. Esse “Céu Sobre Águas” é uma coisa linda porque ele filma ela grávida em Arembepe, na lagoa, depois ela com o bebê, e tem uma coisa do tempo. É muito lindo a relação dele com a natureza, o que ele filma, é deslumbrante esse filme, é uma coisa que era bom todo mundo ver porque é muito lindo. A Lucila tem falado que estão pensando em DVD, do “Hitler Terceiro Mundo”.
Aí ele disse que queria essa câmera e a gente foi atrás, porque o David é psicanalista também e a gente achou que estava fazendo uma intervenção e que ele ia filmar como ele filmava, e que ia voltar a ser produtor de cultura, como ele era. Fomos atrás da câmera e conseguimos uma câmera parecida com a daquele ano que ele pediu. E aí gente perguntou “A gente vai poder filmar você filmando?” Ele falou assim “Bobagem, porque eu vou ficar esperando uma luz, eu vou passar meses esperando essa luz, o fiapo de nuvem que eu quero, então é bobagem, para conseguir um quadrinho eu vou passar meses, é meu jeito”.
Quando a gente foi entregar a câmera foi a Folha, o Estadão, o mito Zé Agripino, né? O nome da matéria, era uma matéria bonita, era “Takes Impressionistas”. E ele dizia “Não, eu fico, daí de repente vem uma nuvenzinha, aí eu filmo”. Bom, o tempo dele era outro mesmo. O fato é que a gente entregou a câmera e ficamos indo lá durante um ano meio e ele não filmou. No final, o documentário é isso. Eu tenho material para um longa que eu gostaria de fazer, mas é um documentário importante. O Bodanzki foi lá e teve uma conversa que é linda sobre as filmagens do “Hitler, Terceiro Mundo”. Bom, e teve também o lançamento do “Lugar Público”, então foi o Peticov, um monte de pessoas, foi bem importante. Mas chegou uma hora em que eu tinha que entregar o filme. A gente conseguiu um dinheiro da Prefeitura num edital da Secretaria de Cultura, e eu tinha que entregar o filme.
Então chegou um momento, que foi super duro, eu cheguei e disse “olha, eu vou ter que encerrar esse processo, a câmera é sua, você faz o que você quiser”. Porque também ele queria kodacromo, não podia ser ectakromo. Eu consegui porque dei sorte, alguém trouxe por engano, porque não se revela mais, ia ter que mandar para a Suiça para revelar, enfim, mas a gente ia fazer tudo. Aliás ainda tem na minha geladeira o kodacromo e estou com a câmera dele que o irmão deu para a gente. Quando eu encerrei me deu uma tristeza profunda porque eu senti que ele não queria sair desse lugar onde estava e que foi o jeito dele. E aí eu combinei com ele “como você não filmou, eu vou usar os seus filmes para mostrar o teu cinema”. E ele disse “ótima idéia, ótima odeia”. E aí eu fiz isso, eu fiz uma pesquisa bem importante do Super-8, do “Hitler, Terceiro Mundo”, e fui usando. O filme é curto, tem 16 minutos ("Passeios no Recanto Silvestre"), mas meu desejo seria poder transformar isso em um documentário maior.
Mulheres: Eu tenho muita vontade de assistir ao “Hitler, Terceiro Mundo”.
Mirian Chnaidermam: É uma beleza, é lindo, eu acho uma loucura. Bom, aí fui na Cinemateca, fiz toda a pesquisa. O bonito da história, isso está registrado numa digitalzinha do David, é que antes de passar no “È Tudo Verdade”, eu fui lá mostrar para ele e foi comovente. Eu peguei um notebook, levei, e passei. Teve um momento no processo que eu pedi para ele, “você não quer ler um pouco do “Lugar Público” para as pessoas saberem do que se trata?” Ele falou “Eu não gosto de me ver nesses momentos depressivos, isso não faz bem para a minha alma, eu não quero ler”. Eu queria passar os filmes dele no lançamento, mas ele pediu para eu não passar. Quando ele viu no notebook, ele gostou muito do que viu, dele mesmo e do que eu fiz. E ele me agradecia muito. Enfim, foi muito impressionante porque depois de um ano ele morreu, morreu dormindo, morreu de um infarto. Foi triste porque eu fui no enterro, e tinha uma filha que eu não conhecia, deve ser dessa outra mulher que eu não conhecia, tinha o irmão, uma neta do irmão, sobrinha do Zé, uma filhas do irmão, eu e o Reinaldo, e só.
Mulheres: E aí tem o “Procura-se Janaína”.
Mirian Chnaiderman: Então, aí terminou o filme sobre Zé. E nesse meio tempo morreu a Maria Esther, morreu seis meses antes dele morrer. Quando a Maria Esther morreu, de um câncer, eu pensei “Eu acho que o Zé não vai agüentar”. Eu achei que quando ele pediu a câmera era porque ele queria estar perto da Maria Esther, foi um jeito. Ele morreu no ano passado, em julho, está fazendo um ano. E a Maria Esther, eu acho que em janeiro de 2007. Eles não se viam, mas eles tinham uma ligação, eu pensei que o Zé não ia agüentar, e ele morreu seis meses depois.
Essa história do Zé é muito impressionante. O Zé Agrippino tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que foi o jeito do irmão conseguir uma pensão do Estado para ele viver, ele viveu de uma pensão do INPS. Mas é uma história de alguém com esse diagnóstico e que estava no cantinho dele, que encontrou um jeito de viver. Quando acabou essa história do filme, eu pensei “puxa vida, eu gostaria agora de fazer um filme sobre a implantação da Lei Antimanicomial”. Porque que sabia de dois documentários muito contudentes sobre manicômios, o do Helvécio Ratton (“Em Nome da Razão”), do manicômio de Barbacena, e o “Passageiro de Segunda Classe”, que é sobre o manicômio de Goiânia. E aí tinha a questão: o que é que aconteceu com as pessoas que estavam lá dentro? Como é que eles lidaram?
Tem uma pessoa que trabalha comigo desde o “Dizem que Sou Louco”, que é a Débora (Sereno), e que é psicanalista. Eu contei essa idéia para ela e ela disse “Eu queria muito saber o que aconteceu com uma menina que se chamava Janaína, que era uma criança autista da Febem”. A Janaína era levada por uma perua até uma clínica onde a Débora trabalhava. Era um hospital-dia para crianças muito pequenininhas. E aí tinha uma outra pessoa, a Iara Saião, que trabalhava na Febem, naqueles anos, e que era a psicóloga que encaminhou todo o processo de tratamento da Janaína. E ela “será que a gente encontra a Janaína?” Aí juntou eu, a Débora, a Iara, e mais uma pessoa, a Lica (Eliana Zisla), ela trabalhava nessa clínica e tratou da Janaína. A gente se juntou e fizemos um projeto.
A gente não tinha a mínima idéia se íamos conseguir achar a Janaína ou não. A Janaína entrou na Febem em 81/ 82, então ela pegou o momento em que a Febem passou a receber só menores infratores. Pegou a instalação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 89/ 90, e pegou a Lei Antimanicomial também, em 96/ 97. Então, mesmo que não achassemos a Janaína, era um jeito de fazer o percurso por esses fatos da saúde mental no Brasil. Bom, aí a gente estruturou um projeto, eu pus num concurso do Rumos do Itaú Cultural, e a gente ganhou. Foi uma aposta que eles fizeram, porque a gente tinha muito pouco, a gente tinha uma pergunta. E aí foi muito incrível o processo. Eu chamei uma jornalista para me ajudar, que é a Maria Carolina Telles, a Carol. Ela está fazendo um documentário acompanhando meninas infratoras que ficaram adultas, está vendo que caminhos elas fazem. Então há muitos anos ela tinha os meandros da Febem.
A gente começou a documentar todas as etapas e quando a gente ganhou foi bonito como o Itaú faz a seleção, tinha uns trezentos projetos, eles selecionaram 12. E aí você faz um workshop, e desses 12 saíram seis, porque eles deram um prêmio especial para a Paula Gaitán, do “Diário de Sintra”. A Maya D-Rim também está nesses cinco. E foi muito útil para mim esse workshop, ver como a Paula estava pensando a questão da memória, como a Maya pensava as questões das margens, e meus filmes todos têm essa questão, tudo que está à margem. Mas aí mãos à obra, a gente foi chegando na Janaína, e o documentário é isso, a gente chega na Janaína. A gente não sabia onde ela estava, e a história é bem dura, bem triste.
Tem um suspense no filme, eu vou tirar o suspense, mas a gente descobriu que aos seis, sete anos de idade ela foi para uma instituição psiquiátrica e está até hoje lá. Mas o processo todo, como ela foi mobilizando as autoridades, inclusive, do estado de São Paulo para ser tratada, para ser cuidada, é muito impressionante. Agora, ela é uma mulher que traz as seqüelas disso tudo, jogada para cá, jogada para lá. Quando ela começou a ser cuidada nessa clínica que a Débora trabalhava também ela não pode continuar por falta de dinheiro. E aí ela volta, fica um ano na Febem, depois volta a ser tratada numa clínica que também era um lugar super legal para crianças, em São Paulo. Mas essa clínica faliu e ela não podia ficar mais na Febem porque já estava com seis, sete anos, e aí vai para um hospital psiquiátrico. È uma história duríssima, porque todo mundo batalhou muito por ela.
Mulheres: Quantos anos ela tem?
Mirian Chnaidermam: Ela está com 28 anos. Agora, eles estão tentando que ela possa ir para uma residência-terapêutica, porque o hospital tem que acabar. É um hospital enorme em Sorocaba, que era desses depósitos de gente, tipo o Juqueri. O “Janaína” é um documentário em que as mulheres, nós quatro e mais a Carol, vão atrás de uma mulher que é a Janaína. É um documentário duro, bem duro, mas que eu acho importante dele ter tido retornos muito tocantes. As pessoas se comovem. Passou na televisão, passou na Cultura e no Canal Brasi, e foi inusitado o número de pessoas que ligaram querendo ter o vídeo. Tive retornos de como é importante mostrar isso, para isso não acontecer mais. Pessoas que trabalham com crianças autistas, querendo mesmo ter o filme para poder trabalhar com ele. Enfim, é um filme que acho importante. Foi um processo duríssimo, meus temas não são fáceis.
Mulheres: Você não pensou em lançá-lo nos cinemas?
Mirian Chnaidermam: Ele tem 54 minutos e aí teria que dar uma aumentada, porque a gente fez num formato para televisão. Mas talvez aí eu mexeria mais, teria que pensar num jeito. Porque assim é difícil, eu não quis mostrar a Janaína, eu não quis expô-la muito, então é um filme que é mais a busca, não é sobre a Janaína. Eu quis muito preservá-la, ela só aparece no finalzinho em alguns minutos. As pessoas se ressentem disso, as pessoas de cinema “Por que você mostrou só isso? Teria que mostrar mais, estender o filme, acompanhar a Janaína”. Mas é porque eu não quis mesmo, porque eu acho que é muita exposição, eu acho que tem que preservar, ela tem uma limitação de fala. É o mesmo cuidado que eu tive no “Dizem que sou Louco”. No Zé Agrippino em nenhum momento eu conto que ele tem um diagnóstico de esquizofrenia, não quis, porque para mim não é a discussão importante. Então é muito diferente do “Estamira”, em que a loucura está lá jogada. No Agrippino tem horas em que ele aparece falando sozinho, tem aquela casa, tem aquela coisa estranha, mas eu não quis entrar nessa discussão porque eu quis homenageá-lo, queria mostrar a obra dele para o mundo. E no “Janaína”, mesmo no workshop, quando eles foram acompanhando as etapas do documentário, disseram “por que você não vai e fica uma semana lá no hospital?”. E aí eu disse “Não, porque seria outro filme, esse filme é sobre a busca”.
Sempre tem uma coisa delicada eticamente, como é que você preserva e, ao mesmo tempo, mostra, que é uma medida delicada mesmo no “Estamira”? Muita gente criticou aquela coisa escrachada na tua cara da loucura, que eu acho bom no “Estamira”, eu acho bom. Mas tem isso né, uma pessoa que se expôs desse jeito e está marcada por isso, foi uma escolha dela. O Marcos Prado deixa isso claro o tempo todo, mas é um estigma, não tem muito jeito. No “Janaína” tem uma coisa muito impressionante. Quando a gente foi até ela no final, no último dia de filmagem, eu levei as pessoas que tinham trabalhado com ela pequenininha e que cantavam com ela, porque ela tinha uma coisa de cantar e gostar de música. E elas cantam para a Janaína de novo, e a Janaína fica parada e você não sabe se ela lembrou ou não. Mas eu preferi deixar na dúvida mesmo.
Tem uma coisa bonita no encontro, em que ela desabrocha, quando eu saio andando com ela pela rua. Nesse documentário e no do Zé Agrippino eu sou personagem. Eu saio andando com ela, vou ao supermercado e compro, ela escolhe coisas e eu dou de presente para ela. E as pessoas lá do hospital falam “Não, ela não tem vontade, ela não fala espontaneamente”. No encontro, na hora que você dá um recorte, um chão afetivo, ela falou, ela escolheu coisas. Então eu preciso... é uma questão ainda como cuidar da Janaína, independentemente de documentário, né? Então, eu acho que tem essa delicadeza, o pessoal de cinema se queixa de eu não ter mostrado mais a Janaína, mas foi uma escolha mesmo.
Mulheres: E o prêmio no Femina?
Miriam Chnaiderman: Ah, eu fiquei muito feliz. É um filme difícil, porque acaba tendo um discurso, tem um miolinho lá das psicólogas falando, explicando o que é a Janaína. Eu achei bonito quando eu contei para um amigo que fez o making off para o “Procura-se Janaína” . E ele “Nada mais adequado que esse prêmio num festival com o nome Femina, tinha que ser”. Porque são mulheres que vão lá na busca de dar uma acolhida para uma mulher que está mais do que à margem, então eu fiquei muito comovida com o prêmio. Achei super-significativo, fiquei muito comovida mesmo, tocada. É um filme de 54 minutos, é um formato complicado. Ele tem passado, o Itaú cuida, então ele tem itinerância, ele foi para um festival de filmes para a televisão, onde ele foi selecionado. Agora é que vou ter mais a medida assim dele, porque até agora, até maio, era o Itaú que mandava para os festivais, eles eram donos do filme.
Agora eu vou cuidar e aí vamos ver que caminho ele vai fazer. A gente sabe quão importante é para um filme na hora em que ele é premiado, então eu fiquei muito comovida com o prêmio. Acho esse festival muito legal, muito único de mulheres diretoras, eu acho incrível, senti muito de não ter podido estar lá.
Mulheres: Você tocou em um assunto que me interessa muito. Pegando aí, inclusive, a idéia desse festival, você acredita que exista ou não um olhar feminino no cinema?
Miran Chnaidermam: ... Eu acho que sim, eu acho que sim, é um olhar menos... É gozado, eu sou bem geração anos 70, onde surge essa coisa da escrita feminina, o movimento feminista. E eu acho o seguinte, a literatura, o cinema, ou seja lá o que for, ou é bom ou não é. Eu acho que um homem pode escrever de um jeito feminino, o feminino não passa por ser homem ou mulher. Tem diretores que também filmam de um jeito feminino, como tem mulheres que são absolutamente masculinas no jeito de filmar. Como é o nome daquela mulher alemã?... Rose... Eu acho os filmes dela tão masculinos e pesados. Então é complicado isso, mas eu acho que tem algo do feminino que pode estar no homem, eu não tenho dúvida que pode estar no homem. Enfim, mas tem um jeito que é do feminino, que é menos escravizado pela lógica fálica, pela razão, que pode dar lugar para as sensações, que pode agüentar a desorganização, a bagunça da imagem. Não quer dizer que a mulher seja a detentora disso, eu acho que é complicado falar assim, mas eu acho que a criação enquanto quebra de uma lógica cultural dominante fica mais do lado do que a gente chama de feminino.
Mulheres: Qual o último filme brasileiro que você assistiu?
Mirian Chnaidermam: Olha (risos).... Tem acontecido o seguinte comigo, eu não parei mais de trabalhar, e, por incrível que pareça, eu tenho conseguido ir pouco ao cinema, bem menos do que eu gostaria. Eu já fiz outro documentário e acabei de saber que vou fazer outro, porque ganhei outro prêmio agora para eu fazer um documentário. Então eu não parei, e isso é muito impressionante. Além do trabalho, na hora que você mergulha num filme, falta espaço interno para ir ao cinema. Eu adoro ir ao cinema, então eu sofro muito com isso. Bom, eu vi “Estômago” recentemente.
Mulheres: Eu sempre convido minhas entrevistadas para homenagearem uma mulher do cinema brasileiro de qualquer época e de qualquer área.
Mirian Chnaidermam: Ah, eu homenagearia as diretoras mulheres, várias, das que eu lembro, né? Lembrei da Tata Amaral, lembrei da Eliane Caffé. Eu acho que é uma luta até pelo estereótipo do que é a direção. E homenagearia a Cristininha Amaral, que é a montadora com quem eu tenho trabalhado. Eu gosto muito da minha primeira montadora, que neste momento está dirigindo, que é a Tatiana Loma. E lembrei de uma pessoa que eu gosto muito que é a Fernanda Riscali, diretora de fotografia. Ela começou como assistente do meu diretor de fotografia, Reinaldo Martinuti, até o “Janaína”. Eu soube que agora ela trabalhou com o Murilo Salles nesse último filme dele (“Nome Próprio”).
E sabe, foi tão engraçado, porque teve um documentário que agora eu acho que vou poder dar uma forma que era sobre a questão da violência. Eu saí filmando caminhadas pelas paz, contra a violência, e eu fiquei muito impressionada em ver uma mulher de assistente de câmera. È muito incrível porque é um trabalho braçal, forçudo, mas onde tem uma delicadeza. Então as mulheres carregam a câmera e fazem aquele trabalho pesado, e no meio disso se esticam, fazem yoga, cuidam da coluna, e fazem pilates, tem uma coisa interessante nisso das mulheres no cinema. Acho, como diretora, que muitas vezes essa coisa de ser uma mulher pesou no sentido de não me obedecerem (risos). Também porque eu tenho esse meu jeito, mas foi algo assim, as pessoas olham com curiosidade. Eu me lembro que na Febem, nos arquivos, eu tive que mover muito, e aí as pessoas olham com curiosidade, que mulher metida, né? (risos), foi engraçado.
Mulheres: E os nos novos projetos?
Mirian Chnairderman: Então, nesse meio tempo, o Reinaldo, meu marido, fez o “Nossa Vida Não Cabe num Opala”. E é bem interessante falando do masculino e do feminino, são dois jeitos de fazer cinema mesmo, como eu faço e como ele faz. Ele adora filmar em 35mm, aquela equipe monumental. Já eu, tem uma coisa super intimista, de sair com pouca gente. É muito gozado. Bom, no “Nossa Vida” eu fiquei bem nos bastidores, eu sou sócia da produtora, então participei, e participei muito da discussão do roteiro e depois da forma final, mas bem nos bastidores mesmo. Eu aprendo muito, eu vou nos bastidores das filmagens. No filme anterior do Reinaldo, o “BMW Vermelho”, o curta dele, eu apareço como estagiária. E é como eu me sentia, porque eu aprendi muito, eu aprendo muito, plano e contraplano. Eu não fiz escola de cinema, para mim é um aprendizado, eu sempre li, sou apaixonada.
Nesse meio-tempo, eu estava trabalhando com um tema, estava participando de um laboratório de pesquisa, laboratório de estudos sobre a intolerância. Eu estava com uma questão que é meio psicanalítica, porque o Freud fala do trauma como sendo uma invasão de estímulos a mais do que aqueles que a gente pode dar conta. Você não tem repertório, não tem estrutura para elaborar aquilo que está acontecendo, são acidentes, são guerras. E eu pensei “Será que o trauma é só uma invasão de estimúlos, é uma questão quantitativa, ou será que dependendo do trauma a gente tem mais ou menos condições de elaborar?” E a pesquisa, o laboratório de pesquisa, era entrevistar pessoas que tinham passado por situações traumáticas, as mais diversas.
Isso virou um documentário porque a gente propôs no “Janela Brasil” e ganhamos, isso é um documentário que está pronto. A gente entrevistou sempre no mesmo lugar, então é diferente dos meus documentários que eu saio pelo mundo. Esse foi um documentário onde foi possível trabalhar a luz, trabalhar de um outro jeito. A minha questão era se tinha uma diferença, chama-se “Sobreviventes”. A gente entrevistou pessoas que foram torturadas nos anos 70, uma pessoa que levou choque em tratamento psiquiátrico, um sobrevivente do massacre do Carandiru, uma pessoa vítima de racismo pesado, um ex-presidiário, Luís Mendes, que é uma pessoa que escreveu um livro, “Sobrevivente”, e que é uma pessoa incrível. Entrevistei o Jean-Claude Bernadet para ele falar da história da Aids, entrevistei uma ex-drogada, um morador de rua, que saiu da rua.
Foi muito bom dirigir com o Reinaldo, foi muito, muito bom, porque ele cuidou, eu pude me soltar. Eram entrevistas muito delicadas, eu estava mexendo na ferida, então tinha toda uma coisa de dar um acolhimento. E foi muito impressionante, as pessoas saíam aliviadas, podendo falar daquilo tudo, mas eu tinha que estar muito atenta ao que estava acontecendo na hora. Então o Reinaldo cuidou da imagem, dirigiu mais a imagem e eu a entrevista. E foi um privilégio trabalhar juntos.
Mulheres: Qual o formato do filme?
Miram Chnaiderman: É média, é para a televisão também, é 50 minutos. Foi engraçado na edição também porque eles fazem exigência de vinheta, você tem que entregar em quatro blocos. Mas foi um treino interessante também, foi bem rico esse processo todo. Nesse momento foram 12 ou 13 os contemplados, então as pessoas ainda estão entregando. Eu não sei quando é que isso vai passar, mas a exigência contratual é de lançar primeiro na televisão, é o Sesc, Secretaria de Cultura do Estado e TV Cultura. Então vai passar na TV do Sesc, na TV Cultura, e aí vamos ver.
Os depoimentos são entrecortardos, o que costura os depoimentos é um grupo de teatro que chama-se “Uens”, que são psiquiatrizados. Isso eu não falo em nenhum momento, porque a questão era essa, mas eles fazem as pontes entre os depoimentos. Está um filme muito tocante, muito forte, um filme pela vida, como as pessoas têm recursos dentro delas... Tem uma mãe que perdeu três filhas e que depois adotou uma criança. É um filme que mostra como a gente tem dentro da gente jeito de lidar com as situações mais atrozes. Foi importante, foi um filme duríssimo de fazer também, eu fiquei imersa um ano.
Agora acabei de saber que vou fazer outro documentário, a Prefeitura de São Paulo lançou um edital para histórias de bairros e eu fui selecionada com o bairro de Boemirim, que é onde eu estava filmando. O Boemirim pega o Capão Redondo, o Jardim Ângela, onde eu estava filmando por causa dessa questão da violência, Então foi um documentário meu que eu não consegui recursos e agora eu vou levar adiante, agora eu vou conseguir. É isso.
Mulheres: Muito obrigado pela entrevista.
Miriam Chnaiderman: Obrigado a você.
Entrevista realizada em junho de 2008, na "CINEOP - 3ª Mostra de Cinema de Ouro Preto".

Veja também sobre ela