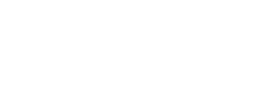Camila Vieira
 Camila Vieira é cearense, de Fortaleza, cidade-natal onde construiu sua carreira de crítica e pesquisadora de cinema brasileiro. Graduada em jornalismo e Filosofia, começou a trajetória no jornal O Povo. No jornalismo eu entrei no Caderno de Cultura, comecei como estagiária no jornal O Povo, de Fortaleza, um dos jornais mais antigos que a gente tem lá. Quando a gente entra para o jornalismo cultural a gente entra ou para tapar buracos de determinadas demandas que não estão sendo preenchidas ou meio que para você fazer tudo. Na época, já existia uma crítica de cinema do Caderno que era a Patrícia Karam, eu já acompanhava o trabalho dela, e depois que fiz o jornalismo passei a acompanhar quem eram os críticos que foram fundamentais para a minha formação.”
Camila Vieira é cearense, de Fortaleza, cidade-natal onde construiu sua carreira de crítica e pesquisadora de cinema brasileiro. Graduada em jornalismo e Filosofia, começou a trajetória no jornal O Povo. No jornalismo eu entrei no Caderno de Cultura, comecei como estagiária no jornal O Povo, de Fortaleza, um dos jornais mais antigos que a gente tem lá. Quando a gente entra para o jornalismo cultural a gente entra ou para tapar buracos de determinadas demandas que não estão sendo preenchidas ou meio que para você fazer tudo. Na época, já existia uma crítica de cinema do Caderno que era a Patrícia Karam, eu já acompanhava o trabalho dela, e depois que fiz o jornalismo passei a acompanhar quem eram os críticos que foram fundamentais para a minha formação.”
O ofício de crítica começou no mesmo jornal. “... quando já estava para me formar, a Patrícia já estava saindo, e a Ethel, que também era uma repórter muito boa, mas que não era do cinema, abriu a vaga. Eu assumi e tive que correr para defender o TCC, ou, pelo menos, ter a data de defesa. Daí corri para conseguir ser efetivada como repórter, porque naquela época eles exigiam que você tivesse uma formação, hoje em dia nem tanto, as pessoas que trabalham com jornalismo não têm essa obrigatoriedade do diploma, né, se tiver uma certa experiência você consegue mais fácil, mas naquela época você tinha que ter formação para conseguir uma vaga já efetiva como repórter.”
O interesse pelos festivais de cinema a fez viajar e ter contato com outros críticos e daí veio o convite para ser curadora, que começou no Cinclube da Casa Amarela e depois no Cineclube Delas, desaguando na Mostra de Cinema de Tiradentes. “No meio desse processo, olha que coisa louca, eu fui cobrir o Festival de Cinema de Brasília e o Cleber Eduardo estava como júri oficial de curtas-metragens, daí ele me chamou para uma conversa e disse que estava precisando de alguém para assumir a curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes e que queria me convidar.”
Camila Vieira conversou com o Mulheres do Cinema Brasileiro na sala de cinema do Centro de Arte e Convenções de Ouro Preto durante a 17a Cineop. Na entrevista, ela repassa sua trajetória na crítica, na pesquisa e na curadoria.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começarmos, nome, cidade em que nasceu, data de nascimento e formação.
Camila Vieira: Eu sou Camila Vieira, nasci em 22 de agosto de 1983, em Fortaleza (CE), sou formada em jornalismo. Minha graduação é jornalismo e filosofia, tenho uma segunda graduação.
MCB: Então vamos começar por aí, como faz essa ponte do jornalismo para o cinema? Como ela se dá, ou antes de enveredar para o cinema você também atuou no jornalismo, seja na cultura ou em outras editorias?
CV: É curioso, eu comecei a buscar o jornalismo por conta do cinema. Quando eu era pequena eu comecei a ver filmes, o que não foi da formação dos meus pais, porque eles sempre foram muito alheios a isso. Tenho uma mãe que é professora já aposentada e meu pai um instrutor educacional. Eles nunca me inseriram nesse universo do cinema, isso foi uma coisa que eu fui buscando naturalmente na minha própria formação e contato com as pessoas. Quando era pequena, tinha os espaços de socialização das praças e gostava muito de esportes, de handebol. Quando esses espaços de socialização ali no meu bairro acabaram, porque, enfim, teve a transformação do bairro, casas começaram a ser construídas, esses espaços que eram abertos, os parques, tudo fechou, e aí foi quando eu comecei a buscar o cinema de uma forma muito intuitiva. Tinha uma locadora ali perto do meu bairro e eu fui buscar o que era aquilo, o que era esse universo.
MCB: Você tinha quantos anos?
CV: Acho que uns 15 anos, por aí, acho que foi nesse período. Eu era uma menina muito envolvida com handebol, gostava das olimpíadas de colégio, que era handebol, carimba, na verdade é queimada que se chama. Eu era muito assim, e aí eu fui me voltando para o espaço da casa e de assistir os filmes em casa, enfim, de sair um pouco desse lugar assim do espaço público, de atuar no espaço público, e quis ficar mais no espaço doméstico, assistindo aos filmes em casa. Eu não tinha o hábito de ir ao cinema, porque eu morei em um bairro periférico que era muito longe do cinema, muito inacessível para mim, mas ia de vez em quando. Quando comecei a assistir a muitos filmes, na época do vídeo, fita VHS, eu assistia muito com a minha irmã do lado. E acho que foi por isso esse desejo de cinefilia, que passa de uma busca muito pessoal minha, e a partir daí eu comecei a ver algumas pessoas, alguns profissionais que falavam sobre cinema no campo do jornalismo. Eu sempre gostei muito de escrever e de ler bastante. E eu fiquei pensando que talvez esse fosse o e meu lugar.
Tem uma historinha que eu gosto de contar e que o Celso Sabadin não sabe disso. Ele tinha uma coluna de crítica às sextas feiras de manhã em um programa que agora eu esqueci o nome, mas era na Bandeirantes, e eu assistia aquilo ali e ficava “Gente, nossa, que incrível, eu acho que quero fazer algo parecido”. E aí eu encaminhei uma carta para ele, ele leu no programa, perguntando como fazer para chegar a isso? Aí ele disse “ Você vai ter que se formar em jornalismo, e aí você vai começando a se especializar e a criar espaço para você refletir sobre cinema, escrevendo crítica ou escrevendo sobre cinema. ” E aquilo ali abriu um campo de possibilidades. Eu nunca contei essa história para o Celso, algumas pessoas sabem disso, algumas colegas lá de Fortaleza, mas isso eu nunca contei para ele. Foi fundamental para eu buscar essa formação no jornalismo e partiu muito desse desejo, dessa relação com o cinema.
No jornalismo eu entrei no Caderno de Cultura, comecei como estagiária no jornal O Povo, de Fortaleza, um dos jornais mais antigos que a gente tem lá. Quando a gente entra para o jornalismo cultural a gente entra ou para tapar buracos de determinadas demandas que não estão sendo preenchidas ou meio que para você fazer tudo. Na época, já existia uma crítica de cinema do Caderno que era a Patrícia Karam, eu já acompanhava o trabalho dela, e depois que fiz o jornalismo passei a acompanhar quem eram os críticos que foram fundamentais para a minha formação. Ela foi uma que foi muito importante, hoje em dia nem trabalha mais com isso, agora ela está como funcionária pública de uma secretaria que não tem nada a ver com cultura, se encaminhou para um outro lugar, não escreve mais crítica de cinema, mas na época ela escrevia bastante, era um nome de referência. E também o Firmino Holanda, que é um historiador, também era uma influência assim muito forte, acho que no nordeste de uma forma geral. Ele tinha uma coluna no Caderno Videoarte, ali no final dos anos 1980, acho que até os 90 ele continuou escrevendo, o que foi muito importante também para a gente ter esse conhecimento do cinema, de uma certa história de cinema. Nessa época, eu procurei a Casa Amarela, que era onde ele dava aula, um espaço muito importante até hoje porque é um espaço de formação de história de cinema, tem formação de fotografia, de animação e eu procurei essa de história do cinema. O Firmino Holanda era um dos professores, foi o primeiro contato que eu tive próximo com ele, porque para mim ele era uma grande referência na crítica em jornal impresso.
Comecei como estagiária e, na época, já tinha a Patrícia Karam escrevendo sobre cinema, já tinha outro crítico lá de música, enfim, naquela época quando eu comecei a escrever no jornal, não me lembro exatamente quando, no início dos anos 2000, talvez, tinham muitos profissionais que tinham as suas especialidades, existia um fortalecimento muito forte da crítica em vários campos das artes. Então você tinha um crítico de teatro, um crítico de música, tinha a Patrícia fazendo crítica de cinema, e a área que não tinha ninguém era as artes visuais, então quando eu entrei como estagiária lá eles me colocavam para fazer muitas matérias de artes visuais e de certa forma, de uma relação com o audiovisual também, mas um pouco distante, né? Um pouco tempo depois a Patrícia saiu e aí eu meio que comecei a assumir isso que ela fazia e passei a escrever bastante crítica de cinema, e aí quando já tinha entrado uma vaga como repórter eu já começava a ser pautada para cobrir festivais.
MCB: Ainda como estudante ou formada?
CV: Já formada. Comecei com um estágio de faculdade mesmo, sem remuneração, e aí teve uma vaga para estágio remunerado lá e aí eu continuei, quando já estava para me formar a Patrícia já estava saindo, e a Ethel, que também era uma repórter muito boa, mas que não era do cinema, abriu a vaga. Eu assumi e tive que correr para defender o TCC, ou, pelo menos ter a data de defesa. Daí corri para conseguir ser efetivada como repórter, porque naquela época eles exigiam que você tivesse uma formação, hoje em dia nem tanto, as pessoas que trabalham com jornalismo não têm essa obrigatoriedade do diploma, né, se tiver uma certa experiência você consegue mais fácil, mas naquela época você tinha que ter formação para conseguir uma vaga já efetiva como repórter.
MCB: Na verdade, eu nem sei se hoje ainda é obrigatório o diploma, mas as redações que as vezes não exigem mais.
CV: É, as redações mudaram muito. Eu até gosto de lembrar um pouco dessa época porque é muito diferente do fácil acesso que a gente tem das coisas hoje, era super analógico. No jornalismo cultural você é demandado para fazer várias coisas, então eu cheguei a fazer resenhas de shows, eu gosto de música, mas não sou conhecedora, mas era isso que tinha no final de semana de pauta para fazer e precisava ser feito. Eu sempre propondo pautas de cinema, de entrevistas, reportagens específicas sobre uma determinada conjuntura do cinema brasileiro, sempre gostei muito de cinema brasileiro, de acompanhar festivais, e me propunha a entrar em contato com as assessorias dos festivais para ficar acompanhando. Foi um interesse muito específico meu, eu acho que naquele momento eu estava vivendo uma renovação do cinema brasileiro, eu me lembro que na época o Cleber (Eduardo, curador) tinha entrado em contato comigo porque foi, justamente, naquele ano em Tiradentes quando passou o Estrada para Ythaca, (Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Guto parente, Pedro Diógenes) que houve, enfim, a descoberta do que era o Coletivo Alumbramento. Era um negócio assim muito distante dos profissionais do jornal ter contato com a produção contemporânea, porque, enfim, o que a maioria das pessoas conhecia era de uma geração mais antiga de realizadores, tinha a família do Rosenberg Cariri, o Wolney (Oliveira). Boa parte desses profissionais cobriram em Ceará, então o fluxo era muito maior, mas essa nova geração de realizadores que estava surgindo ali nos anos 2000 era um pouco distante assim chegar na produção e ter essa interlocução. Existia também uma rejeição desses festivais tradicionais de lá, de exibir os filmes dessa nova geração, precisou eles saírem e irem para outros festivais para acontecer. Eu me lembro que o Cleber tinha me procurado justamente para fazer a cobertura de Tiradentes daquele ano, o Ythaca, parece, que foi o filme emblemático, que mudou a cara de Tiradentes e fez com que ele, o filme, ficasse reconhecido nacionalmente. Mas foi muito difícil para o meu editor na época, eu falei que queria ir para o festival porque tinha uma cena cearense que estava acontecendo, que estava despontando, mas é aquela coisa, você vender uma pauta dessa e convencer um editor de uma coisa extremamente nova. E aí isso não aconteceu, ele não me liberou para fazer o festival, ele me liberava para ir para Gramado, para o Festival de Brasília, você está me entendendo? Era muito assim e, ao mesmo tempo, eu com essa vontade também de conhecer outros festivais. Foi a partir daí que eu comecei a me encaminhar pela crítica de cinema, com esse interesse mesmo, não só de pensar nos filmes por si só, eles sozinhos, isolados, mas pensando em toda uma rede, de quem produz esses festivais, de quem são esses realizadores. Sempre gostei muito desse contato e eu acho que isso no futuro fez com que eu pensasse em trabalhar com curadoria.
MCB: Você se lembra qual foi a primeira crítica que escreveu?
CV: Nossa, a primeira crítica que eu escrevi, deixa eu me lembrar aqui, foi do Hitchcock.
MCB: E brasileiro, você se lembra?
CV: De filme brasileiro foi, deixa eu tentar lembrar, é que aconteceu tanta coisa. Lembrei, foi o Amarelo manga, do Cláudio Assis.
MCB: Tem aí uma trajetória de formação acadêmica, de trabalho de jornalista em redação, da crítica. Você acabou citando sobre esse passo para a curadoria, mas eu queria recuar um pouquinho. Uma coisa que eu acho curiosa, vamos dizer assim, é que muita gente se diz pesquisador, o que mais tem é pesquisador de cinema. Eu, por exemplo, que estou há 30 anos na área, que trabalho com cinema brasileiro mais especificamente, eu fui me considerar pesquisador muito tempo depois, mas hoje eu vejo as pessoas se apresentando logo como pesquisador de cinema. Você falou que acabou desembocando na curadoria, mas quando você percebeu ir da crítica para a pesquisadora, como se deu esse passo?
CV: Eu acho que crítica de cinema já é uma forma de cinema, ela não é legitimada pelo lugar da academia, que seria esse lugar da pesquisa de uma forma ipisis litteris, mas eu acho que quando você faz qualquer tipo de aprofundamento, que você está querendo conhecer, de certa forma é um tipo de pesquisa. Eu ficava muito incomodada quando determinados profissionais de jornalismo eram colocados para escrever sobre cinema e você via coisas extremamente rasas, você via que não havia interesse. Ainda que eu acho isso natural de acontecer porque é isso, né, um jornalista contratado é demandado para fazer várias coisas, não se especializa. Mas ficava um pouco incomodada com essa dificuldade de querer buscar mais conhecimento dentro daquilo, daquela área. Minha trajetória sempre foi aliar essa prática do jornalismo, tentar conciliar a prática do jornalismo e ter esse viés mais da academia, de pesquisadora dentro da academia. O meu TCC foi sobre arte visuais. Eu entrei no jornalismo cultural fazendo muitas matérias de artes visuais e isso, de certa forma, me influenciou no meu próprio TCC, que foi sobre a obra do Leonilson, não tinha nada a ver com cinema.
Teve uma época em que eu fiquei mais esgotada do meu trabalho como jornalista porque eram muitas horas de trabalho, no jornalismo impresso você tem que dar conta sozinha do que você está fazendo, você vai acumulando muitas horas de trabalho, leva muito trabalho para casa também e isso tinha me esgotado um pouco. Aquela paixão maravilhosa que eu tinha pelo jornalismo, das várias possibilidades, da troca de conhecimentos com as pessoas da própria área, isso foi um pouco se desgastando com o tempo, e aí eu já estava muito envolvida com essa busca de conhecimento e pensei no mestrado em comunicação por não querer sair da minha área de comunicação, mas, pesquisando cinema, Na época, eu estava vendo muitos filmes orientais, filmes da Tailândia, da China, do Japão, da Coréia, e isso é curioso porque eu sempre tive interesse pelo cinema brasileiro, mas naquela época estava me fascinando muito a descoberta de cinemas de outros países que, até então, eu não tinha um contato mais próximo. Daí abriu a possibilidade da primeira turma de mestrado em comunicação na UFC, na Federal do Ceará, eu tinha feito a graduação lá e pensei em montar um projeto sobre isso que estava vendo, era narrativa corpo e sensibilidade em alguns filmes asiáticos, tentar fazer um recorte disso. Foi quando eu saí da prática jornalística e me dediquei totalmente ao mestrado por dois anos, daí quando finalizou essa etapa eu recebi um convite para ir para a televisão fazer produção, fazer jornalismo mas em um outro lugar que não era o impresso. Eu vi que na televisão as coisas pareciam que fluíam muito melhor, não tinha essa coisa de horas extras trabalhadas, é um trabalho muito coletivo, se você não consegue dar conta do que você está fazendo no seu turno a equipe do outro turno consegue cobrir, coisa que no impresso nunca é possível. Na televisão eu descobri um outro universo que foi muito encantador também, produzindo um programa de cultura pra TV O Povo, que também era na mesma empresa, afiliada da TV Cultura. Aos poucos eu comecei a ter uma coluna de cinema, de crítica de cinema dentro desse programa, o que foi muito interessante porque aí você exercita o lugar da crítica que não é só texto. Geralmente, eu costumo falar muito disso nas oficinas que eu dou de crítica de cinema, questionando um pouco esse lugar do textocentrismo, essa coisa que há, de que você só consegue ser um crítico de cinema estimado se você escreve bons textos, né, existe toda uma geração aí que defende muito isso. Quando eu entrei na televisão eu vi uma possibilidade de você fazer uma outra coisa, de você pensar na crítica de cinema, é claro, tem um texto que você escreve para falar, você se prepara para isso, mas também existe esse exercício da oralidade na televisão que te expande muito o campo. É curioso isso porque estava falando do Celso, que eu vi na TV, mas eu me encaminhei para o impresso porque isso era o básico do básico que as pessoas faziam. E eu entrei na televisão não por querer, mas porque eu recebi esse convite e isso me abriu tantas possibilidades muito interessantes foi a partir daí que mais lá na frente e ainda hoje eu faço podcast.
Sou uma das integrantes do podcast “Feito Por Elas”, que já é um outro lugar que talvez seja mais próximo do rádio. Eu não tinha experiência profissional com o rádio, mas fico pensando que é muito rico você também fazer crítica de cinema em outros formatos que não seja apenas o do texto, enfim, que é muito fascinante, mas, ao mesmo tempo, te demanda uma certa elaboração ou outra que talvez não seja a mesma elaboração que na televisão, ou de um podcast, principalmente por ser muitas conversas, é bate papo. A crítica no impresso, não sei se você pensa dessa forma, mas eu penso muito assim, me deixou muito solitária, porque é isso, o contato que você tem com o filme, aí você escreve, e isso acaba sendo um processo muito solitário. Quando você faz um podcast com outras pessoas, você está conversando sobre o que você pensa daquele filme com outras pessoas, então você vai ganhando essa possibilidade de, inclusive, mudar o seu próprio olhar. Na televisão isso se dá menos porque é um campo de mediação, esse retorno do público chega um pouco depois, mas eu acho que tanto o rádio quanto o podcast, e eu queria ter tido essa experiência do rádio e conheço muita gente do rádio que diz a mesma coisa, eu acho que esse processo de troca seria muito mais orgânico, digamos assim, que no impresso.
Eu fui para a televisão quando saí do mestrado, passei pouco tempo com televisão e aí fui chamada de volta para o Jornal O Povo, mas para ser editora, não era mais uma condição como repórter. Foi um outro projeto que era fascinante no início, mas meio desgastante por vários motivos, por pressão direta da chefia de reportagem, que era um outro lugar com mais responsabilidades. Logo depois eu saí para fazer Doutorado na UFRJ, orientada pelo Denílson, cheguei a conhecer o Denílson lá em Fortaleza, quando ele foi várias vezes lá para falar de cinema, ele pesquisava cinema brasileiro, e aí já foi como pesquisa de cinema brasileiro.
MCB: Qual era o tema?
CV: Cinema brasileiro. Eu faço um recorte de alguns filmes contemporâneos e eu elaborei uma ideia de uma estética do desaparecimento em alguns desses filmes, que eram filmes de um certo contraponto, uma certa história do cinema brasileiro, e eles se encaminhavam para um outro lugar que não era esse da valorização do realismo, enfim, para um outro lugar. No momento, eu estava pensando naquilo ali e fiz assim, a pesquisa toda mudou muito ao longo do tempo, o recorte dos filmes, mas foi basicamente isso, inclusive tem dois filmes cearenses que estão na minha pesquisa, o Linz – Quanto todos os acidentes acontecem, do Alexandre Veras, e “A Misteriosa Morte de Pérola” do Guto Parente e da Ticiana Augusto Lima.
MCB: E quando se dá a curadoria?
CV: O trabalho de curadoria vem muito, inicialmente, de uma relação próxima com o Cineclube, por incrível que pareça quando eu fiz aquela formação lá com o Firmino, da Casa Amarela. Quando a gente terminou a formação, surgiu a oportunidade de fazer o Cineclube lá na Casa, em um cineclube você tem esse processo de selecionar os filmes, de montar uma grade, convidar pessoas e conversar com elas. Acho que a primeira experiência com o cineclube foi essa, quando eu estava no Rio fazendo doutorado. Uma coisa que sempre me incomodou nessa coisa da crítica de cinema é que os jornalistas não aprofundavam muito as suas pesquisas nas áreas e também dentro da academia eu nunca me senti muito confortável, porque eu sentia que os pesquisadores circulavam pouco nos festivais. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de circular nos espaços, você não vai no festival só para ver o filme, você conhece e conversa com as pessoas. Isso hoje é muito importante para mim no campo das políticas públicas, agora como servidora. Eu gosto das coisas de um certo lugar de jornalista e gosto de outras coisas dentro do lugar da pesquisa, mas sempre tentando conciliar esses lugares.
Eu ficava tentando circular pelos lugares e aí foi quando eu tive um contato mais próximo com o Cavi Borges, que era um produtor que eu já conhecia dos festivais. Eu estava com uma amiga na época, a Samantha Brasil, em um almoço que nós tivemos nós três, e ele me disse: “Camila, a gente está alugando um espaço no Templo Glauber, minha produtora vai estar lá, estou produzindo muitos filmes, mas eu sinto a necessidade no Templo Glauber de ver sobre essa questão de cineclube.” O Cavi sempre foi muito entusiasta de cineclubes e sempre quis montar um. Na época, a gente estava pensando muito sobre filmes realizados por mulheres, vendo muito essas produções, daí ele propôs pensarmos um projeto para colocar isso em prática e foi quando nasceu o Cineclube Delas, no Templo Glauber. Em princípio, o Cineclube Delas passaria filmes de vários países, não necessariamente brasileiros, e como a gente viu ali que seria uma possibilidade, encontramos vários realizadores que não estavam encontrando espaços pra exibir os seus filmes em festivais de forma mais regular, ai a programação acabou sendo isso. A gente fez várias convocatórias para realizadores exibir seus filmes, a gente exibiu vários curtas-metragens, mas também teve a possibilidade de convidar diretoras para conversar com a gente. Então foram lá Helena Solberg mostrar alguns filmes dela, a Lúcia Murat, a Helena Ignez, então foram alguns nomes muito significativos em um espaço super pequeno. Começou a ter uma reverberação, o espaço ganhou uma importância na cidade, mas não durou muito tempo, acho que durou um ano e meio. Porque logo depois ele fechou as portas, tirou todas as produtoras, não só a do Cavi, o Templo Glauber não conseguiu se sustentar e fechou o espaço.
Eu não vi sentido em continuar o Cineclube Delas, porque eu via o cineclube como algo que nasceu, ganhou força e cresceu lá, não fazia sentido ele existir em outro espaço. Falei para a Samantha que não dava mais para mim e ela deu continuidade em outros espaços, mas foi perdendo força. Foi um momento muito bonito, a gente fez em um ano e meio vários encontros, tinha muito esse pensamento de curadoria. No meio desse processo, olha que coisa louca, eu fui cobrir o Festival de Cinema de Brasília e o Cleber Eduardo estava como júri oficial de curtas-metragens, daí ele me chamou para uma conversa e disse que estava precisando de alguém para assumir a curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes e que queria me convidar. E aí eu fiquei: O quê?
MCB: Isso foi em que ano?
CV: Acho que foi em 2017. Neste mesmo ano eu tive uma experiência como voluntária de uma curadoria da Semana dos Realizadores, que, na época, não era mais semana dos curadores, era semana do cinema, tinha mudado o nome, mas trabalhando como voluntária porque eu queria entender como era esse exercício de curadoria sem ser pelo cineclube. O Cléber não sabia disso, porque ele estava querendo me chamar já há um ano antes, estava negociando com a Raquel (Hallak, coordenadora da Mostra). Eu já acompanhava muito a Mostra de Tiradentes, já conhecia e ele falou isso. Tinha um imaginário da Mostra de Tiradentes em que eram as pessoas da Cinética que faziam, o Cléber fez parte, o Francis (Vogner), a Lila (Foster) também, o único que não era é o Pedro Maciel. Eu sempre me encantei pela Mostra de Tiradentes e ele veio com essa proposta, daí disse que aceitava. Na época, era o Francis e o Pedro Maciel, que também estava na curadoria de curtas, e foi maravilhoso, o diálogo com eles foi incrível, foi quando eu tive a primeira experiência de fazer uma curadoria em um festival grande, esse desafio de ver muitos filmes. São muitos filmes inscritos, é sempre um volume muito grande, entre 800 e 900 curtas, é sempre nessa faixa. E você também ter esse contato próximo com realizadores, com os produtores , com quem faz o festival em si, foi muito extraordinário para mim, um universo totalmente novo que se abriu. E continuo nisso, mais recentemente fazendo curadoria da CINEOP, e agora vou começar no Cine BH também, vai ser a primeira vez.
MCB: O número de mulheres na crítica era reduzido, ainda que com nomes importantes, como a cineasta Suzana Amaral, que escreveu muito também, a Susana Shild, a Maria do Rosário Caetano, entre outras. Hoje temos muitas mais, como você vê esse crescimento?
CV: É, eu estava até conversando com o Paulo Henrique (Silva, crítico) hoje no café da manhã. Eu fui conhecer os críticos de uma forma geral foi nesse contato com os festivais, porque o contato de ler os textos, de conhecer, era muito local, era muito do Ceará, então era Firmino Holanda, Patrícia Karam. Foi quando eu comecei a passar pelos festivais é que eu fui entender que existia a Maria do Rosário, a Neusa (Barbosa), a Ivonete (Pinto), esses nomes que a gente conhece da Abraccine. É curioso se pensar nesse lugar da mulher de crítica de cinema, eu venho de um estado que é super machista, dentro do jornalismo, o jornalismo cultural lá em Fortaleza, inclusive na minha formação de graduação, era sempre visto como jornalismo de perfumaria. Eu tive um grande professor de jornalismo, já falecido e que eu admiro muito, que é o Agostinho Gosiman. Ele me perguntou onde iria fazer meu estagio e quando respondi que era em um caderno de cultura ele disse “Ah, você vai fazer perfumaria, né?”. Quando entre na editoria, praticamente só tinha mulheres, havia apena um homem, que era crítico de música, e que, inclusive, era o editor-ajunto. Então havia esse imaginário, que jornalismo cultural ou era lugar de mulher ou lugar de perfumaria, entendeu? Era super pejorativo, mas, ao mesmo tempo, quando você entra nesse espaço você se sente acolhido, era um espaço de acolhimento, então eu nunca sofri situações de machismo dentro do meu exercício profissional porque eu estava entre iguais.
O conhecimento de outras críticas se deu nesse contato com outros festivais e é nítido que são poucas, eram poucas, e aí pensando nisso, quando a gente fez o Cineclube Delas, que foi pensando para ter esse espaço de possibilidade dessas realizadoras que se sentiam insatisfeitas de não conseguirem os seus espaços nos festivais para exibirem os seus filmes e conversarem sobre eles, o Cineclube virou esse lugar, esse espaço em que isso se tonou possível. Eu continuei frequentando os festivais e conheci também ali outras críticas que estavam surgindo na internet e que queriam fazer um coletivo. Eu estava ali no início da formação do Coletivo Elviras, e muito empolgada com essas discussões, mas eu saí logo depois por não concordar com uma série de coisas. Eu achava que faltava muita articulação para além desse lugar inicial de você fundar um Coletivo, eu acho que faltava mais desdobramentos a partir daquilo ali, entende? Eu fiquei pouco tempo, eu estava na fundação, quando teve a primeira reunião no Festival de Brasília, mas fiquei, acho, uns dois anos no Coletivo, daí fui buscar meu lugar. Eu entendo o coletivo como um espaço legitimo, de encontro entre diferentes profissionais, muitas delas, inclusive não se reconhecem como críticas, e acho que o que elas estão fazendo não é crítica de cinema, é outro lugar. O coletivo é muito importante pra esse autoconhecimento, assim do próprio trabalho. Eu acho que aumentou o número de mulheres escrevendo críticas de cinema, que é conseguir se inserir nesses espaços, acho que houve uma discussão muito aprofundada disso nos festivais quando a gente fazia as mesas do Coletivo Elviras. Isso meio que parou porque, acredito, elas já conseguiram os seus próprios espaços, e quais os desdobramentos a partir disso, eu não sei o que elas estão fazendo agora.
MCB: Você citou alguns nomes de formação. Quem você está lendo hoje na crítica ou na reflexão cinematográfica aqui no Brasil? Quem você lê, quem gosta de acompanhar?
CV: Olha, tem críticas que eu gosto muito de acompanhar. Gosto muito da Lorena Rocha, da Ana Julia Silvino, gosto muito da Maria Trika, são críticas assim que me interessam, ler o que elas estão escrevendo. Tem as próprias meninas do podcast “Feito Por elas”, eu gosto muito de conversar com elas, eu acho que elas produzem poucos textos, mas gosto muito de conversar com elas, de trocar ideias. Tem a Multiplot, eu sempre leio os textos de todo mundo porque eu estava como editora, mas agora saí. Teve uma fase que eu gostava muito do que o Arthur produzia em formato de vídeo, que também é outra possibilidade muito interessante, Não estou acompanhando mais porque a vida está corrida, e, na verdade, eu estou agora mais interessada em ter interlocuções maiores com curadores, de acompanhar mais o trabalho dos curadores, o que eles estão fazendo, mais do que a crítica de cinema, mas eu ainda acompanho muita coisa.
MCB: Camila, para a gente encerrar, as únicas duas perguntas fixas do site. Primeira: qual foi o último filme brasileiro a que você assistiu?
CV: O último filme brasileiro que eu assisti foi o de ontem aqui na mostra, Os Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira, que eu consegui assistir no cinema, porque a primeira vez que eu assisti foi virtualmente na Mostra de Cinema de Tiradentes. Lá a gente não conseguiu fazer presencial, mas eu amei ter visto esse filme no cinema, que filme lindo, lindo, eu gosto muito do cinema do Rodrigo e foi uma satisfação imensa conversar com ele depois de tanto tempo com a pandemia. Eu ainda não tinha feito esse exercício de volta para o cinema, de assistir aos filmes no cinema, mas ontem foi muito fascinante para mim ver esse filme aqui, neste espaço, na tela grande. E como é lindo, eu me emocionei.
MCB: E qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que você deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e o porquê?
CV: Eu vou dar um nome menos óbvio de todos, que é a Cléo de Verberena, ela foi a primeira mulher registrada a realizar filmes no Brasil. A gente tinha pouquíssimas informações sobre ela e sobre o filme que ela realizou, mas agora tem uma pesquisa aí, uma menina da USP que eu estava começando a ler e estava achando tudo muito interessante. O filme que ela realizou foi uma adaptação de um livro, o que a gente sabia do filme era só a narrativa do livro, porque o filme não existe mais, não existe a possibilidade de conseguir recuperar esse filme porque ele se perdeu. Então o que a gente sabe do filme é apenas o que a gente lê dos recortes dos jornais da época e também do próprio livro. Nessa tese, eu esqueci agora o nome da pesquisadora, é uma menina da USP, ela vai revelando muitos aspectos interessantes da vida da Cléo. Eu acho que é importante lembrar o nome da Cléo de Verberena, uma pioneira.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Camila Vieira conversou com o Mulheres do Cinema Brasileiro na sala de cinema do Centro de Arte e Convenções de Ouro Preto durante a 17a Cineop, em junho de 2022.Foto: Netun Lima

Veja também sobre ela