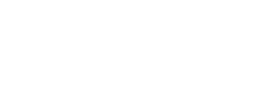Sandra Kogut
 Sandra Kogut nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1965. A cineasta começou a carreira nos anos 1980, dirigindo vários vídeos, muitos deles exibidos e premiados em países como Alemanha e Estados Unidos. Sandra Kogut sempre teve carreira premiada nos festivais internacionais, mas a consagração junto ao público começou com o delicioso curta Lá e cá, realizado em 1995, sobre a história do cotidiano de uma mulher da periferia, interpretada com brilho pela atriz Regina Casé. "O engraçado é que é um filme que, hoje em dia, tem um interesse histórico. Eu revi há pouco tempo, ele é de uma época de quando a violência no Rio ainda não tinha entrado na mídia, foi quando estava começando os bailes funks, e hoje em dia você vê aquilo ali, você vê um momento do Rio de Janeiro, sabe”.
Sandra Kogut nasceu no Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1965. A cineasta começou a carreira nos anos 1980, dirigindo vários vídeos, muitos deles exibidos e premiados em países como Alemanha e Estados Unidos. Sandra Kogut sempre teve carreira premiada nos festivais internacionais, mas a consagração junto ao público começou com o delicioso curta Lá e cá, realizado em 1995, sobre a história do cotidiano de uma mulher da periferia, interpretada com brilho pela atriz Regina Casé. "O engraçado é que é um filme que, hoje em dia, tem um interesse histórico. Eu revi há pouco tempo, ele é de uma época de quando a violência no Rio ainda não tinha entrado na mídia, foi quando estava começando os bailes funks, e hoje em dia você vê aquilo ali, você vê um momento do Rio de Janeiro, sabe”.
Em 2001, Sandra Kogut estreia em longas com o ótimo documentário Um passaporte húngaro. No filme, a diretora tenta tirar sua cidadania húngara - o avô nasceu em Budapeste -, e, para isso, depara-se com a burocracia do Estado e sua intervenção nas vidas individuais. "Até hoje é um filme que está vivo, as pessoas continuam me pedindo para ver, continuam escrevendo sobre ele, estudando esse filme, é incrível como a vida dele é longa”.
Mutum (2007) é a estreia da cineasta em filmes de ficção de longa-metragem. Sandra Kogut, em roteiro seu e de Ana Luíza Martins Costa, levou para as telas a história de Miguilim, do livro "Campo Geral", do mestre João Guimarães Rosa. “Foi um filme que me trouxe muita felicidade, ele teve uma carreira muito bacana. Ele estreou em Cannes, ele foi para muitos festivais importantes, ele foi para Berlim um ano depois, o Thiago (o ator mirim Thiago da Silva Mariz) foi para Berlim, que foi uma coisa sensacional".
Sandra Kogut esteve na 19a Mostra de Cinema de Tiradentes para lançar seu novo filme, Campo Grande, e conversou com o Mulheres do Cinema Brasileiro. Ela repassa sua trajetória, fala sobre seu projeto Videocabines, sobre os filmes, como Lá e Cá, Um Passaporte Húngaro, Mutum, Campo Grande, e muito mais.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começar, nome, cidade em que nasceu, data de nascimento e formação.
Sandra Kogut: Meu nome é Sandra Kogut, eu nasci no Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1965. Eu fiz Filosofia, não terminei, aí fui para a Comunicação. Aliás, antes da Filosofia eu fiz Economia, também só um ano, aí fiz acho que um ou dois anos de Filosofia, depois fui para Comunicação, e acabei não concluindo meu curso superior. A ironia é que depois eu fui dar aula para nível de PHD nos Estados Unidos, doutorado e tal, porque, na verdade, a minha formação acabou sendo o trabalho.
MCB: Interessante é que mesmo que você não tenha concluído o curso, a filosofia tem a ver com o seu cinema porque ele sucinta reflexões, inclusive, sobre o lugar que estamos no mundo, e a comunicação porque você acabou trabalhando com o cinema e o audiovisual.
SK: Eu só não concluí porque eu comecei a viajar muito fazendo os vídeos na época e ficou impossível conciliar. Na época a faculdade até me deixou contar créditos com os trabalhos que eu estava começando a fazer, mas aí viajando e morando fora não dava mais.
MCB: Esses vídeos são da década de 1980, não é isso?
SK: Comecei em 1986, 1987.
MCB: São vídeos que circularam pela Alemanha, Estados Unidos...
SK: Exatamente, circularam bastante.
MCB: Você pode citar alguns, pelo menos os nomes?
SK: O projeto que ficou mais conhecido foi um que se chamava “Videocabines”. Eu instalava umas cabines na rua, em lugares públicos, com câmeras, e depois tinha umas cabines com poltronas e televisão que passava o que as cabines com câmeras tinham gravado. Então era uma ideia de criar, muito antes da internet, uma rede onde as pessoas iam ter o contato individual através da tecnologia. Hoje em dia a gente faz isso o tempo todo, mas na época era uma ideia estranha. Hoje em dia é uma coisa banal, mas naquela época era uma ideia esquisita.
MCB: E aí você falou do “Videocabines”.
SK: Aí eu fiz o “Videocabines” e dali eu fui convidada pra fazer esse projeto, essa ideia no mundo, e aí eu fiz uma vídeo que era uma série que se chamava “Parabolic People”, que até ele estava falando, o Valter, que viu na época e enfim esses vídeos apareceram muito, até hoje tem gente procurando, eu sou contatada e até está tendo uma espécie de renascimento deles, é interessante, sabe. O “Parabolic People” foi bem no comecinho do digital, quando estava começando a ter o mundo digital, então eu acho que ele fala muito de várias coisas que tem a ver com esse momento, de alguma maneira tem uma nova perspectiva disso agora, né.
MCB: Foi ali ou já havia antes o seu interesse pelo cinema?
SK: Eu sempre quis fazer cinema, sempre adorei cinema, mas de gostar até achar que eu podia fazer cinema teve um processo. Na verdade, na época que eu entrei na universidade e tal as opções eram poucas, e as pessoas que faziam cinema em geral conheciam alguém que fazia, era assim que as pessoas começavam, era um clube muito fechado. Eu não conhecia ninguém, e aí eu fui fazer vídeo meio que por acaso, porque eu descobri aquela tecnologia que também ainda estava muito iniciante. Achei que aquilo ali era que nem eu, tudo ainda iria acontecer, não tinha muita história para trás, e fui começar a experimentar coisas com vídeo um pouco por acaso. Acabei entrando, achando que ali tinha uma linguagem a ser descoberta, mas nunca perdi a vontade de fazer cinema. Só que também sempre pensei sobre que formato eu ia trabalhar, se é vídeo, se é cinema, se é longa, se é curta. Isso vai depender do projeto, do que eu estou querendo falar e não de um plano de carreira, entendeu?
MCB: No cinema, o primeiro foi o Lá e Cá?
SK: Antes do Lá e Cá eu fiz uns vídeos de umas coisas que nunca passaram aqui no Brasil. Tinha um que eu fiz na França, que era em 16m, eu tinha uma bolex que eu andava com ela e filmava assim quase que como um diário. Chamava Lá, é um curta, mas não chegou a passar aqui, a ter uma existência no Brasil, então oficialmente o Lá e Cá é o primeiro.
MCB: Eu me lembro que quando o Lá e Cá foi lançado ele foi muito comentado, foi uma estreia já chamando atenção.
SK: É que o Lá e Cá teve uma história muito boa, naquela época tinha acabado o cinema nacional.
MCB: Ele foi lançado e filmado na mesma época?
SK: Foi filmado um ano antes, uma época que tinha tido o Plano Collor (ex-presidente Fernando Collor de Mello), estava aquela crise no cinema. Tinha poucos festivais, a gente mandou para Gramado e o filme não entrou nem naquela pré-seleção, foi barrado. Eu fiquei arrasada porque era o único lugar que esse filme poderia chegar. Daí aconteceu uma coisa inacreditável, o Cacá Diegues, que estava filmando na Bahia, mandou uma carta para os jornais reclamando, falou que era um absurdo aquilo, que era o novo cinema do Brasil e como que ninguém podia entrar no Festival? A carta teve tanta repercussão que todo mundo queria ver esse filme, tipo “Que filme é esse? Eu quero ver aquele filme que foi barrado em Gramado”.
MCB: É um média-metragem, não é isso?
SK: Ele está bem na fronteira, ele tem tipo 30 minutos. Isso acabou ajudando o filme, porque criou um interesse, uma curiosidade talvez até maior do que se ele tivesse ido para o Festival. Enfim, ele teve uma vida muito legal.
MCB: O filme tem um trabalho maravilhoso da Regina Casé.
SK: Maravilhoso”. O engraçado é que é um filme que, hoje em dia, tem um interesse histórico. Eu revi há pouco tempo, ele é de uma época de quando a violência no Rio ainda não tinha entrado na mídia, foi quando estava começando os bailes funks, e hoje em dia você vê aquilo ali, você vê um momento do Rio de Janeiro, sabe.
MCB: Eu vi o filme na época e eu me lembro de ter um plano que tem a Regina e um trem passando, ele passando e ela lá, olhando.
SK: Ele é um filme que tem uma pesquisa de linguagem, não é um cinema narrativo tradicional. Parece que falaram lá em Gramado que ele era sem pé nem cabeça. Porque ele é um filme quase redondo, você vai rodando em volta do assunto como se fosse descascando uma cebola, ele não anda para frente em linha reta.
MCB: E aí você vai para o longa, Um Passaporte Húngaro (2001). Além da sua estreia no longa, o filme é a partir de uma história pessoal sua.
SK: Sim, tentando tirar o passaporte, sou neta de húngaros. A origem desse filme é a seguinte. Nessa época, eu morava na França e vivia às voltas com questões tanto existenciais, de identidade, quanto práticas, de papeladas. Um belo dia pensei assim: os meus avós vieram da Hungria, então é uma coisa que faz parte da minha vida, essa questão. Aí eu pensei “Vou tentar tirar um passaporte húngaro”, e, na hora, eu pensei “Eu vou fazer um filme, porque aconteça o que acontecer esse assunto me interessa. Então eu decidi isso tudo junto, e aí o filme vai acompanhando esse processo.
MCB: É muito interessante porque o que poderia ser um objeto árduo você trata elecinematograficamente, de uma forma muito interessante, e que a gente vai acompanhando. Há ali um encontro de uma identidade, por isso, quando você falou da filosofia, eu logo pensei nesse filme, porque ali tem uma identidade, o sentimento de estar em um mundo, e de que mundo é esse, não é isso?
SK: Totalmente,. Na verdade, a filosofia serviu para mim e vai servir para sempre. O jeito como vejo cinema é isso, é como se fosse um lugarzinho no mundo.
MCB: E foi um filme bem sucedido, foi bem falado na época. Ele foi premiado?
SK: Ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou um prêmio importantíssimo na Hungria, e que para mim foi uma coisa muito bacana. Assim, a família, aquela família que aparece no filme estava vendo televisão, o Jornal Nacional, daí anunciaram esse prêmio, ele ganhou prêmio no Brasil. Até hoje é um filme que está vivo, as pessoas continuam me pedindo para ver, continuam escrevendo sobre ele, estudando esse filme, é incrível como a vida dele é longa.
MCB: No seu processo de criação, como se dá a escolha entre documentário e ficção? Porque depois você faz uma ficção, que é o Mutum.
SK: É engraçado, porque eu estou sempre na fronteira desses dois.Não é uma coisa clara, não é um negócio que eu sei de cara. Por exemplo, o Um Passaporte Húngaro era um documentário porque era uma busca e eu não sabia o que iria acontecer, eu poderia conseguir aquilo em uma semana, eu poderia nunca conseguir. Ao mesmo tempo, eu não queria saber coisas durante o filme, então eu lidei comigo mesma no filme como uma personagem, como eu lido com um ator em um filme de ficção, entendeu? De propósito, eu não quis saber mais que o filme sabia. Já o Mutum era de cara uma ficção porque eu iria adaptar uma história de um livro do Guimarães Rosa, mas aí o jeito como eu cheguei no filme foi completamente pelo documentário. Eu fui procurar no Sertão de Minas aquela história, que tinha sido escrita nos anos 50 e que ainda poderia acontecer hoje. E se ela fosse acontecer como ela seria, como seriam essas pessoas, onde elas morariam, então toda a minha busca foi uma busca pelo documentário.
MCB: Eu entrevistei duas pessoas envolvidas nesse projeto que foi a Ana Régis, que fez apesquisa de elenco local para você e a atriz
SK: Izadora.,
MCB: Izadora Fernandes, eu a entrevistei.
SK: Naquela época?
MCB: Não, foi depois, foi até aqui na Mostra de Cinema de Tiradentes, mas ela estava em outro filme. Como a entrevista é de perfil histórico, a gente falou bastante de como foi longa a sua pesquisa e o processo do trabalho, quando você partiu para fazer essa pesquisa no campo. O objeto tomou um outro tamanho para você ou era aquilo que você imaginava?
SK: O objeto, como você está chamando o filme, foi tomando outros tamanhos até o último dia,
MCB: Quando falo em objeto eu nem estou falando do filme, eu estou falando dessa questão que você buscava lá no sertão ainda.
SK: Ah, tá. Sim, eu sabia que isso iria acontecer, eu esperava que isso fosse acontecer, que essa viagem pelo sertão fosse também de um jeito, para mim, de entrar naquele mundo. Para mim, ao fazer um filme, eu tenho que estar em casa, naquele mundo do filme, o filme é um mundo, você cria um mundo quando você faz um filme, e um olhar. Daí que você, como diretor, tem que estar em casa naquele mundo, você tem que conhecer profundamente. Isso não quer dizer que eu tinha que conhecer o sertão profundamente, mas eu tinha que conhecer aquele mundo emocional, existencial, e físico também, de um jeito que eu me sentisse muito em casa nele. Então essa viagem é também uma portinha de entrada para mim, mas era também para eu poder entender porque eu queria fazer tanto aquilo.
Eu sabia e eu podia fazer aquele filme porque eu achava que eu conhecia muito bem aquele personagem, aquele jeito de ver a infância, como ele se sentia, eu sabia isso. Então o filme podia ser na lua que eu iria saber, mas eu tinha que descobrir esse filme. Isso foi um processo tão vivo, que ele não parou de rodar até o final, eu fazendo o filme e a gente reescrevia as cenas, porque você faz uma cena e aquilo recoloca as outras em perspectiva, que aquilo fica real, entendeu? E acho que o jeito que eu gosto de fazer cinema, e nesse aspecto eu me aproximo do documentário, não é aquela ficção toda já antes vista e toda pré-planejada. Eu sempre falava para eles, e no Campo Grande também eu falava, “Nós somos imperfeccionistas, a gente se prepara muito para chegar ali na hora e poder ver oacidente, ver o que a gente não esperava,
MCB: O Andrea Tonacci disse, no debate, que ele fica muito impressionado com roteiros tão fechados, o que, para ele, é como se fosse uma lápide. E que, assim, o filme pode até ser terceirizado, que não precisa muito de ter um diretor para fazer o filme porque o filme já acabou.
SK: Eu concordo plenamente. Eu acho que você fica até com preguiça, porque qualquer coisa que você faça nunca ficará tão bom quando já está todo planejado, vira uma coisa quase que burocrática, você ter que fazer um negócio que já está pensado completamente.
MCB: No filme, você apostou em atores que hoje estão aí. Tem o Rômulo Braga, que eu adoro, acho um grande ator. Tem um trabalho impressionante da Izadora Fernandes. Tem o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, o menino, que também é maravilhoso…
SK: O Thiago ( da Silva Mariz).
MCB: E teve esse risco também porque você apostava naqueles atores que não eram, vamos dizer assim, da vitrine nacional.
SK: É, mas eu pensava também assim, o jeito de escolher essas pessoas não é pelo físico, não é por nenhum fator externo, não é por ele já ser algum tipo de ícone, é por outra coisa, é pelo jeito deles, por quem eles são. Eu pensava que esse filme tinha que ser o encontro dessas pessoas com esses personagens, vão ser essas pessoas sendo esses personagens, não atuando. Então eles têm que se reconhecer nesses personagens, eles tem que ver alguma coisa de comum entre eles os personagens.
MCB: Eles conviveram durante um bom tempo…
SK: Muito, na verdade eles não leram o roteiro, entendeu?
MCB: No processo eram dois casais, não é isso, acho que a atriz Tina Dias estava.
SK: É isso mesmo.
MCB: A Tina Dias estava e eu não lembro qual o outro ator, mas eu lembro que era a Izadora, o Rômulo, a Dina e tinha mais um que eu não lembro.
SK: É porque eu tinha uma dúvida. Eu não queria atores famosos porque eu achava que aí você já vê aquele ator fazendo aquele papel, eu não queria muito isso, não queria que tivesse separação entre ator e quem não é ator. Então, por exemplo, tem o João Miguel, que na época não era tão famoso, e eu tinha dúvida; Será que o papel do pai, que o João Miguel faz, será que tinha que ser um não ator, um cara de lá? E aí fiquei na dúvida um tempo, porque também tem umas decisões que são tão engraçadas, elas tem a hora certa de você decidir, não adianta. Seria ótimo decidir só agora, mas você precisa decidir, precisa viver um processo para saber, não tem jeito, então eu fiz isso com eles, a gente fez algumas oficinas.
MCB: Tinha a Fátima Toledo.
SK: Tinha a Fátima Toledo. Teve uma oficina em que era misturado, atores e não atores, e que foi muito legal porque eu via como que um ajudava o outro, como que cada um chegava por um lugar completamente diferente. A Izadora, o próprio Rômulo, que era um ator mais iniciante, eles estavam em uma fronteira ainda, era muito bom para mim, para o que eu queria. Tinha uma abertura, a gente trabalhou como se a gente quisesse aprender o que a gente já sabia, para encontrar o jeito certo de fazer aquele filme.
MCB: O Mutum é de 2007, e é um filme que te colocou ao lado das grandesdiretoras contemporâneas, como Tata Amaral, Eliane Caffé. Esse filme te deu um reconhecimento muito grande, não é isso?
SK: Foi um filme que me trouxe muita felicidade, ele teve uma carreira muito bacana. Eleestreou em Cannes, ele foi para muitos festivais importantes, ele foi para Berlim um ano depois, o Thiago foi para Berlim, que foi uma coisa sensacional. Ele está vivo até hoje, ele continua sendo solicitado, ele continua passando, as pessoas continuam escrevendo sobre ele.
MCB: Não sei se você sabe disso, mas até a década de 1960 tem menos de dez mulheres que dirigiram longa-metragem no Brasil.
SK: Não sabia esse número.
MCB: Menos de dez, sendo que duas são italianas que vieram para o Brasil. A partir da década de 1970 esse número foi crescendo, e atualmente tem mais de 250. E tem uma geração muito forte, você, a Tata Amaral, Eliane Caffé, Carla Camurati, Laís Bodanzky.
SK: Interessante.
MCB: Não sei se você já pensou sobre isso.
SK: Você certamente tem uma visão muito mais elaborada sobre isso porque eu estou alifazendo e não tenho essa noção do todo. De uma maneira geral tem uma presença feminina em várias áreas, e antes era predominantemente masculina. É claro que eu via esse processo no momento em que eu comecei, lá atrás. Eu me lembro que eu comecei fazendo umas coisas na televisão, e eu era muito nova, uma menina chegar ali, eu era diretora, e todo mundo que eu tinha que comandar era mais velho que eu, era homem. E de pensar assim “E agora, como que vou me impor aqui nesse ambiente/”. Eu me lembro de ter 20 anos, eu sempre fui diretora, eu nunca fui galgando. E de pensar que não ia poder virar uma outra pessoa para poder virar isso aqui, que eu tinha que fazer do jeito que eu sou. Então eu sou uma menina, eu falo com essa vozinha, e eu vou ter que achar um jeito de me impor assim, eu não vou tentar falar de outro jeito, eu não vou tentar porque eu acho que na hora que você tentar ser outra coisa o próprio trabalho que você está fazendo perde a sua estrutura.
MCB: Vamos falar do Campo Grande, que é um filme que ainda não vi, que vai ser exibido aqui na Mostra ainda. Depois do Mutum é ele, não é isso?
SK: Eu fiz documentários, fiz coisas menores, mas é o longa seguinte.
MCB: Você quer citar alguns desses documentários, porque o registro aqui é histórico, se puder citar pelo menos os nomes
SK: Posso citar sim. Eu fui morar em Nova York e aí cheguei lá bem na época que teveaquela crise, em 2011, e, enfim, que mudou muita coisa. Foi para mim uma coisa interessantíssima ver aquele momento de crise, e eu fiz um filme que é um documentário em que acompanhei durante seis meses cinco personagens, todos em Nova York,vivendo essa crise, a vida deles mudando completamente, perdendo emprego, perdendo tudo.
MCB: Americanos ou brasileiros?
SK: Todos americanos. Era muito interessante para a gente que era brasileiro, que pelo menos cresce e se forma na crise e olhar para os Estados Unidos como aquele país seguro, em que a vida das pessoas é uma linha reta, e ver aquilo ali acontecendo naquele lugar. Então eu fiz esse documentário.
MCB: Como chama?
SK: Diário de Uma Crise. Fiz outras coisas lá, eu fui professora universitária, fiz uma carreira acadêmica paralela. Fui para Berlim como convidada, com uma bolsa DAD que tem para cineastas e lá eu desenvolvi um projeto de um filme que eu acabei não terminando e que era baseado em um livro, um clássico alemão chamado "Effi Bris". Não é muito conhecido aqui, é uma espécie de Madame Bovary alemã, um livro do final do século XIX. Enfim, desenvolvi projetos, mas o Campo Grande foi o outro grande projeto depois de Mutum.
MCB: Que é o recente.
SK: É, ficou pronto em 2015.
MCB: Fala um pouco sobre ele.
SK: você não sabe nada, não é?
MCB: Eu, normalmente, não leio nada antes de ver os filmes.
SK: Eu sou igualzinha, eu tento ver os filmes sem saber nada, e é difícil, às vezes. A ideia do Campo Grande já surgiu na época do Mutum, olha só que engraçado. Porque tinha uma cena no Mutum que vinha do livro, eu não inventei, em que a mãe dá o filho dela que ela ama pra um desconhecido, acreditando que está dando para o filho a oportunidade de uma vida melhor. Aqui no Brasil a gente conhece essas histórias e na hora de fazer a cena eu vi como aquilo era super complexo de entender por dentro, emocionalmente, e era também um gesto de amor. Quando acabou o Mutum eu fui fazer pesquisa em abrigos, e depois o que acontece com as crianças que são deixadas. Dali nasceu o Campo Grande. Ao mesmo tempo, o Brasil estava vivendo uma fase de muita transformação, o Rio de Janeiro, que é onde se passa o filme, estava um canteiro de obras absoluto. Se eu tivesse de definir o filme assim em uma frase eu diria que “porto seguro na vida assim não há”. O filme é todo assim, no momento em que sua vida não é mais o que era, mas ela também ainda não virou uma outra coisa, está no meio, e é transformação em todos os níveis. É no nível emocional, pessoal, existencial, no nível urbano, no nível das relações sociais. Então o filme é nesse lugar, é sobre isso.
MCB: Você acabou de dizer que ele nasceu do Mutum, mas você vê uma unidade?
SK: Você sabe que quando eu olho e vejo tudo o que eu já fiz, sempre que eu faço o trabalho seguinte parece que não tem nada a ver com o que eu tinha acabado de fazer. Às vezes é até radicalmente. Por exemplo, quando eu fiz o Mutum as pessoas falam “Mas a pessoa que fez o Passaporte Húngaro agora vai fazer esse filme?”. Enfim, já foram vários momentos assim. Mas quando eu olho com um pouco de distância, eu vejo uma linha, um denominador comum. Eu acho que, no fundo, eu estou sempre falando da mesma coisa, eu estou sempre falando de até um negócio que você falou, “maneira de estar no mundo”. Como que a gente consegue se fazer parte do lugar onde a gente está, entendeu?
Então no Campo Grande, quando o filme começa a ter duas crianças que são deixadas na frente de um prédio em Ipanema, uma área mais rica da cidade pela mãe, a mãe pede para eles esperarem que ela não irá demorar. Eles têm um papel com o nome e o endereço de uma mulher que mora ali. A mãe não volta e eles caem como um raio na vida dessa mulher. Ela, por sua vez, está lá com as questões da vida dela e esses dois mundos se chocam. Ela não consegue entender porque essas crianças estão ali. Aos poucos as coisas no filme vão se explicando, mas é bem uma situação sobre onde você está em relação ao mundo, que está em volta de você, entende? O Mutum é esse assunto também, como que ele se situa ali naquele ambiente, como ele encontra suas marcas. O Um Passaporte Húngaro é a sensação de você ser estrangeiro, não pertencer, quem pertence a onde? Todo mundo fala com sotaque. Aquelas cabines que eu falei lá atrás eram caixas pretas e as pessoas falando assim no meio do nada, como se estivessem em uma cápsula fora do mundo.
MCB: Então eu não estava maluco quando estava falando de identidade.
SK: Não, você resumiu melhor do que eu, porque você falou em uma frase.
MCB: Neste momento, você está acompanhando o lançamento do Campo Grande ?
SK: Estou. Ele começou a carreira em Toronto, aí Roma, Havana, Rio, São Paulo.
MCB: Eu me perdi em uma coisa, estou em dúvida e vou te perguntar de novo porque eu estou com receio de não estar registrado aqui. Na hora que a gente começou, você falou onde nasceu?
SK: Rio de Janeiro.
MCB: E continua morando lá, fora essas andanças?
SK: Estou de volta ao Rio. Já morei em muitos lugares, estou no Rio há dois anos de volta.
MCB: Agora para a gente encerrar, as únicas duas perguntas fixas do site: Qual o último filme brasileiro a que você assistiu?
SK: O último filme brasileiro a que eu assisti foi Boi Neon (2016, Gabriel Mascaro), eu vi na semana passada.
MCB: Eu sempre convido as entrevistadas a fazerem uma homenagem aqui. Qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você deixa registrado aqui como uma homenagem?
SK: Ai,nossa!
MCB: Uma que você goste, de qualquer área e de qualquer época.
SK: Olha, só você agora me pegou de surpresa.
MCB: Mas a intenção é essa mesmo, é quem vem ao coração.
SK: Quando você me fez a pergunta, o nome que me veio foi a Lúcia Murat. Porque teve uma época que eu acho que, por coincidências de percurso, nós fomos muito convidadas juntas para debates sobre a mulher no cinema. E aí eu acabei tendo a chance de conviver um pouco com ela e eu achei ela uma figura muito admirável. A história da vida dela, o jeito de ela fazer os filmes, como é que ela está sempre fazendo, sempre dando um jeito de fazer. E vai fazendo uma coisa e se ela não estiver conseguindo naquele dia ela vai conseguir no próximo. Eu admito isso pra caramba, porque eu acho que um dia, quando eu crescer, eu quero ser assim. Porque eu fico anos trabalhando naquele filme, tentando chegar o mais longe possível naquele filme, e aí demora muito tempo para fazer outro. Então assim, já que a gente está em uma coisa quase psicanalítica, eu estou te dizendo o que me veio à cabeça.
MCB: E ela trabalha com a questão da identidade.
SK: Também.
MCB: Ela veio um pouco antes, mas com a Retomada ela teve uma produção muito maior, por isso eu até situei ela entre vocês.
SK: É, você falou dela, ela conseguiu um lugar para ela ali.
MCB: Bom, é isso.
SK: Adorei conversar com você.
MCB: Eu também. Muito obrigado.
Foto: Léo Lara/Universo Produção.Entrevista realizada durante em janeiro de 2017 durante a 19a Mostra de Cinema de Tiradentes.

Veja também sobre ela