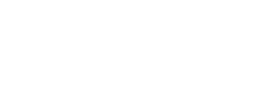Cláudia Priscilla
 A cineasta, produtora e roteirista Cláudia Priscilla nasceu em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1972. Graduada em Jornalismo, começou a carreira no cinema na área de assessoria de imprensa, desaguando depois na produção: “Daí, depois eu comecei a fazer a produção da Mostra do Audiovisual Paulista com o Chiquinho (Francisco César Filho) também, e daí o Kiko (Goifman, cineasta e marido) e o Jurandir (Müller) me convidaram para fazer a produção do Morte densa. Foi minha primeira produção de filmes de documentário”.
A cineasta, produtora e roteirista Cláudia Priscilla nasceu em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1972. Graduada em Jornalismo, começou a carreira no cinema na área de assessoria de imprensa, desaguando depois na produção: “Daí, depois eu comecei a fazer a produção da Mostra do Audiovisual Paulista com o Chiquinho (Francisco César Filho) também, e daí o Kiko (Goifman, cineasta e marido) e o Jurandir (Müller) me convidaram para fazer a produção do Morte densa. Foi minha primeira produção de filmes de documentário”.
Interessada em discutir sexualidade e personagens e histórias periféricas, que estão à margem, a cineasta surge em 2005: “O sexo e claustro foi assim. Queria muito explorar essa questão do catolicismo, da freira, e essa coisa do claustro. Dessa retirada da mulher da sociedade, de ir para um lugar e ficar sem contato. Essa questão feminina dentro da igreja também, porque a freira não é nada, a freira não vai virar papa, não vai virar bispo, ela não tem uma carreira a seguir dentro da igreja. Então era um assunto que estava me intrigando. A questão da sexualidade. Daí fui para uma coisa super-radical que era trabalhar com uma ex-freira lésbica”.
Casada com o cineasta Kiko Goifman, os dois têm carreira marcada por temas espinhosos. O longa Olhe pra mim de novo, sobre o universo de um transexual masculino, é a primeira direção conjunta, ainda que sempre trabalhem um no filme do outro: “Eu acho que a gente se contamina, nós temos um olhar, um interesse na vida muito parecido. O Kiko vem muito com a história de tabu, as questões dos tabus sociais. Já eu tenho muito mais uma relação com a questão da sexualidade”.
O personagem Sílvio Lúcio, de Olhe pra mim de novo, veio de seu encontro com um psiquiatra que trabalha com transgêneros: “Ele me falou que eu ia me deparar com um preconceito muito maior produzindo um filme sobre um transexual masculino. Na hora, eu pensei que era uma bobagem, que é tudo muito difícil, a vida dessas pessoas é muito difícil, elas não são aceitas e as pessoas ainda nem entendem direito o que é isso. Quando eu me deparei com o Sílvio, e depois com o Festival de Gramado, que foi uma porrada que a gente levou, eu percebi que sim, que a masculinização feminina é um grande problema para a sociedade. O corpo da mulher ainda tem um quê de sagrado, sabe? Da procriação, a mulher como um ser bom. Daí, quando essa mulher vai se encaminhando para uma masculinização, existe uma resistência muito grande”.
A cineasta, produtora e roteirista Cláudia Priscilla esteve na 15ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2012, para o lançamento de Olhe para mim de novo, que codirige com Kiko Goifman. Ela conversou com o site Mulheres do Cinema Brasileiro e falou sobre sua trajetória, os trabalhos de produção, os curtas que dirigiu, os longas, temas como sexualidade e outros.
Mulheres do Cinema Brasileiro: De início, sua origem, data de nascimento completa e formação.
Cláudia Priscilla: Eu nasci em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1972, e sou formada em Jornalismo.
MCB: Como aconteceu a passagem do jornalismo para o cinema? Já pensava na época na faculdade de Comunicação? Já era um desejo seu?
CP: Não, na verdade eu queria escrever e achei que ia poder escrever do meu jeito, o que eu quisesse. Daí eu fui trabalhar no Jornal da Tarde e vi que a realidade de um jornal é outra. Depois, fui fazer assessoria de imprensa com o Chiquinho, o Francisco César Filho, do filme Um céu de estrelas, da Tata Amaral. Foi minha primeira aproximação.
MCB: Em 1996?
CP: É. Minha primeira aproximação com o cinema. Depois eu continuei, fiz assessoria para oAtravés da janela, para o Festival de Curtas de São Paulo.
MCB: Quando foi isso?
CP: Foi no final dos anos 90, acho que foi em 97, 98 e 99.
MCB: Sim, porque Um céu de estrelas é de 96.
CP: É, então foi isso, acho que foi em 96, 97... Daí, depois eu comecei a fazer a produção da Mostra do Audiovisual Paulista com o Chiquinho também, e daí o Kiko (Goifman, cineasta e marido) e o Jurandir (Müller) me convidaram para fazer a produção do Morte densa. Foi minha primeira produção de filmes de documentário.
MCB: E como foi esse trabalho? Esse diálogo com o cinema, passando pela assessoria e agora já na produção?
CP: Eu não tive tantas dificuldades, porque produzir documentário é produzir pessoas, não é? Ir atrás de histórias. Isso tem muito a ver com perfis jornalísticos, com coisa que você vai investigar, então eu comecei a pesquisa de documentário. No caso do Morte densa, foi uma pesquisa bem difícil, porque tinha que achar assassinos de uma morte só, pessoas que só tinham matado uma vez na vida. Foi uma pesquisa em penitenciárias, em delegacias, pesquisas in loco. Fiquei um tempão no antigo Carandiru, vendo todos os arquivos, que ainda não eram digitalizados, então eram aquelas pastas enormes com os prontuários dos detentos. Essa transição para produzir documentário, claro, é diferente, tem um tempo diferente e uma profundidade diferente. Mas eu acho que isso namora um pouco com essa questão jornalística, com essa questão da pesquisa, de descobrir as coisas, de descobrir pessoas interessantes. Foi uma transição bastante desafiadora, mas eu estava ainda numa zona de conforto, da pesquisa.
MCB: Mas você já sentia, ali, que o caminho do cinema era inevitável?
CP: Quando eu tive essa questão com o jornalismo, eu já queria trabalhar com alguma coisa voltada para o cinema. Uma amiga minha, que tinha trabalhado com Francisco César Filho, me chamou pra fazer assessoria de imprensa. E foi aí que eu descobri também a assessoria, que eu já tinha feito antes, mas com essa delícia de trabalhar com coisas bacanas, com coisas em que eu acredito, que tinham que sair na mídia, sabe? Eu gostava muito do filme da Tata, então, não tinha aquela questão da assessoria de imprensa de ter que vender produto, não é? Basicamente isso. Você entra numa assessoria muito grande, eu já tinha trabalhado nisso e eu detestava. Daí foi um encantamento desde que eu entrei nesse universo do cinema. Depois que eu comecei a fazer a produção da Mostra do Audiovisual, já sabia que eu queria ficar nisso, eu queria trabalhar com cinema. Foi uma grande descoberta profissional. Eu acreditava também que a minha trajetória ia ser toda como produtora, que era uma zona em que eu estava muito feliz, e ainda faço isso, eu gosto.
MCB: Agora, é curioso, porque já lá na assessoria de imprensa, depois como produtora, há projetos ligados às questões da periferia, à questão da sexualidade mesmo, como por exemplo emUm céu de estrelas...
CP: Ah, eu acho que Um céu de estrelas tem uma influência muito grande, esse meu contato com a Tata. Como era o primeiro filme dela, o primeiro longa, ela tinha uma questão de lidar com o universo que ela entendia bem, que era o universo feminino. Assim, eu acho que de alguma forma isso me contaminou.
MCB: Mais até que periferia, na verdade, personagens periféricos, de histórias que estão à margem, nesse sentido que eu quero dizer. Isso vai pautar um pouco depois a sua trajetória.
CP: O Festival de Curtas também foi muito bacana, eu peguei uma época em que estavam o Marcelo Gomes, Hilton Lacerda, Lírio Ferreira, que hoje são meus amigos muito próximos. Eu os conheci trabalhando no Festival de Curtas, então isso também começou a abrir meu olhar para o cinema, para entender mais, aguçar mais o meu olhar para o cinema.
MCB: Antes de chegarmos à direção de curtas e longas, vamos explorar um pouco mais esse lado de produtora. Como disse anteriormente, você ainda estava numa situação de conforto, mas imagino que a cada projeto esse desafio ia aumentando, ou não? Ou ainda foi para você muito tranquilo?
CP: Não, o Morte densa tinha uma zona de conforto, mas foi desafiador. Num primeiro momento, eu nem me sentia apta para desenvolver. Porque o Morte Densa é um filme difícil, já peguei logo uma produção bem complicada, minha primeira produção. Depois veio o 33, que foi uma porrada. E comecei a fazer roteiro, fiz alguns curtas como produtora e roteirista: o Aurora, que é do Kiko Goifman e do Jurandir Müller; o Olhos Pasmados. Daí eu estava exercendo essas duas funções, de produção e de roteiro, geralmente. E aí vem o Atos dos Homens, do Kiko, o segundo longa dele, para o qual eu fiz a produção, mas eu fiz produção de mesa. Como ele fez na Baixada Fluminense e o Pedro, nosso filho, era muito pequeno, eu fiz a produção de mesa. Eu sempre fazia set também, esse foi o primeiro que só fiz mesa.
MCB: Então na verdade você foi para a produção, para o roteiro, assistente de direção, direção. O cinema te tomou de vez, não é?
CP: Tomou de vez. Desde que eu fui para a assessoria de imprensa, eu nunca mais voltei a exercer o jornalismo. Eu entrei mesmo de cabeça nessa história de cinema.
MCB: E como surgiu a diretora?
CP: A diretora foi em 2005. Eu queria fazer um filme sobre a questão da sexualidade feminina, coisas que eu acabo estudando, independente de fazer filme ou não. E daí me levam a escrever os projetos de filmes, sempre sobre temas que eu estou estudando ou estou ligada de alguma forma. O Sexo e claustro foi assim. E essas ideias de filmes ou de pesquisa sempre nascem, como eu sou casada com o Kiko, sempre acabam nascendo em casa, sabe? Queria muito explorar essa questão do catolicismo, da freira, e essa coisa do claustro. Dessa retirada da mulher da sociedade, de ir para um lugar e ficar sem contato. Essa questão feminina dentro da igreja também, porque a freira não é nada, a freira não vai virar papa, não vai virar bispo, ela não tem uma carreira a seguir dentro da igreja. Então era um assunto que estava me intrigando. A questão da sexualidade. Daí fui para uma coisa super-radical que era trabalhar com uma ex-freira lésbica.
MCB: E essa pesquisa da sexualidade? Ela é feita de que forma? Em nível acadêmico ou já pensando nos filmes? Ou é um outro projeto paralelo?
CP: É, pensando em filmes. Por exemplo, a transexualidade que eu trabalhei no meu segundo curta, que é o Fedra, e no meu segundo longa, que é o Olhe pra mim de novo. Apareceu quando eu estava fazendo o Sexo e claustro. Eu conheci a Regina, das Católicas pelo Direito de Decidir, a gente estava conversando e foi ela que me apresentou a Maria del Pilar, que é a personagem do filme, uma mexicana. Ela estava me contando que tinha um amigo na Argentina que era um transexual. Eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda, e a Regina falou que a gente tinha que repensar essa questão de gênero, porque agora as pessoas já têm uma liberdade de escolher o gênero que elas querem exercer na vida. Isso ficou martelando na minha cabeça. Acabou o Sexo e claustro, eu comecei a estudar essa coisa da transexualidade, e fiz o Phedra.
Mas é assim, os temas sempre nascem abertos, é na pesquisa que eu encontro o personagem. Então a Phedra, eu já conhecia, a Phedra de Córdoba, ela já tinha feito um trabalho com o Kiko e a gente tinha uma amizade. Mas a pesquisa não começou em função da Phedra, começou em função de uma informação que eu tive lá atrás. Quando essa ideia já estava mais maturada, achei que a Phedra era perfeita para esse curta. A Phedra exerce uma performance urbana diária, ela sai de casa, ela usa roupas extravagantes, o cabelo, a maquiagem... E daí eu aliei essa coisa da transexualidade com a questão da performance urbana, que eram também dois assuntos que me interessavam muito. Mas sempre nasce disso, de alguma conversa. No Olhe pra mim de novo foi meu psicanalista, ele começou a trabalhar no Projeto Genoma e a gente estava conversando sobre isso. Virou um corpo multidisciplinar e ele era um dos psicanalistas que estavam envolvidos nessa questão. A gente começou a conversar sobre isso e eu fui pesquisar a bioética, uma nova ética que começou a surgir diante dessas descobertas científicas. Aí me apaixonei pelo tema e toda a pesquisa do Olhe pra mim de novo vem por conta dessa pesquisa da bioética.
MCB: Agora, é curioso, porque você e o Kiko são casados, mas na carreira cinematográfica, independentemente de elas estarem juntas ou separadas, são sempre temas espinhosos, não é?
CP: São.
MCB: Dos dois, não são temas fáceis.
CP: Não são. É, lá em casa ninguém gosta de coisa fácil não (risos). Ah, meu filho quer ser palhaço, o negócio continua (risos).
MCB: Vocês falam sobre isso? Os temas de vocês são todos temas periféricos, no sentido de marginalidade, não é o discurso oficial, não são personagens do mundo oficial. Você já tinha pensado sobre isso?
CP: Já. A gente sempre trabalha um no filme do outro, a gente sempre está junto. Só que agora foi a primeira vez que dirigimos juntos. Eu acho que a gente se contamina, nós temos um olhar, um interesse na vida muito parecido. O Kiko vem muito com a história de tabu, as questões dos tabus sociais. Já eu tenho muito mais uma relação com a questão da sexualidade. Mas os temas se encontram e se casam, pois a gente sempre está junto nos projetos, criando, conversando. A gente vive 24 horas por dia juntos, a gente trabalha, mora junto, então o trabalho e a vida doméstica são coisas que já se misturaram na nossa vida. Falar de trabalho em casa é uma coisa muito normal e muito prazerosa, como a gente consegue fazer os nossos filmes autorais, considerados autorais. É um grande prazer essa troca de experiências e de olhar sobre um tema. A gente não tem uma linha que divide a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal e afetiva, está tudo num conjunto. O Pedro, agora entrando também, começou a ver algumas coisas nossas, que a gente já fez, vem para festival. Então nós não temos essas duas zonas divergentes, realmente construímos uma vida única, profissional e emocional. A gente fala de cinema 24 horas, como também falamos de problemas domésticos, educação de filho, questões familiares. Mas é assim, o cinema está presente na nossa vida diariamente.
MCB: E como surgiu o Leite e ferro, seu primeiro longa como diretora?
CP: O Leite e ferro veio da minha experiência pessoal, que foi o nascimento do Pedro. Eu estava questionando muito essa questão da maternidade, essa questão da necessidade que as mulheres têm de falar “nossa, foi o período mais incrível da minha vida a gravidez”. Realmente para mim não foi. O período mais bacana foi a amamentação, eu estava realmente apaixonada por essa questão da amamentação. Daí, eu estava lendo algumas coisas e cheguei a um lugar que se chama CHAMP, e que foi extinto agora, o Centro de Atendimento Hospitalar à Mulher Presa. Era uma instituição onde ficavam até 100 mulheres em fase de aleitamento, durante quatro meses com os bebês. Então era uma cadeia, só que com menos tranca, não é? Os quartos ficavam abertos e só tinha a tranca do corredor, e elas ficavam presas com os bebês. Eu conheci a Heide (Ann Cerneka), que é (Coordenadora) da Pastoral Carcerária e que me levou a esse lugar. Eu fiquei encantada. Encantada não é a palavra, eu fiquei intrigada com aquela situação. O que me levou a fazer esse filme foi essa minha experiência de ter filho. Foi assim, eu queria ter o Pedro, tinha casa, tinha um marido, essa experiência foi perfeita, exemplar nesse sentido, sabe? Não foi um susto ter o Pedro, nada disso. E aquelas mulheres estavam vivendo uma situação, recém-paridas com o seu bebê, uma situação muito desconfortável, uma situação limite, tanto física, pelo espaço, como emocional. Então me interessava ver como essa mesma situação era vivenciada de uma maneira completamente diferente. E é tão completamente diferente, que durante o processo eu comecei a sentir culpa de voltar pra minha casa, sabe? Do Pedro estar lá, do Pedro ter escola, sabe? De ter uma vida confortável nesse sentido.
MCB: E além dessa relação pessoal que você estava vivendo naquele momento, havia também as presas, que tinham a ver com esses outros personagens que você já havia focalizado lá atrás, não?
CP: É, as mulheres de novo, meu universo, de novo. Só que o Leite e Ferro era para ser um filme sobre a instituição. Durante a pesquisa, eu fui durante dois meses lá, diariamente conversando. No primeiro momento, fazendo entrevista com cada uma, cada uma das mulheres que queriam participar do filme. Depois, eu fiquei lá no cotidiano. A primeira pessoa que eu entrevistei foi a Luana, a personagem que conduz o filme. Eu fiz duas perguntas e ela falou durante duas horas. Ela é extremamente carismática, tem uma história de vida, foi dona de um morro, foi uma grande traficante, fez assalto a banco. Só que ela vem de uma época de crime que ainda tinha um romantismo, sabe? A gente conversando, ela falou assim: “Eu jamais assaltaria um velhinho saindo do banco, que pegou a aposentadoria, isso num cabe, sabe?”. Ela era chamada de tia Robin Hood na favela. É um tipo de crime que também já passou. Então, ele tem esse lado da Luana, e era a segunda vez que ela estava tendo um filho nessa situação, no cárcere. Então ela sabia muito daquilo, já era a segunda experiência ali.
MCB: Falando agora no filme atual, o Olhe pra mim de novo. O Silvio Lúcio é o personagem mais difícil no qual você mirou sua lente ou a dificuldade esteja talvez na recepção dele para o público? Como é e como foi encontrar esse personagem?
CP: Eu não acho ele difícil não. As minhas personagens são bem domáveis. A Phedra foi, a Phedra não foi fácil dirigir (risos). A Pilar também é uma pessoa com muita personalidade. Minhas personagens não são muito fáceis de dirigir não e o Silvio não fugiu à regra. O Silvio apareceu dentro dessa pesquisa que a gente estava fazendo, que é essa questão de discutir novas famílias, a questão da bioética, a questão da genética. O Silvio Lúcio não é uma coisa que cabe perfeitamente dentro de uma discussão genética, mas também cabe, não é? Então a Flora Laueta, que é a nossa pesquisadora e produtora de set, achou o Silvio e eu comecei a conversar com ele pelo telefone. Era para ele ser parte do filme, como existem aqueles outros personagens periféricos, ele seria um deles. Só que daí, conhecendo e conversando, e o Silvio fala muito bem, conta muito bem, eu fui me encantando com ele, com a história dele. E aí ele tomou o filme. Na verdade, fomos tomados pelo Silvio, e daí essa vontade de tirar o Silvio de um lugar, não é? De uma zona dele, de conforto. Tanto é, que no começo do filme ele está cercado de gente, ele está bem mais confortável. Nós tiramos o Silvio do lugar dele e fomos para a estrada, fomos fazer o filme juntos. Ele ia na van com a gente, ele entrou como parte da equipe, foi um risco muito grande que a gente correu, porque podia ter dado uma merda, brigado, tal, mas foi muito bacana. Eu acho que lá em Pacatuba ele era uma pessoa mais resistente. No filme, o Silvio está muito humanizado, e eu acho que tem muito a ver com o processo de filmagem. Porque ele é um militante, não é? Ele exerce cargos políticos, ele tem o dom da oratória, ele é muito preparado. Ao tirá-lo de seu local e levá-lo para a estrada, a gente deu uma desconstruída nesse personagem. Isso foi muito, muito bacana.
MCB: E como fica o Silvio nessa sua pesquisa de personagens femininos na tela? Você tem uma ex-freira lésbica, você tem a presa que está amamentando, e aí vem o Silvio, que está num processo de mudança de sexo, negando, inclusive, essa feminilidade, virando homem, é um transexual.
PC: Quando iniciei minha pesquisa sobre transexuais, eu só estava trabalhando, pesquisando e conversando sobre transexuais femininos, que é muito mais comum, não é? Eu tenho uma amiga que é. Quando começou esse trabalho de pesquisa já com um personagem definido, eu fui ao Hospital das Clínicas e conversei com o psiquiatra que cuida dos transgêneros. Ele me falou que eu ia me deparar com um preconceito muito maior produzindo um filme sobre um transexual masculino. Na hora, eu pensei que era uma bobagem, que é tudo muito difícil, a vida dessas pessoas é muito difícil, elas não são aceitas e as pessoas ainda nem entendem direito o que é isso. Quando eu me deparei com o Silvio, e depois com o Festival de Gramado, que foi uma porrada que a gente levou, eu percebi que sim, que a masculinização feminina é um grande problema para a sociedade. O corpo da mulher ainda tem um quê de sagrado, sabe? Da procriação, a mulher como um ser bom. Daí, quando essa mulher vai se encaminhando para uma masculinização, existe uma resistência muito grande.
MCB: Mas há uma violência atual também quanto aos masculinos. Aí não estou falando dos transexuais, mas dos homossexuais. Por exemplo, os gays mais masculinizados estão, de certa forma, mais integrados. Só que há uma violência muito grande com as “bichinhas”, com os chamados “viadinhos”, não?
CP: Com certeza. Agora a gente vive em São Paulo crimes homofóbicos seríssimos, de pessoas morrerem, serem hospitalizadas. Eu acho que nos últimos dez anos de direitos humanos, a questão da homossexualidade e o movimento LGBTT foram os que mais ganharam visibilidade, e as pessoas conseguiram mais direitos sociais como cidadãos. Então, eu acho que como existiu essa entrada maior na sociedade, também tem uma contrapartida, pois vem o pessoal mais radical para querer barrar isso. Acho que faz parte de um movimento social, e como eles entraram, existem os radicais que estão querendo expulsar de volta.
MCB: E mesmo dentro dos grupos, por exemplo...
PC: Ah, mesmo dentro.
MCB: Os gays, por exemplo, têm pouca paciência com a chamada “sapatão”.
PC: É, e os gays não gostam das “bichinhas qua quá”.
MCB: Como se as conquistas de hoje não fossem resultado dessas “bichinhas” que deram a cara para bater, não é? Os transexuais, os travestis. Hoje, parece que para ser gay tem que ser machinho, tem que ser bombado. Quando, na verdade, a gente tem que ser o que a gente quiser, não é?
PC: Com certeza.
MCB: Você se depara com isso nas suas pesquisas?
PC: Os travestis sofrem muitos preconceitos, acho que também por ter sido um movimento muito marginalizado. Eles foram se acomodando e formando grupos, grupos de identificação. Então é assim, bar dos “ursos”, bar das “bichas velhas”, bar das “sapas”. Fora do Brasil eu vejo uma segmentação muito maior, lugares exclusivistas desses grupos. No Brasil acho que é tudo mais misturado, como tudo, o que eu acho mais bacana. Mas por exemplo, uma mulher... Eu como mulher não gosto de “perua”, não gosto de “patricinha”, que são mulheres. Eu acho que é péssimo esse tipo de preconceito, mas é bom a gente viver numa sociedade em que não existe só um tipo de gay, só um tipo de mulher, só um tipo de macho. É claro que por ser um grupo que ainda sofre muito opressão, isso é muito mais exacerbado, mas eu acho que as mulheres também têm preconceitos. Eu acho que nessas questões do ser humano, o outro é sempre o pior, não é? As pessoas sempre olham o outro com uma certa desconfiança. Mas eu acho que isso é em tudo. Acho que não é uma questão só de orientação sexual, acho que agora está mais aparente. O que eu acho que tem muito a ver com essa questão da orientação sexual são esses crimes que estão acontecendo agora, isso me preocupa muito. Incrível se pensar que nos anos 2000, na Avenida Paulista, alguém pode morrer porque encontrou um grupo de skinheads. É uma conjunção de coisas impensáveis, não é? Skinheads no Brasil, e morenos! Oriundos do Nordeste... Você fala "o que é isso?" A gente se apropria de umas cultuas muito erradas, às vezes."
MCB: Seu cinema é muito marcado por personagens femininos. Você acredita, concorda ou discorda da questão controversa do olhar feminino no cinema? Para você existe um olhar feminino no cinema?
CP: Ah, é difícil responder a isso. Eu acho que tem um olhar de diretora assim. Eu acho que pode se pensar num olhar feminino, pensando na questão cultural. Certamente eu fui criada para ser uma mulher, eu tive uma criação para casar virgem, nada deu muito certo comigo, não é? (risos). Eu não virei o projeto dos meus pais, mas eu acho que existe uma criação que é tendenciosa de você ser uma mulher ou você ser um macho. Socialmente é isto: a mulher tem que preservar mais o corpo, o homem tem que comer. Eu acho que existe isso assim. Eu acho que isso acaba direcionando o nosso olhar para coisas diferentes, mas eu não vejo mais, hoje em dia, uma diferença muito grande entre homem e mulher. Na verdade, eu estou falando do meu universo, não que não tenha isso socialmente, tem, mas, pessoalmente, eu não vejo assim. Eu tento exercer isso com a educação do Pedro, por exemplo. Ele sempre vestiu cor-de-rosa desde bebê e eu acho bom. Hoje ele está com uma camiseta cor-de-rosa, eu acho massa, sabe? Essa discussão do não estereótipo. O meu projeto agora é com o Laerte. Ele começou a se vestir de mulher e, daí, tem uma tirinha em que o personagem vai para escola, onde as meninas usam rosa e os meninos usam azul. Daí, tem os bebês com umas camisetas amarradas, como se fossem camisas de força. Então eu acho que tem umas questões, por exemplo, como a maternidade, que é um segredo feminino, acho que há questões femininas sim.
MCB: Mas você consegue reconhecer isso no cinema brasileiro? Você consegue ver isso no seu cinema, tipo “Ah, isso aqui é um olhar feminino”. Você consegue ver isso?
CP: Eu acho meu cinema muito feminino, embora ache que eu tenha um lado masculino bem pesado, um olhar às vezes bem mais masculino. Eu acho que tem, porque é o que a gente conversou antes. É o meu universo, então passo por experiências assim. Por exemplo, a amamentação é uma experiência que eu já tive, então acho que se fosse um homem que fizesse, talvez seria diferente. Acho que uma mulher trabalhar com temática feminina pode ter um peso maior desse olhar. Mas eu não sei... Eu estou neste momento, nesse próximo trabalho com o Laerte, essa questão do travestismo dele. A gente estava conversando muito sobre essa questão, o que aconteceu com o feminismo, as mulheres se apropriaram de tudo, do guarda-roupa masculino, das posições, pode ser diretora de uma empresa. E o que aconteceu com os homens? Nada, eles usam o mesmo guarda-roupa, não se apropriaram de nada que seja feminino, eles ocupam a mesma função, geralmente a mesma função dentro de casa que é a do provedor, sabe? Eu acho que as mulheres já se aproximaram muito do universo masculino. Eu acho que talvez os homens não... Eu acho que a gente já se apropriou muito dessa questão masculina, do vestuário. Hoje a mulher dirige filme, dirige empresa, mas eu acho que para temas femininos, um olhar feminino, eu acho que pode ter uma delicadeza maior, uma sensibilidade maior.
MCB: O momento agora é de cuidar do Olhe pra mim de novo?
CP: O momento é de cuidar do Olhe pra mim de novo, porque ele vai para festivais e a gente deve lançar no final do ano. Agora eu estou em produção do meu próximo curta, que é com o Laerte.
MCB: E como está a recepção do público pro Olhe pra mim de novo?
CP: Então, aqui foi ótimo. Em Gramado, a gente teve uma surpresa muito ruim, um ataque, mas foi um problema com a crítica, não é? Foi na coletiva de imprensa que o Silvio Lúcio foi atacado pessoalmente. A questão não era nem o personagem, era a pessoa ali, acho que isso foi muito incômodo para toda a equipe, principalmente para ele. Mas com o público, mesmo em Gramado, depois que a gente saiu da coletiva, estava havendo uma outra sessão, super jovem, direcionada a adolescentes e jovens. E quando a gente saiu para almoçar, muitas dessas pessoas vieram tirar fotos com o Silvio. Aqui com o público foi muito bacana, no Rio também. Eu acho que é um filme que causa uma estranheza e um certo incômodo, porque o tema não é fácil, o tema não é uma coisa que ainda está absorvida totalmente pela sociedade. Mas eu acho que de um modo geral ele está indo muito bem, as pessoas estão sendo bastante receptivas. Eu acho que a gente conta com muito carisma, o carisma do Silvio Lúcio, sabe? Ele é uma pessoa extremamente carismática, extremamente inteligente, então eu acho que tem um personagem muito forte aí.
MCB: E fora que, vendo o filme, não é como se pinta, o diabo não é como se pinta, não é?
CP: Pois é, eu jamais faria um filme machista, entendeu?
MCB: Claro. O Kiko falou uma coisa interessante no debate: "Porque também tem isso na cabeça das pessoas, por ser um transexual, ele tem que ser politicamente correto, tem que ser óbvio, por que não pode ser machista?” Uma coisa é o filme, outra coisa é o personagem, não é?CP: Pois é, tem a expectativa de ser exemplar. Essa pessoa tem que ser exemplar, como se ele escolhesse, como se não tivesse sempre se sentido homem. É uma falta de informação pensar que uma pessoa assim, aos 40 anos, que vai mudar seu gênero, se vestir como um homem, se portar socialmente como um homem... Eu, hoje, com 39 anos, vim construindo uma identidade feminina. Ele está começando a construir essa identidade social masculina. E o que é o homem? O homem é uma construção dentro de onde ele vive, é o macho do sertão, é o macho sim, é o comedor sim, é isso que é. E o transexual é uma reprodução disso, não é? Assim, se veste disso, se apropria disso, para depois encontrar o caminho. Quando eu estava fazendo o Phedra, eu estava conversando com um médico que é de São José do Rio Preto, que foi um dos primeiros lugares, um hospital escola, em que eles começaram a fazer essa operação de graça. Daí, ele falou que se eu estivesse esperando que essas transexuais femininas fizessem uma revolução eu estava muito enganada, porque elas viram senhoras de tomar chá das cinco, elas usam salto agulha. A descoberta da feminilidade vem disso, do salto agulha, da saia, do tailleur, coisas que não se usam muito mais. Eu acho que a condição masculina também vem disso, por um momento chega até ser óbvio e estereotipado, mas eu acho que é uma construção que vem, que vai caminhando e vai se encontrando daquilo. Mas eu acho que quando o Silvio Lúcio começa a se portar como homem, ele quer ser muito homem, muito macho.
MCB: O projeto do Laerte está em que fase?
CP: A gente já começou, é meu e do Pedro Marques, o montador e fotógrafo do Olhe pra mim de novo e do Leite e ferro. A gente já tem uma parceria há um tempo. É uma ficção, só que a gente partiu da premissa de fazer entrevistas com o Laerte antes, para em cima dessas entrevistas fazer um híbrido. Tem um pouco da vida do Laerte, mas com ficção também nisso.
MCB: Agora, pra terminar, as únicas duas perguntas fixas do site: qual o último filme brasileiro ao qual você assistiu?
CP: Brasileiro? Foi a sessão de curtas de ontem, aqui, foram os três curtas que eu vi ontem.
MCB: Sem ser na mostra, você se lembra?
CP: Foi O palhaço (de Selton Mello).
MCB: E qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você quer registrar na sua entrevista como uma homenagem?
CP: Tem tantas mulheres incríveis no cinema nacional... Deixe pensar, porque nessa você me pegou. É a Tata Amaral. Ela teve um peso muito grande nas minhas decisões, é uma pessoa que profissionalmente eu respeito muito e é uma grande amiga. Eu brinco que a Tata faz parte da minha família estendida. Ela é uma grande referência na minha vida.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
*Depois dessa entrevista, Cláudia Priscilla concluiu o curta O vestido de Laerte, sobre o cartunista Laerte, e que ela comenta aqui.
Entrevista realizada durante a 15a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2012.

*Depois dessa entrevista, Cláudia Priscilla concluiu o curta O vestido de Laerte, sobre o cartunista Laerte, e que ela comenta aqui.
Veja também sobre ela