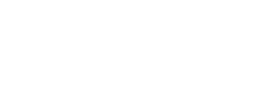Viviane Ferreira
 Talentosa, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que chegaram à direção de longas no Brasil. O interesse pelo audiovisual se deu na infância. “Veja bem, eu sou uma pessoa despertada para a linguagem do audiovisual pela televisão, então eu me lembro que no Coqueiro Grande, bairro em que eu nasci, lá em Salvador, eu assistindo TV e, um dia de manhã, tinha tarefa doméstica. Eu ajudei minha tia a limpar o tanque, ela usava anil, agora o reservatório de água é de outra forma, mas se usava anil para o processo de tratamento da água, e o anil deixa a água toda azulzinha como o céu. No mesmo dia eu assisti ao filme A Lagoa Azul, e tudo era bem bem azul, daí eu fiquei pensando “Porra, os caras colocaram anil no mar para fazer o filme? Quanto de anil esses caras colocaram aí?” E aí eu comecei a pensar sobre o processo de fazer, e sou falastrona, então eu falava muito “Minha mãe, os caras colocaram anil naquele filme, será que foi anil ou será que não?”. Naquele mesmo período, vendo “A Família Buscapé”, tem um momento que o petróleo jorra lá no fundo do quintal da família e aí mudando a vida de todo mundo. E eu fiquei naquela coisa de “Como é que você acha petróleo no país” Como que eles fizeram aquela porra de petróleo jorrar no filme?”. Então foram produções populares assim que me fizeram olhar para o audiovisual com curiosidade.
Talentosa, a cineasta Viviane Ferreira é uma das poucas mulheres negras que chegaram à direção de longas no Brasil. O interesse pelo audiovisual se deu na infância. “Veja bem, eu sou uma pessoa despertada para a linguagem do audiovisual pela televisão, então eu me lembro que no Coqueiro Grande, bairro em que eu nasci, lá em Salvador, eu assistindo TV e, um dia de manhã, tinha tarefa doméstica. Eu ajudei minha tia a limpar o tanque, ela usava anil, agora o reservatório de água é de outra forma, mas se usava anil para o processo de tratamento da água, e o anil deixa a água toda azulzinha como o céu. No mesmo dia eu assisti ao filme A Lagoa Azul, e tudo era bem bem azul, daí eu fiquei pensando “Porra, os caras colocaram anil no mar para fazer o filme? Quanto de anil esses caras colocaram aí?” E aí eu comecei a pensar sobre o processo de fazer, e sou falastrona, então eu falava muito “Minha mãe, os caras colocaram anil naquele filme, será que foi anil ou será que não?”. Naquele mesmo período, vendo “A Família Buscapé”, tem um momento que o petróleo jorra lá no fundo do quintal da família e aí mudando a vida de todo mundo. E eu fiquei naquela coisa de “Como é que você acha petróleo no país” Como que eles fizeram aquela porra de petróleo jorrar no filme?”. Então foram produções populares assim que me fizeram olhar para o audiovisual com curiosidade.
O contato mais de perto se dá na adolescência. “Tá, talvez o cinema tenha surgido primeiro (ela também é advogada), considerando que eu fiz comunicação interativa aos 15 anos, dos 15 aos 17 eu estava na Cipó (Cipó - Comunicação Interativa). A relação com o Direito só surge no período do vestibular, que culmina com o mesmo período em que os movimentos negros estavam fazendo debates sobre políticas afirmativas, se é constitucional ou não, e aí eu começo a pensar sobre a importância de ter mais pessoas negras no meio jurídico para conseguir contribuir com a demonstração da constitucionalidade das políticas de ações afirmativas”.
Interessada nas lutas coletivas, Viviane Ferreira tem atuação efetiva no ativismo negro. “Eu nunca tive a possibilidade de não saber que era preta, entende? Minhas famílias são pretas, pretas, pretinhas, e esse lugar da autoestima no seio familiar sempre foi muito comum, muito corriqueiro. Eu não tenho a trajetória da pessoa preta que se descobriu preta depois de, não, eu realmente sempre soube. Na minha família não era uma questão ser preta, eu acho que era até um dado interessante, porque eu venho para o mundo sem essa questão, eu acho que eu caibo em qualquer lugar, então não tem o rolê do pudor, do experimentar, do arriscar, porque é isso, na minha família isso sempre esteve dado. Agora, também sempre teve uma consciência daqueles que querem restringir esses espaços, como a gente precisava estar preparado para isso, para responder a isso, mas nunca tive um direcionamento de viver em função do olhar deles”.
Depois de dirigir o primeiro curta em 2008, Dê sua ideia, debata, e realizar vários outros, ela estreou com diretora de longas com o belo Um dia com Jerusa. Que primeiro foi um curta, protagonizado pela atriz Léa Garcia. “O curta veio de um lugar que foi um encontro cotidiano, eu falo isso. Eu estava no ponto de ônibus e uma senhora estava falando mal da própria família, que era aniversário dela e essa coisa toda, blasfemando. Eu não estava afim de participar porque eu estava ouvindo Caetano (Veloso) e não estava prestando atenção, eu estava ignorando. Diante da minha ação de ignorar, ela parou, sentou lá e começou a chorar, mas um choro contido, um choro em silêncio, um choro com a expectativa de não me incomodar. Aquilo me bagunçou toda, eu peguei o ônibus e fui embora para outro lugar. O destino era errado, inclusive, o ônibus que eu peguei, e eu não consegui dormir duas noites pensando naquilo”. Viviane Ferreira esteve na 23a Mostra de Cinema de Tiradentes para o lançamento de O dia com Jerusa e conversou com o Mulheres do Cinema Brasileiro. Na entrevista, ela fala sobre a sua formação, o interesse pelas lutas coletivas, o filme Um dia com Jerusa, o contato com a atriz Léa Garcia, e muito mais.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começar, seu nome, cidade onde nasceu, data de nascimento e a formação.
Viviane Ferreira: Sou Viviane Ferreira, nasci em na Bahia, Salvador, sou cineasta. MCB: Você é cineasta e também advogada, não é isso?
VF: Também sou advogada. MCB: O que surgiu primeiro, o desejo pela advocacia ou pelo cinema?
VF: Não houve um desejo assim... Tá, talvez o cinema tenha surgido primeiro, considerando que eu fiz comunicação interativa aos 15 anos, dos 15 aos 17 eu estava no Cipó (Cipó - Comunicação Interativa). A relação com o Direito só surge no período do vestibular, que culmina com o mesmo período em que os movimentos negros estavam fazendo debates sobre políticas afirmativas, se é constitucional ou não, e aí eu começo a pensar sobre a importância de ter mais pessoas negras no meio jurídico para conseguir contribuir com a demonstração da constitucionalidade das políticas de ações afirmativas.
MCB: E isso se torna prático para você, porque você, inclusive, preside associação sobre essas questões todas, a questão da negritude. Você tem uma ação efetiva nesse campo para além da artista.
VF: Sim, da militância do movimento de mulheres negras que me fazem olhar através das técnicas jurídicas, para a ciência jurídica como ferramentas importantes para a gente constituir nosso lugar de cidadania. Também me permitiram olhar para o campo do audiovisual e identificar que, no cotidiano do cinema, essas ferramentas também operam. E como a gente precisa disputar a operação dessas ferramentas de uma maneira que elas possam ser cada vez mais inclusivas, garantidoras de direito mesmo. Nesse sentido, o meu espaço de atuação é a APAN, Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, organização que fundamos em 2016, exatamente com esse propósito de entender como as políticas de ações afirmativas podem ser ferramentas para garantir uma permanência e garantir uma possibilidade que pessoas negras possam existir cinematograficamente no Brasil. E, nessa seara, a gente vai tentando discutir, destrinchar e entender as ferramentas, tanto no campo da nacionalidade pública, quanto no mercado da institucionalidade privada.
MCB: Você falou que o cinema veio lá dos 15 anos, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse seu momento, essa sua trajetória no cinema.
VF: Veja bem, eu sou uma pessoa despertada para a linguagem do audiovisual pela televisão, então eu me lembro que no Coqueiro Grande, bairro em que eu nasci, lá em Salvador, eu assistindo TV e, um dia de manhã, tinha tarefa doméstica. Eu ajudei minha tia a limpar o tanque, ela usava anil, agora o reservatório de água é de outra forma, mas se usava anil para o processo de tratamento da água, e o anil deixa a água toda azulzinha como o céu. No mesmo dia eu assisti ao filme A Lagoa Azul, e tudo era bem bem azul, daí eu fiquei pensando “Porra, os caras colocaram anil no mar para fazer o filme? Quanto de anil esses caras colocaram aí?” E aí eu comecei a pensar sobre o processo de fazer, e sou falastrona, então eu falava muito “Minha mãe, os caras colocaram anil naquele filme, será que foi anil ou será que não?”. Naquele mesmo período, vendo “A Família Buscapé”, tem um momento que o petróleo jorra lá no fundo do quintal da família e aí mudando a vida de todo mundo. E eu fiquei naquela coisa de “Como é que você acha petróleo no país” Como que eles fizeram aquela porra de petróleo jorrar no filme?”. Então foram produções populares assim que me fizeram olhar para o audiovisual com curiosidade. E nessa dinâmica da curiosidade, eu digo que a minha mãe tem uma participação muito importante nisso, porque minha mãe é uma figura muito sonhadora, minha mãe sonha a cada segundo. Ela ensinou a gente a sonhar assim de verdade, e tudo que eu quis experimentar na vida, eu experimentei. Chegou um momento lá que eu queria ser artista plástica e minha mãe comprou a tela e a tinta, e aí eu pintei um quadro só e desisti do negócio, sabe, mas ela garantiu a ferramenta. Teve um momento que eu quis ser cavaquinista e minha mãe garantiu o cavaquinho.
Quando eu quis descobrir como é que se fazia filme, ela também me garantiu o curso, ela foi lá e descobriu a Cipó e me disse “Faz a seleção que lá tem um curso de TV e Vídeo, e lá você vai descobrir como que a lagoa fica azul”. Tudo isso foi fundamental para me colocar cara a cara com a possibilidade de fazer cinema, de fazer audiovisual, e na Cipó era muito legal porque éramos todos adolescentes e tínhamos a possibilidade de circular, era aquela formação rodízio, sabe. Eu sou apaixonada por formação rodízio, em que você consegue experimentar um pouquinho de cada coisa e entender a importância de cada uma dessas coisas no processo. Foi quando eu estive em frente de uma câmera pela primeira vez e pude entender como que uma câmera funcionava, pude ver um estúdio de montagem pela primeira vez, entender a relação de luz e corpos pela primeira vez, e me apaixonei por isso.
Eu me lembro que chegou um momento em que eu não queria, necessariamente, fazer cinema, eu queria produzir câmera, fiquei tão encantada com o dispositivo mecânico da câmera, que eu queria produzir a câmera. É um negócio que me chama atenção ainda hoje, de pensar no processo de criação do equipamento, deve ser fabuloso . Ali na Cipó foi esse meu primeiro contato e foi o que me despertou para o cinema como processo de formação mais estruturado. Paralelo a isso, no mesmo período que eu fazia Cipó, eu fazia o Ceafro e lá a gente tinha umas atividades de cineclube com o Luiz Orlando, que é um cineclubista preto, um dos maiores cineclubistas do Brasil. O Luiz Orlando me apresentou o cinema de preto, entramos nos cinemas pretos, cinema de Spike Lee, me apresentando o trabalho de pessoas pretas no cinema, cinema político, né? O Ceafro era um espaço que fazia teatro e era uma organização de mulheres negras que coordenava os cursos profissionalizantes para jovens negros. Então, no mesmo espaço, tinha teatro, tinha produção, tinha administração, essas coisas assim. Eu fazia teatro e o grupo de teatro recebia muita ação de cineclubistas, com o Luiz Orlando, então foi o mesmo período que eu acessei a ferramenta no Cipó. O Ceafro me provocava sobre o que fazer com essa ferramenta, sabe, e é nesse lugar que eu construo essa minha forma de fazer cinema e de olhar para o cinema. De olhar para o audiovisual de um lugar político, de um lugar comunicacional com a massa mesmo, com a maioria dos meus, com a maioria dos 54% da população negra. CB: Sua Mãe de Santo é sua tia, não é isso?
VF: É minha tia-avó.
MCB: Então, você nasceu na Bahia, é sobrinha de Mãe de Santo, teve essa formação toda, inclusive com esse cinema preto já na fase cineclubista. Essa questão da negritude vem de você desde o nascimento ou ela foi uma consciência que você foi tomando aos poucos?
VF: Eu nunca tive a possibilidade de não saber que era preta, entende? Minhas famílias são pretas, pretas, pretinhas, e esse lugar da autoestima no seio familiar sempre foi muito comum, muito corriqueiro. Eu não tenho a trajetória da pessoa preta que se descobriu preta depois de, não, eu realmente sempre soube. Na minha família não era uma questão ser preta, eu acho que era até um dado interessante, porque eu venho para o mundo sem essa questão, eu acho que eu caibo em qualquer lugar, então não tem o rolê do pudor, do experimentar, do arriscar, porque é isso, na minha família isso sempre esteve dado. Agora, também sempre teve uma consciência daqueles que querem restringir esses espaços, como a gente precisava estar preparado para isso, para responder a isso, mas nunca tive um direcionamento de viver em função do olhar deles.
MCB: Você já colocou, inclusive, em um debate, falando sobre o fato de que você não consegue pensar em se colocar fora do espectro do coletivo.
VF: De jeito nenhum, porque tem essa questão. Lá em casa, quando a minha mãe faz uma moqueca, ela não faz só para quem mora naquela casa não, para mim, ela e meus dois irmãos, ela faz uma quantidade possível para que minha tia Nega, que tem a casa dela, que tem o almoço dela, possa chegar lá em casa e encontrar comida. Ela faz de um modo que se minha tia Marlene, que está a três casas depois, sentir o cheiro da moqueca, ela vai chegar lá em casa e vai achar para ela também. Então esse lugar do pensar coletivo, eu realmente não consigo me imaginar de outra forma que não seja o coletivo porque eu venho desse lugar. Assim, quantas brigas acontecem na família? A gente também racha coletivamente, uma parte com uma coisa e a outra parte concorda com outra coisa, sabe? E a parada dos times da perspectiva x e da perspectiva y, então não é um lugar, uma coisa forjada só nos processos de militância consciente. Eu sou uma pessoa de candomblé, o terreiro é um lugar coletivo, quer eu queira ou não, quer eu esteja afim de conviver com gente ou não, quando eu vou para o terreiro eu preciso saber que as pessoas vão estar lá e que eu vou ter que compartilhar aquele momento, compartilhar o axé com elas, e eu que me adapte a isso. Então são experiências que me mudam, e, é óbvio, que quando a gente racionaliza em um espectro político eu entendo porque, para mim, é mais confortável pensar em movimentos de cinema negro, movimentos de audiovisual de pessoas negras, do que pensar no meu cinema, na minha forma, no meu estilo, na minha assinatura, é isso.
MCB: E como vem o Jerusa, ainda no formato curta
VF: O curta veio de um lugar que foi um encontro cotidiano, eu falo isso. Eu estava no ponto de ônibus e uma senhora estava falando mal da própria família, que era aniversário dela e essa coisa toda, blasfemando. Eu não estava afim de participar porque eu estava ouvindo Caetano (Veloso) e não estava prestando atenção, eu estava ignorando. Diante da minha ação de ignorar, ela parou, sentou lá e começou a chorar, mas um choro contido, um choro em silêncio, um choro com a expectativa de não me incomodar. Aquilo me bagunçou toda, eu peguei o ônibus e fui embora para outro lugar. O destino era errado, inclusive, o ônibus que eu peguei, e eu não consegui dormir duas noites pensando naquilo.
MCB: Isso em São Paulo ou na Bahia?
VF: Isso já em São Paulo. Aí escrevi sobre e guardei. Isso em 2008 ou 2007, talvez, escrevi e guardei. Em 2010, eu já tinha uma produtora em São Paulo e a gente tinha decidido, eu e minha sócia, a buscar curtas de estudantes para produzir. Aí minha sócia disse assim “Por que iremos buscar lá fora sendo que você tem um punhado de coisas? Tem aquela história da velhinha, mas aquilo é ruim, dê uma olhada, mexa no roteiro enquanto eu preparo o projeto executivo para mandar para o edital”. Aí eu mexi no roteiro, a gente passou dois anos buscando dinheiro efetivamente para fazer o filme, eu só fui ganhar o edital em 2012. Era um período em que a gente estava discutindo, de maneira muito pulsante, essa coisa da solidão da mulher negra e de um lugar de solidão matrimonial da mulher negra, e aquilo me incomodava um pouco porque a gente tem outras facetas de solidão na vida, né? Aí me deu um estalo de aquela forma que aquela mulher estava tentando se comunicar comigo também dizia da solidão dela, era um grito que ela estava dando de quão só ela estava e estava indignada com o lugar dela de solidão. O filme nasce dessas duas experiências, dessas duas reflexões mais conscientes das mulheres negras e esse encontro com essa senhora no ponto de ônibus.
MCB: Nós temos muitas atrizes negras, como Luiza Maranhão, Jacyra Silva, Chica Xavier, Neusa Borges, Zezé Motta, mas duas são faróis pra isso tudo que são a Ruth de Souza e a Léa Garcia. Não é à toa que ambas estiveram no TEN, Teatro Experimental do Negro, junto com o Abdias do Nascimento e outros. Elas são faróis não só para as atrizes e os atores brasileiros, como também para a cultura negra, por tudo que elas representam. Como você chegou até a Léa Garcia, protagonista do filme? VF: Eu chego na Léa exatamente por conta do TEN. Você quer saber o porquê da escolha?
MCB: A escolha e como você chegou até ela?
VF:A escolha foi, exatamente, por conta do TEN. A gente tem uma camada do curta ao longa, que é, de uma certa forma, trazer corpos que representam alguns movimentos de cinemas negros ou teatros negros no Brasil. Então tinha a Léa, que vem do TEN, tem a Débora Marçal, que é da Companhia Capulana de Arte Negra, uma companhia de teatro negro mais contemporâneo situado na periferia de São Paulo, que faz a jovem Silva, e, entre uma coisa e outra, você tem outras experiências de atuação. Você tem ali a presença da Dirce Tomás, que vem de outras companhias de teatro negro, você tem a presença do Major César, que também vem de uma experiência mais próxima do teatro lá em Salvador. No longa, você tem a presença da própria Val Soriano acentuando, acenando para o lugar de importância do Teatro Olodum nessa trajetória, dessa história de teatros negros no Brasil. E eu queria muito dialogar com essa escola de atuação, porque na escola de cinema eu fiz especialização em atuação e direção, partindo do método do Stanislavisky. E nesse método, ele defende uma transformação completa do corpo, uma transformação visceral do corpo, e enquanto eu estudava o método eu me arremetia ao TEN, ao Bando Teatro Olodun e a esses teatros, porque são interpretações viscerais. Tudo o corpo fala e eu queria experimentar isso, eu queria entender como funcionava isso. Eu reconhecia em outro lugar aquele chamado de repertório russo de interpretação, então era também uma investigação estética de entender isso sem, de repente, dar os créditos aos russos de uma vez, mas é por aí que me abre o farol. Enquanto eu estudava os russos, eu pensava “Caralho, mas essas coisas, esses elementos, essa visceralidade eu conheço de algum lugar, não me é estranha, porque eu conheço, talvez, com um outro nome, um outro propósito”. Eu gosto muito dessa atuação dramática e visceral e é por isso que chego nessas atrizes.
Quando eu fiz o convite para a Léa foi em um processo lá no encontro de cinema negro, a gente estava la na sede do encontro, pós almoço talvez. Eu tinha medo de como ela ia receber, não porque a relação era a de estrela, a estrela do cinema, a estrela da TV, essa pessoa que alcançou um espaço de respeitabilidade e tal. Para além disso, era alguém que eu admirava muito e sigo admirando, então você coloca no lugar de inalcançável. Então eu cheguei até ela, eu acho que quase nem falava todas as palavras da frase, sabe, tipo para chegar “Com licença, a senhora, a senhora aceita fazer um papel em um filme que eu escrevi?”. Foi um negócio que eu ensaiei muito para conseguir dizer para ela, e eu vi que alguém tinha ido dizer alguma coisa com ela antes e a tratou como senhora, e ela disse “A senhora está no céu!”. Ela é uma figura muito sincera, muito, não é de filtros. Quando, enfim, eu fui até ela, ela disse “É lógico, por que não? Estou aqui para somar, lógico que eu posso, é para quando?”. Isso abriu um leque de possibilidades, que é aquela coisa, eita porra, ela acredita em mim, e aí virou questão de honra conseguir colocar o projeto de pé. Eu me lembro que disse “Então eu posso te entregar o roteiro?”, E ela “Claro!” Daí peguei o roteiro encadernadinho, bonitinho e entreguei para ela. Ela me perguntou para quando seria, pois tinha que ver em sua agenda, daí respondi que estávamos captando, só que aí demoramos dois anos dessa conversa até conseguir fazer. Nesse meio tempo, eu me lembro que teve um encontro de cinema que eu fui e eu corria dela, porque eu morria de medo que ela me cobrasse, então se eu via que a Léa estava na fila para entrar no Odeon, eu ia fazer outra coisa, comprava um refrigerante, esperava ela entrar primeiro e me sentar em outro lugar, corria do encontro o tempo inteiro. Mas aí chegou um momento em que eu estava de boa e ela não apareceu no meu radar, eu não tinha percebido, e aí ela veio “E o nosso filme, vai sair ou não vai?” Cara, eu fiquei tão envergonhada, eu disse “Poxa, a gente está correndo atrás do dinheiro, a gente vai fazer”. É óbvio que ela sabia o quão difícil era levantar o dinheiro, mas ela precisava me dizer “Olha, eu continuo aqui, se passaram dois anos, mas eu continuo aqui, eu vou fazer”. MCB: Você falou no debate aqui na Mostra sobre os seus percalços, me parece que você ganhou naquele edital de ações afirmativas, você precisava de complementação orçamentária. Mas você falou lá que o seu ponto crucial foi quando a sua Mãe de Santo disse “Ou você faz agora ou nunca mais”. E que foi a partir daquele momento que você decidiu, a partir dessa ordem, inclusive. A realização do filme foi tranquila ou atribulada?
VF: Foi tranquila. A gente teve um problema no processo, que foi a falta de dinheiro. A equipe é maravilhosa, a galera se entregou muito, muito muito, saíram mesmo de suas casas, tem muita gente de Salvador no filme, tem gente de Brasília, tem gente de Curitiba, tem gente de Belo Horizonte, tem gente de todos os cantos do país no filme. Gente que topou ir para Salvador, ou que topou ir para São Paulo e morar três meses, a gente vivenciou processos lindos sabe, processos de imersão para discussão da linguagem das coisas, a gente teve uma prévia fabulosa e todo mundo trabalhou muito, todo mundo se empenhou muito. Quando eu falo dos percalços é porque se eu tivesse meio milhão a mais pra fazer o filme, meio milhão, a gente teria tirado muito mais leite de pedra, teria realizado esse filme com uma tranquilidade maior, porque todas as coisas, todos os problemas que a gente esbarrou foi por falta de dinheiro. A gente não teve problema com recursos humanos, com a matéria humana, com a matéria criativa, a gente tinha disposição, foi um filme com muito afeto, um filme com muita entrega, muito compromisso. Sabe esse tipo de coisa que você olha para o céu e pergunta “Oh, Deus, por que?” Sabe assim, o que toca para as pessoas olharem dessa forma. Foi um filme em que as últimas três diárias a gente gravou em 18 horas e ninguém abandonou o set, o contrarregra não foi embora, não tive greve de equipe pesada, nada disso, puxou 18, 19 horas. Mas eu não posso olhar para isso como se fosse um negócio bonitinho, é desumano, é desumano comigo, é desumano com minha equipe, eu quero ter condições melhores para criar junto com minha equipe, minha equipe não precisa se mutilar 18 horas, trabalhando pra conseguir colocar de pé um filme na lata, acho que é desse lugar falar dos percalços. MCB: Você também contou no debate e é importante registrar aqui, que foi essa opção de ter uma equipe com cerca de 96% de mulheres negras e estreantes, não é?
VF: Isso.
MCB: Você contou que recebeu sugestões de gente com mais experiência para garantir a qualidade no seu primeiro trabalho como diretora de longa, mas você fez essa opção. Dessa forma, você fez história duas vezes, primeiro porque você é uma das poucas diretoras de longas e ainda com uma equipe de mulheres negras e estreantes. Você já sabia, naquele momento, que essa opção, inclusive, potencializa toda a cultura negra? Com essas escolhas que você fez? VF: Olha, eu não sei se eu tenho dimensão da complexidade da sua pergunta, mas eu posso lhe dizer o que foi que me fez decidir dessa forma. Dinheiro público é um negócio que a gente precisa ter muita responsabilidade, eu não podia tratar aquele recurso como se eu o tivesse acessado pela cor dos meus olhos, ou como se eu tivesse acessado o recurso porque eu era melhor que muitas outras. Eu precisava encontrar uma forma, eu acho que, desde o momento em que eu ganhei o edital afirmativo, eu fiquei refletindo sobre formas de torná-lo o mais plural, o mais coletivo possível. E não é porque eu me achava merecedora dos recursos do edital não, sabe, era porque eu sempre achei que ele era insuficiente. E como lá em casa quando a farinha é pouca ainda assim a gente divide, então não foi um rolê do “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Eu ficava pensando em formas de tornar aquele dinheiro também acessível, aquele recurso, aquela política afirmativa, como fazer com que ela tocasse outras carreiras para além da minha. Não era uma dinâmica de prender essas pessoas no meu processo, mas essa coisa de como possibilitar que esse projeto também jogasse luz para outros trabalhos. Eu quero ver a potência, que é Lilis Soares na direção de fotografia, depois do longa a Lilis não parou de trabalhar nunca mais, Lilis está com três filmes aqui em Tiradentes, três filmes. Então é uma parada afetiva, não dá mais para negar, não dá para você olhar para a Lilis e dizer que essa mulher não tem experiência, que você não vai trabalhar com ela porque não tem experiência. Não dá para você olhar para a Beatriz Dijorin e dizer que não vai contratar ela para fazer direção de arte ou figurino do seu filme porque ela não tem experiência. Não vai dar para olhar para a Jamile Coelho dessa forma. Então, para além de mim, outras pessoas podem utilizar esse filme também como vitrine das suas existências. Inclusive eu falei no debate e repito aqui: A gente foi para o set sem o peso de precisar entregar obra prima, esse filme é um filme para gente dizer para o mundo que a gente tem o direito de experimentar, que a gente tem o direito de filmar e de se aprimorar filmando, é mesmo um convite, uma carta de reivindicação real para que a gente tenha a possibilidade de filmar muito mais, a gente tem sede, a gente tem fome de set. MCB: E é um filme para nós negras e negros. VF: Sem sombras de dúvidas. MCB: Ou te interessa o público mais geral? VF: Sem sombras de dúvidas, não é para outro público, eu fico feliz quando as pessoas não negras se sentem tocadas pelo filme, porque aí a gente atinge o lugar. O ápice do cinema é você conseguir tocar todos, você conseguir tocar todos os corações, mas eu também entendo que é um filme recheado de camadas, recheado de simbologias, recheado de signos, um filme que se ancora em um repertório que não é acessível a todas as pessoas. É um filme que compactua com as pessoas que acessam esse repertório, e, a partir desse momento que esse grupo acessa esse repertório tiver disposto a compartilhar com outras pessoas, cada vez mais outras pessoas podem acessar o filme. Mas não tenho expectativas, eu falei no debate e repito: É um filme que eu nem sei se é para festival, sabe, acho que a métrica dos festivais é tão outra que eu realmente não sei, para mim não foi uma questão fazer um filme que os críticos amassem e que os festivais brigassem para fazer a pré-estreia nacional ou a pré-estreia internacional, não foi, de verdade. MCB: Você está envolvida agora com o lançamento do filme ou já está em outro projeto cinematográfico? VF: A gente é polivalente, né, a gente vai fazendo as coisas. Do mesmo jeito que o filme é recheado de camadas, a nossa movimentação também é estabelecida por camadas. A gente está nesse processo de divulgação, de lançamento do filme com muito esmero e muito cuidado, mas a gente também está gestando outras coisas, está gestando outros longas, séries, outras propostas audiovisuais também. MCB: Você mora em São Paulo? VF: Moro em São Paulo. MCB: Você teve passagem pela Ancine ou eu estou maluco? VF: Passagem, como assim? MCB:De trabalhar na Ancine. VF: Não. MCB: Eu tinha entendido isso, na hora que a Vivi falou no debate. VF: Não, a Vivi falou que me conheceu quando eu trabalhava na gestão Haddad em São Paulo, eu fui da Secretaria de Serviços, na gestão Haddad, eu atuava na assessoria jurídica a partir do projeto Praças Livres, que trabalhava ali com programas muito importantes para o processo de produção, cultura e conectividade na cidade de São Paulo, então ali era uma interface nos telecentros, nas praças wifi. MCB: Agora pra encerrar a nossa entrevista, as únicas duas perguntas fixas do site. A primeira: Qual o último filme brasileiro a que você assistiu? VF:O último filme brasileiro que eu assisti foi “Bacurau” (Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles). MCB: E qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, que você deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e por que? VF: Glenda Nicácio. Primeiro que Glenda é pisciana e eu sou pisciana, aí é sempre muito gostoso encontrar a Glenda, sabe, é sempre um bálsamo, porque há a sensação que a gente dialoga de tantos outros lugares para além. Eu estou bem feliz agora em Tiradentes, inclusive porque os nossos filmes dialogam muito e é muito louco, porque a maneira como o pensamento pisciano desencadeia, é similar, e aí é sempre um lugar de muito conforto, de muito aconchego, de pertencimento mesmo, de troca de irmandade. É sempre muito mágico encontrar a Glenda, de falar, de trocar, de analisar esse cenário todo e seguir fazendo cinema. A gente faz de jeitos quase diferentes, e nem é como se a gente se falasse sempre, mas todas as vezes que a gente se encontra é muito potente, eu gosto da sensação, eu gosto de encontrar com energias potentes, é sempre muito potente encontrar com ela, a gente sempre pira muito, são sempre cervejas maravilhosas. MCB: Muito obrigado pela entrevista. VF: Obrigado você.
Entrevista realizada durante a 23a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro de 2020.Foto: Viviane Ferreira com Léa Garcia - crédito: Netun Lima/Universo Produção

Veja também sobre ela