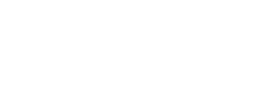Alice Gonzaga
 Alice Gonzaga é um nome importante na restauração e recuperação de clássicos do cinema brasileiro. Nascida em meio cinematográfico, Alice é filha de Adhemar Gonzaga, cineasta, jornalista e fundador da Cinédia, primeiro estúdio de grande porte no Brasil, e da atriz Didi Viana. Desde a década de 1970 que Alice Gonzaga está à frente dos negócios da Cinédia, restaurando e recuperando filmes da produtora: "nunca passou pela minha cabeça que um dia eu entraria para o cinema, que eu fizesse esse trabalho todo de restauração. Isso até os 40 anos de idade, eu não sei o que passava na minha cabeça. Até o dia em que o meu pai passou mal, eu fui para a clínica em Sorocaba, e ele disse “Não! Eu não estou doente, eu estou com falta de circulação monetária, com dinheiro eu saio bonzinho daqui. Internado também não fico, porque senão não saio mais”. Então eu disse “bom, o senhor vai ficar comigo lá em casa e vamos ver o que vai acontecer”. E ele ficou. E naquela descida de dois andares já mudei a minha vida inteira".
Alice Gonzaga é um nome importante na restauração e recuperação de clássicos do cinema brasileiro. Nascida em meio cinematográfico, Alice é filha de Adhemar Gonzaga, cineasta, jornalista e fundador da Cinédia, primeiro estúdio de grande porte no Brasil, e da atriz Didi Viana. Desde a década de 1970 que Alice Gonzaga está à frente dos negócios da Cinédia, restaurando e recuperando filmes da produtora: "nunca passou pela minha cabeça que um dia eu entraria para o cinema, que eu fizesse esse trabalho todo de restauração. Isso até os 40 anos de idade, eu não sei o que passava na minha cabeça. Até o dia em que o meu pai passou mal, eu fui para a clínica em Sorocaba, e ele disse “Não! Eu não estou doente, eu estou com falta de circulação monetária, com dinheiro eu saio bonzinho daqui. Internado também não fico, porque senão não saio mais”. Então eu disse “bom, o senhor vai ficar comigo lá em casa e vamos ver o que vai acontecer”. E ele ficou. E naquela descida de dois andares já mudei a minha vida inteira".
Alice Gonzaga tem pequenas participações e pontas como atriz, mas o que ela gostava mesmo quando criança era a parte prática: " Uma coisa que eu gostava muito de fazer era pintar cenário com as brochas. Achava o máximo, pintar cenário era ótimo". Mas com os olhos de hoje, reconhece interesses condizentes com atividade atual e o papel fundamental do cinema na sua vida: "Hoje, olhando à distância, eu vejo o meu interesse, eu gostava de abrir as gavetas, de separar os artigos, as fotos. Tanto que a primeira palavra que eu aprendi a ler foi “cinema”. Alice Gonzaga e sua equipe já restauraram filmes importantes: "restaurados é muito diferente de recuperados. Restauração é um trabalho grande. Tem “O Ébrio”, o “Mulher” (1931 – Octavio Gabus Mendes), “Alô Alô Carnaval” (1936 – Adhemar Gonzaga) e agora vai ser o “Bonequinha de Seda”. Os outros são recuperados, que é uma mudança só de material".
Outros trabalhos importantes para o resgate da memória do cinema brasileiro são os livros que Alice Gonzaga publicou: "50 anos de Ciinédia", "Gonzaga por ele mesmo" e "Palácios e Poeiras - 100 anos de cinemas no Rio de Janeiro".
Alice Gonzaga esteve na "CINEOP - 3ª Mostra de Cinema de Ouro Preto" para participar do "3º Encontro Nacional de Arquivos de Imagens em Movimento", com representantes das principais instituições de preservação e restauração do cinema brasileiro. Em conversa exclusiva com o Mulheres, Alice Gonzaga relembrou a infância passada em plena efervescência da Cinédia, falou dos pais, da convivência com figuras míticas como Carmen Santos e Carmen Miranda, do trabalho da Cinédia e outros assuntos.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Você atua no cinema em várias frentes: pesquisadora, produtora, atriz, diretora. O cinema foi mesmo um caminho inevitável na sua vida?
Alice Gonzaga: De repente foi, porque nunca passou pela minha cabeça que um dia eu entraria para o cinema, que eu fizesse esse trabalho todo de restauração. Isso até os 40 anos de idade, eu não sei o que passava na minha cabeça. Até o dia em que o meu pai passou mal, eu fui para a clínica em Sorocaba, e ele disse “não! Eu não estou doente, eu estou com falta de circulação monetária, com dinheiro eu saio bonzinho daqui. Internado também não fico, porque senão não saio mais”. Então eu disse “bom, o senhor vai ficar comigo lá em casa e vamos ver o que vai acontecer”. E ele ficou. E naquela descida de dois andares já mudei a minha vida inteira. Eu digo, “vou entrar na Cinédia, vou ajudar”, porque eu fiquei pensando: o que vai acontecer se o meu pai morre hoje? Todo o arquivo, todo o acervo, as coisas vão tudo por água abaixo. “Então eu vou entrar, vou ajudar, se der certo deu, se não deu paciência”. Aí, contra a minha família, contra todos, eu entrei, comecei a ajudar, ver os endereços, ver como é que era e fiquei.
MCB: Voltando no tempo. Como foi a infância e a adolescência vivendo nesse meio cinematográfico até a resolução em ter essa participação efetiva?
AG: Era uma coisa muito difícil porque a minha família tinha pavor que eu fosse atriz. Minha mãe era uma atriz (Didi Viana), embora o meu pai tenha cortado a carreira dela no momento em que se juntou a ele, porque eles não se casaram, minha mãe se juntou a um desquitado, o que nos anos 30 foi um auê. Os pais dela tiveram que se mudar de cidade foram de Iapauçu para Araçatuba porque foi um escândalo muito grande. Isso afetou muito a família de meu pai, que era uma família muito atrasada, muito fechada. Eles tinham medo que eu fosse atriz, ainda mais que eu comecei a aparecer em pequeninas pontas, como em “Bonequinha de Seda” (1936 – Oduvaldo Viana Filho). Eu fui teste para toda a aparelhagem que chegava de Hollywood para a Cinédia, eu fui a primeira moça a ser testada com Max Factor, eu era a garota dos testes. A família ficou com medo. Com sete anos meu pai se separou da minha mãe, eu fui interna no Colégio Sion de Petrópolis para me afastar de tudo isso. Mas nas férias eu ia para a Cinédia, eu gostava de ver os artistas, os movimentos, e sempre gostei de trabalhar no arquivo.
Hoje, olhando à distância, eu vejo o meu interesse, eu gostava de abrir as gavetas, de separar os artigos, as fotos. Tanto que a primeira palavra que eu aprendi a ler foi “cinema”. Porque com seis anos meu pai botava o jornal no chão e eu cortava tudo que tinha escrito cinema na coluna que ele me mostrava. Quer dizer, não conseguiram abafar, eu não fui atriz, mas fiquei por trás das câmeras, como o meu pai também, como a minha também ficou. Porque no momento em que ela ficou com o meu pai, ela passou a ser figurante, cozinheira, lia roteiros, ajudava também por trás. Mas só que eu não sou cozinheira (risos).
MCB: E ela era uma atriz tão linda.
AG: Recebia duas mil cartas por mês. Ela era uma atriz popular, embora com poucos filmes, O “Lábios Sem Beijos”, que foi completo, e “O Preço de Um Prazer” (1931 – Adhemar Gonzaga), que não foi terminado. Mas a campanha da Cinearte era uma campanha muito bem feita, sempre em favor da estrelas, e ela tinha uma popularidade muito grande.
MCB: Foi para ela uma dificuldade muito grande se afastar da carreira de atriz?
AG: Não, eu acredito que não, porque ela estava muito apaixonada pelo meu pai, pela causa do cinema e tudo, não foi difícil para ela. Ela sentiu, mas também não foi um drama muito grande.
MCB: E, de certa forma, ela continuou no meio cinematográfico, dando um suporte.
AG: Era o destino dela, porque quando meu pai foi fazer um filme, que afinal não saiu, o “Morena”, ele botou as fotos todas em cima da mesa e disse “eu vou escolher a atriz do meu filme, é essa”, e era ela. Quer dizer, era o destino dela. Ela tinha escrito cartas para todos os que faziam cinema na época, para o Medina, e calhou que foi com o meu pai. Então era o destino dela.
MCB: Hoje as pessoas não têm idéia desses estúdios de cinema, porque não temos mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, já que você participou até fazendo testes com os equipamentos.
AG: Mas eu era garota, não ligava muito a isso não. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era pintar cenário com as brochas. Achava o máximo, pintar cenário era ótimo. Agora, nestas andanças pelos estúdios eu me lembro muito bem do Leo Merten, me lembro do Fenelon (Moacyr Fenelon), de quase todos os diretores. Me lembro bem não só de atrizes brasileiras como também artistas estrangeiros. A primeira vez em que eu tomei uma coca-cola eu estava com o ator John Bowles e meu pai num bar ao lado do Hotel Lux em Copacabana, eu nunca esqueço o dia em que provei coca-cola. E tinha outros atores que meu pai saía com eles à noite e me levava junto. Porque honra seja feita, nas férias meu pai me dava a maior atenção com tudo. Eu ia à peças de teatro, mesmo fora da minha idade. Podiam ser peças proibidas até 14 anos, mas eu, com dez, ia. Eu vi Alda Garrido, eu vi Rodolfo Mayer, eu vi Eva Todor. Eu fui à boate, assisti Josephine Baker, todos esses atores que vinham eu assisti, meu pai me levava. Ele tinha que ir e eu ia junto, e embora eu não tivesse idade eu entrava porque era meu pai, ele era uma pessoa popular.
Eu tive uma vida assim diferente, os meus programas de férias de escola eram muito diferentes das minhas colegas de colégio. Elas faziam uns programas que eu dizia “ai meu Deus, eu não faço esses programas”. Eu tinha vergonha de dizer, porque eu ia ao Jockei Clube, essas peças de teatro, e elas não iam à nada disso. Então eu me sentia, “pô, eu não faço esses programas delas, por que eu não faço?” Eu me lembro de uma filmagem que eu fui assistir num domingo, o filme “Mãe” (1948 – Teófilo Barros Filho). Quer dizer, elas não faziam isso. Eu tive uma vivência boa.
MCB: E quando foi que você teve a dimensão da importância da Cinédia?
AG: Foi no dia em que meu pai passou mal e eu desci o elevador. Eu me lembro perfeitamente, estava com a minha filha, Maria Eugênia. Ele dizia “eu não fico internado, eu não fico internado, se eu ficar internado nunca mais eu saio daqui”. Ele estava sem dinheiro de nada, porque ele nunca teve dinheiro na mão, nunca teve nada. Meu pai se vestia com terno dos irmãos, nunca me lembro dele comprar uma camisa nova, um terno novo, nunca comprou nada, todo o dinheiro dele era do cinema.
MCB: Você conviveu com figuras míticas do nosso cinema, por exemplo, a Carmen Santos.
AG: Me lembro muito da Carmen Santos, me lembro bastante. Carmen Miranda... Carmen Miranda freqüentava a minha casa, minha mãe era amiga dela. O receio sempre da Carmen Miranda era a Linda Batista, nas cartas que minha me escreveu depois, ela lembrando essa coisas de colégio, a Carmen sempre perguntando as coisas. Tem é história.
MCB: A Carmen Santos é mesmo a grande mulher do cinema brasileiro, não é?
AG: Pra mim a mulher mais importante do cinema brasileiro: Carmen Santos! Ninguém a ultrapassa, porque ela não foi só uma diretora, ela foi produtora, lutou pelos direitos dos cineastas, ela enfrentou o Getúlio, dedo na cara do Getúlio. Ela foi uma pessoa super importante, lutou pelos direitos do cinema, pelas leis, eu acho ela importantíssima. Outra moça, Gilda de Abreu, também é uma mulher importante pelos filmes que ela dirigiu, pelo senso que ela tinha de direção.
MCB: E foram grandes sucessos (como “O Ébrio – 1946).
AG: Realmente, a Gilda hoje escrevendo novelas ia dar de dez a zero numa Janete Clair, num autor de novelas, porque quando você pensa que o filme vai acabar ela inventa outra. Em matéria de fantasia não existe outra igual a Gilda.
MCB: O impressionante é que só temos seis diretoras de longas até a década de 1960, sendo duas italianas, a Maria Basaglia e a Carla Civelli. E aí temos a Carmen Santos, a Gilda de Abreu, a Cléo de Verberena, que foi a primeira...
AG: A Cléo de Verberena... Dizia-se ao Gonzaga que não tinha sido ela que tinha dirigido, era o marido que dirigira e apenas colocou o nome dela. Mas ela teve seu valor também, aceitou dirigir, colocar seu nome em uma época que era difícil uma mulher aparecer. Até quando eu entrei na Cinédia, que foi em 1970, quando meu pai ficou doente, eu disse “bom meu pai, para eu acertar o senhor tem que me colocar pelo menos como diretora, porque eu vou no advogado, vou precisar assinar papel, e eu não posso voltar aqui toda hora para o senhor assinar”. Meu marido teve que dar uma licença em cartório para eu poder comercializar, quer dizer, você vê como isso tudo era muito atrasado.
MCB: E as participações como atriz?
AG: Não, eu não sei, não passou pela minha cabeça ser atriz. Eram ocasiões. Meu pai sempre gostou de botar a gente, como também as minhas filhas entraram nos filmes. “No “Salário Mínimo” tem a Maria Eugênia, a Bebel. Em um outro curta, o “Alimentação”, que ele dirigiu, está a Maria Alice passeando em volta de um lago com rapaz. Quer dizer, ele sempre gostou de colocar pessoas da família.
MCB: Você se lembra dos filmes em que fez pontas e participações?
AG: Em “Bonequinha de Seda” (1936 – Oduvaldo Vianna), eu sou uma menina, eu estou com um ano. A minha mãe corre para alcançar o elevador, o elevador vai embora, e eu choro, e foi um choro verdadeiro porque eu não alcancei o elevador. Eu estou no filme, a gente está restaurando o filme agora e vai ficar bem legal.
MCB: Mais algum?
AG: “Caídos do Céu” (1946 – Luiz de Barros), eu me lembro de estar em um bonde. Às vezes ficava atrás de cenário só para olhar a filmagem. No “Salário Mínimo” (1970 – Adhemar Gonzaga) eu acabei fazendo uma produção executiva com ele, ajudando. Enfim, a gente faz o que der e vier, né?
MCB: E a diretora?
AG: Diretora? Olha, eu dirigi curtas, o “Memória do Carnaval”. Eu só dirigi filmes dos outros, praticamente, porque eu considero restauração de um filme como se fosse uma direção também. Porque a gente tem que ler o roteiro todo para ver como o filme foi feito, acompanhar todo aquele trabalho do filme, então não deixa de ser uma direção também. Agora, dirigir um longa não passa muito pela minha cabeça porque a gente tem que ter a cabeça fria para fazer isso e eu não tenho cabeça fria, tem mil coisas para fazer.
Hoje eu entendo perfeitamente porque meu pai não dirigiu outros filmes. Porque ou ele tomava conta da Cinédia ou ele dirigia. A Cinédia era uma empresa poderosa, tinha cinqüenta funcionários. Ele tinha que arranjar dinheiro para fazer os filmes, porque não tinha as vantagens que têm hoje, patrocínios, ou ele dirigia. Ele começou a dirigir “Caídos do Céu”, mas aí ele olhava e dizia “como diretor eu quero fazer isso, mas não, como produtor eu não posso, não tem dinheiro, não vai dar certo”. Então ele brigava muito a luta do diretor com o produtor: “Não vai dar para eu dirigir, não dá, a produção não fica pronta, eu vou lá para a produção”; “Não, não tem dinheiro”. Quer dizer, era muito complicado.
MCB: Ficava dividido.
AG: dividido.
MCB: E a sua experiência de dirigir? Foi boa?
AG: Eu acho ótimo, embora meu pai sempre dizia: “não adianta perder tempo dirigindo curta-metragem, curta-metragem não faz indústria, está perdendo tempo, tem que dirigir é um longa”. E aí diziam “Mas seu Gonzaga, no curta a gente está aprendendo”. E ele: “Não está aprendendo nada! Tem é que dirigir logo um longa, tem é que varrer estúdio, como fez o Manga (Carlos Manga), entrar e olhar como é que estão fazendo. Não é dirigindo curta não”.
MCB: E os livros?
AG: Eu queria fazer um currículo da Cinédia, mas o currículo da Cinédia é um livro. Aí eu comecei a juntar as coisas mais interessantes de cada filme, o que tinha sido usado de inédito de cada filme para fazer o livro. Do meu pai eram os escritos que eu achei dele, todos. Eu fiz uma cópia do que ele tinha escrito e mais ou menos dividi por assuntos. Mas eu acho que ele merece um livro ainda.
MCB: E tem também o livro sobre as salas do Rio de Janeiro.
AG: o “Palácio e Poeiras”, que é o livro dos cinemas e que também era um desejo do meu pai. No escritório onde ele se sentava tinha uma gaveta atrás e quando, no final de vida del,e nós começamos a arrumar as coisas. Eu dizia “meu pai vamos dar uma arrumada porque eu preciso saber o que é que tem, o que nós vamos fazer aqui, o tempo é pouco, o senhor está com pouco tempo”. E ele “ah, eu sempre quis fazer um livro sobre o gerente do cinema, sobre as salas de exibição”. Eu digo: “e essas fotografias?”. E ele “ah, essas fotografias são de vida, eu e o Alvaro Rocha no final de semana, a gente ia fotografar as fachadas de cinema. Um dia eu vou fazer um livro”. Esse um dia, eu pensava cá com os meus botões, não vai chegar nunca. E acabou a gente fazendo, um pouco diferente do que ele queria. Ele queria colocar os gerentes, os personagens, como tinha sido a exibição na época, mas isso não aconteceu. Mas o livro ficou ótimo, é um livro esgotado e documentou bem o cinema. Hoje, se quisermos consultar alguns documentos ali, esses documentos já não existem mais.
MCB: E a restauração?
AG: A restauração é uma longa história. É muito trabalho porque é muita coisa que não acaba nunca. Os filmes hoje têm uma durabilidade pequena, eles duram dez, quinze anos. Então você está sempre restaurando, tem sempre que fazer cópias novas, eu acho que isso não acaba. Quando a gente está acabando, entra um acervo novo, entrou o do Moacyr Fenelon, então a gente agora está se dirigindo a ele. Mas eu tenho uma “Ong”, um instituto da preservação da memória do cinema brasileiro, porque justamente a Cinédia, como empresa jurídica, não pode receber doações, não pode fazer nada diretamente. O Instituto pode, só que eu também nunca recebi doações. O que a gente faz é com o esforço da gente mesmo.
MCB: Quantos filmes já foram restaurados?
AG: Ah, uma porção, muitos. Agora restaurados é muito diferente de recuperados. Restauração é um trabalho grande. Tem “O Ébrio”, o “Mulher” (1931 – Octavio Gabus Mendes), “Alô Alô Carnaval” (1936 – Adhemar Gonzaga) e agora vai ser o “Bonequinha de Seda”. Os outros são recuperados, que é uma mudança só de material, você faz cópias novas, um contratipo novo, mas não mexe muito no filme. Aliás, estou mexendo agora também no “Berlim na Batucada” (1944 – Luiz de Barros), pelo menos a gente está completando o filme. Montar o filme como ele era, pegar várias cópias e fazer uma remontagem do filme.
MCB: Sua ideia é recuperar esses filmes todos?
AG: Quando eu comecei em 70, não foi com a idéia de restaurar, de preservar os filmes não. Minha ideia era que eu queria assistir aos filmes, eu era louca para assistir, “então vamos fazer uma cópia para a gente poder assistir esse filme?” E daí foi salvando os filmes, eu gostei e disse “vamos salvar” Pediam trechos dos filmes e eu tinha trecho para poder vender, porque vender trechos de filmes da Cinédia, autorizar de repente o uso, hoje é uma fonte de renda. E tem três verbos que hoje no meu vocabulário não conjugo mais: ceder, doar, emprestar. Não existem esses verbos. Eu acho que isso é um trabalho que se faz e o cinema brasileiro tem que se profissionalizar nesse sentido, fazer os projetos e colocar nos projetos as verbas que merecem os filmes e as fotos que eles querem usar. Não é pedir de graça, que é o que acontece diariamente: “Autoriza o uso da foto? Ah, não custa nada não”. Custa sim! Porque você tem o trabalho de manter o arquivo da pessoa, de comprar estante, comprar papel, pasta. O meu trabalho de ficar lá sábado e domingo de noite, porque eu não vou a um cinema, a um teatro, eu não vou a nada, fora de festival eu não vou a lugar nenhum, eu estou o tempo todo dentro de arquivo. É assim “você achou tão rápido o que eu queria”. Achou rápido porque eu estava arrumando e organizei a pasta, então você achou rápido porque é um trabalho que vem de 70 anos, não é de agora, de apanhar um papel e te dar.
MCB: Você gosta da produção atual do cinema brasileiro?
AG: Eu quase não assisto filmes. Eu gosto muito é de filmes ricos, bonitos, luxuosos (risos). Não é muito o que eu gosto.
MCB: Qual foi o último filme brasileiro que você assistiu?
AG: Difícil eheim! Não sei te dizer (risos). Não lembro, não sei te dizer não. Não sei.
MCB: Eu sempre convido minhas entrevistadas para homenagearem uma mulher do cinema brasileiro de qualquer época e de qualquer área.
AG: Sempre a Carmen Santos, sempre a Carmen Santos. Eu acho ela o máximo. Era uma pessoa também difícil, do outro lado era também uma pessoa cheia de problemas, mas era o máximo. Eu acho a Carmen Santos o máximo.
MCB: Obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada em junho de 2008, na "CINEOP - 3ª Mostra de Cinema de Ouro Preto".

Veja também sobre ela