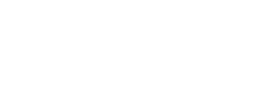Carlandréia Ribeiro

Carlandréia Ribeiro nasceu em Belo Horizonte, e foi criada em Ibirité (MG). É atriz, diretora e produtora de teatro, cineasta, curadora, arte-educadora, tradutora, escritora e referência no Movimento Negro. Desde criança, a certeza de que era atriz. “Então, eu digo que eu fazia teatro, mesmo sem nunca ter ido ao teatro formal, como ele é conhecido. Eu nunca tinha ido, mas eu era apaixonada pelos musicais que eu via na televisão, uma Advance preta e branca, que meu avô comprou. Ali, eu via aqueles musicais de Hollywood, aquelas mulheres descendo aquelas escadarias, os musicais de Ginger Rogers, Fred Astaire, Sammy Davis Jr. Ele era uma referência para mim, porque era um dos poucos artistas negros naqueles grandes filmes. Eu brinco também que o Michael Jackson era meu amigo de infância, porque eu saía correndo da escola para assistir ao “Jackson’s Five” enquanto eu almoçava. Então, esse teatro de quintal eu invento, fabulo esse espaço de teatro no quintal da casa do meu avô”.
É em Ibirité que também começa a formação teatral, depois expandida para BH, onde integra o grupo “Teatro Vivo”. Ainda em Ibirité, conhece Jacó do Nascimento, que viria a ser seu parceiro de vida e de trabalho, montam o grupo “Olho da Rua”, referência na cena da capital mineira e no uso do espaço urbano para encenações e performances. Tem extensa e importante carreira nos palcos, tendo como um dos marcos o espetáculo “Memórias de Bitita - O coração que não silenciou”, sobre a vida e obra de Carolina Maria de Jesus. Um dos trabalhos importantes para a cena, e, sobretudo, para o Movimento Negro, dos qual ela é uma das referências. “A minha relação com o Movimento Negro, o que me remete a pensar a possibilidade de um teatro negro, é nesse lugar do Sindicato dos Bancários, que era um lugar que recebia todos os movimentos, os LGBTQIAPN+, o Movimento Negro, o Movimento de Mulheres. E ali eu conheço, tomo contato com figuras fundantes do Movimento Negro, que é Marcos Cardoso, Benilda Brito, Diva Moreira, Cleide Hilda, Rosália Diogo, é ali que eu conheço, a partir de 88. Eu sabia que era negra desde criança, porque o famoso chá revelação eu tive quando eu devia ter talvez uns nove anos, dez anos de idade. Uma vez, em uma ação do Sesc, que tem aquele negócio de cortar cabelo, faz isso, faz aquilo, eu fui, e quando eu me sentei na cadeira da cabeleireira, ela mexeu no meu cabelo e falou “Isso aqui eu não corto, porque isso aqui não tem jeito”. E me mandou levantar. Ali, eu soube que o racismo iria me atingir de forma profunda e brutal”.
Carlandréia Ribeiro vem intensificando sua carreira no cinema. Atua em vários filmes, é nome de destaque no elenco principal do seriado O Natal do Silva, seriado de Gabriel Martins, da Filmes de Plástico, que estreia neste ano no Canal do Brasil, e foi agraciada com o Candango de Melhor Atriz no Festival de Brasília, em 20024, pela sua protagonista no curta Mãe do Ouro, de Maick Hannder. “Lindo, uma estatueta linda, muito significativa para o cinema nacional. Então, assim, eu fiquei muito honrada, muito feliz. Era uma noite de sábado, dia 7 de dezembro de 2024, e na hora que disseram o meu nome e o prêmio de Melhor Atriz para Carlandréia Ribeiro, eu só consegui pensar em cantar para Oxum. Eu subi lá no palco e recebi o prêmio cantando para ela, porque esse filme é sobre ela também, a personagem, por tudo que eu ouvi sobre ela, sobre a vítima de feminicídio, no caso, a irmã da Tiana, que seria Maria da Ajuda. Ela era uma mulher que carregava um arquétipo Oxumico muito grande, era uma mulher solar, era uma mulher que iluminava os lugares quando chegava e uma mulher que amava, amava muito. E quando ela se apaixona por esse outro homem, o então marido, enfim, que a vê como propriedade e acha que tem o direito de tirar a vida dessa mulher”.
Carlandréia Ribeiro conversou com o Mulheres do Cinema Brasileiro em uma manhã de sábado, regada a café e broa de fubá. Ela repassou sua trajetória: A infância, a certeza da atriz, a formação, as referências, o Movimento Negro, o teatro, os filmes, o Candango de Melhor atriz no Festival de Brasília, e muito mais.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Bom, Carlandréia, para a gente começar: Nome, data de nascimento, cidade que nasceu e formação.
Carlandréia Ribeiro: Carlandréia Maria Ribeiro Nascimento, conhecida como Carlandréia Ribeiro. Eu nasci no dia 13 de janeiro de 1965. Eu brinco que minha mãe veio me parir aqui em Belo Horizonte, mas eu fui criada na cidade de Ibirité. Saí de lá aos 17 anos. Comecei o meu movimento de vinda para Belo Horizonte em função do teatro.
MCB: Eu já li algumas entrevistas suas, em que você diz que, desde criança, já sabia que era atriz, e que fazia, inclusive, seu teatro de quintal. Eu fiquei muito impressionado com uma coisa: aos 11 anos vocês montaram “Morte e Vida Severina”. É isso mesmo? Essa consciência social, que vai marcar muito a sua trajetória, já estava ali? 11 anos! Por que vocês montaram “Morte e Vida Severina”? Foi na escola, não é isso?
CR: Foi na escola. Então, eu digo que eu fazia teatro, mesmo sem nunca ter ido ao teatro formal, como ele é conhecido. Eu nunca tinha ido, mas eu era apaixonada pelos musicais que eu via na televisão, uma Advance preta e branca, que meu avô comprou. Ali, eu via aqueles musicais de Hollywood, aquelas mulheres descendo aquelas escadarias, os musicais de Ginger Rogers, Fred Astaire, Sammy Davis Jr. Ele era uma referência para mim, porque era um dos poucos artistas negros naqueles grandes filmes. Eu brinco também que o Michael Jackson era meu amigo de infância, porque eu saía correndo da escola para assistir ao “Jackson’s Five” enquanto eu almoçava. Então, esse teatro de quintal eu invento, fabulo esse espaço de teatro no quintal da casa do meu avô. Aquela coisa bem de família preta, a casa do meu avô na frente, um terreiro enorme, e a casa dos meus pais, que meu pai construiu quando foi casar, no mesmo terreno, no mesmo lote. Tinha goiabeira, pé de manga, abacate. Naquele espaço ali, eu pegava os lençóis da minha mãe, simulava umas cortinas, pedia para ela fazer pipoca, bolo, broa de fubá, para servir para os meninos da rua que vinham assistir ao teatro, as coisas que eu criava ali naquele quintal. Eu comecei a ler muito cedo, porque a minha mãe gostava muito de ler, foi vendo a minha mãe ler que eu fui tomando gosto pela leitura. O processo da minha mãe para aprender a ler foi muito difícil, muito doloroso, porque meu avô acreditava que uma mulher não precisava ir à escola, e minha mãe contava que ela fugia pela janela do quarto dela, passava a tramela na porta, abria a janela, pulava e ia para a escola. No retorno para casa, a professora vinha acompanhando para pedir para os meus avós que não batessem nela por ter fugido para ir para a escola. Mesmo pouco letrada, a minha mãe tinha paixão pelos livros, ela lia de tudo. Em casa tinha aquelas revistas de moda americana, eu não sei como elas chegavam lá, com aquelas mulheres fazendo poses ao lado dos eletrodomésticos, e eu via a minha mãe lendo de tudo, aqueles livros de bolso de faroeste. Eu comecei a frequentar biblioteca muito cedo, da escola, e um dia me deparei com um livro, “Morte e Vida Severina” (de João Cabral de Melo Neto). Eu fui lendo aquilo, fui sendo tomada por aquela história. E aí é aquela coisa, na escola, embora eu sofresse vários preterimentos pelo fato de ser uma menina negra, tinha um lugar que eu ocupava com certo destaque que eram as festas, as celebrações, as datas comemorativas, por causa desse meu interesse com a arte, com o teatro. Eu juntei os alunos da minha turma e nós montamos, na verdade trechos, de “Morte e Vida Severina”. Foi apresentado na escola, todo mundo achou lindo, todo mundo gostou. E aí foi para um espaço que seria o grande teatro da cidade, que era a quadra municipal, a quadra lotada, e a gente apresentando ali “Morte e Vida Severina”.
MCB: Qual era o nome da escola?
CR: Pedro Evangelista.
MCB: Eu já vi você falando também que o grande divisor de águas na sua vida foi um projeto do MEC, do Pró-Memória, que foi um ciclo de oficinas, de encontros.
CR: Isso.
MCB: Queria que você falasse sobre isso.
CR: Eu estudava nessa escola, no Pedro Evangelista, e um dia surgiram pessoas lá dizendo que eram desse projeto. Projeto de Interação de Comunidades, era esse o nome, que envolvia o MEC, a Secretaria de Estado de Educação e o Instituto Pró-Memória, que hoje é o IPHAM. Eram Luiz Carlos Garrocho, José Roberto Alvarenga e Antônio Carlos Cardoso. Eu corri e fiz a minha inscrição, talvez eu tenha sido a primeira. Foram 45 dias de oficina de teatro ali com essas três figuras, e quando terminou eu caí em depressão, quase morri.
MCB: Você tinha quantos anos?
CMRN: Eu tinha 16 para 17 anos. Eu pensei: “Meu Deus do céu, eu achei meu povo e agora meu povo foi embora”. Eu sempre sonhava, por exemplo, em fugir com o circo, aquela velha história, porque eu era apaixonada pelos palhaços. Todo circo que chegava em Ibirité, eu ficava amiga do povo do circo. Eu ganhava até ingresso de graça, de tanto que eu frequentava. E aí, quando essa oficina termina, 45 dias depois, eu fiquei desesperada, eu falei “Meu Deus, eu preciso é disso!”. Eu sempre soube que era isso, desde muito cedo, desde quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Passados uns dois ou três meses, eu não sei direito, chegou uma carta do Zé Roberto pedindo autorização aos meus pais para que eu fizesse um curso, uma formação em arte e educação com ele. E também uma autorização para eu passar a vir à Belo Horizonte para participar do grupo "Teatro Vivo", que era o grupo que ele dirigia na época. E aí eu passei a vir para Belo Horizonte toda semana, de segunda a sexta, eu saía no final da tarde lá de Ibirité. Às vezes eu não tinha dinheiro da passagem, era catando moedas para poder juntar o dinheiro. Às vezes, eu só tinha dinheiro para vir e ele me dava o dinheiro da volta, e, assim, eu fui recebendo toda a minha formação. Eu recebi toda a minha formação em teatro, ele me deu toda a base que um ator precisa para se tornar um ator de ofício, como a gente acredita que deve ser.
MCB: Foi nesse grupo que você estreou no teatro?
CR: Foi nesse grupo que eu estreei. O grupo era "Teatro Vivo" e o espetáculo era “Viva Olegário”.
MCB: Em que ano?
CR: Acredito que em 1985… é, 84, 85.
MCB: E foi aí ou foi mais para frente que você conhece o Jacó (do Nascimento, parceiro de cena e de vida)?
CR: Foi nessa oficina. Aquelas coisas engraçadas da vida, né? No primeiro dia de oficina tinha lá um rapaz chamado William, muito bonito, um rapaz lindo, muito simpático, e a gente entrosou logo no primeiro dia E aí ele saiu dali e foi à casa do Jacó, eles eram amigos, eu não fazia ideia de quem era o Jacó, mas eles eram muito amigos. Ele falou “Jacó, comecei a fazer uma oficina de teatro hoje lá em Ibirité e conheci uma menina que é a sua cara, que você precisa conhecer, que é a Carlandréia”. No dia seguinte, o Jacó foi, chegou lá tímido, ele não conseguia nem falar, de tão tímido que era. O William então nos apresenta “Essa aqui é a menina que eu te falei, a Carla”. A gente começou ali naquele processo da oficina, fomos ficando muito amigos, muito amigos, até que começamos a namorar. Um dado interessante dessa história é que eu estava noiva de um bancário, veja bem. A minha família e a desse rapaz que eu namorava são muito amigas, tanto que ele é filho do primeiro casamento do pai dele, e no segundo casamento do pai, eu fui dama de honra. Para você ter uma ideia, na sala da casa da família dele tem uma foto do casamento, e eu de Maria chiquinha, meinha três quartos, com pompom, fazendo a daminha de honra. E aí, aos 15 anos, a gente começa a namorar, numa festa de Réveillon. Estávamos noivos, íamos nos casar, e eu e o Jacó nos apaixonamos. Eu falei “Eu não vou casar com esse cara mais, não”. Foi um escândalo em Ibirité.
MCB: E com o Jacó, vocês estendem isso para esse trabalho no teatro, vocês montam o grupo.
CR: Isso.
MCB: Queria que você falasse um pouco sobre esse grupo, que é tão importante, o “Olho da Rua”. Que ano foi isso? E como é esse momento ali em que começa um trabalho que vai tomar uma dimensão muito grande na cena e também na sua vida?
CR: Sim, esse trabalho começa a ganhar essa dimensão a partir do momento que o José Roberto Alvarenga nos apresenta um material que ele havia trazido de Paris. Quando o José Roberto vem para esse projeto de Interação de Comunidades, ele era recém-chegado da França, ele estava fazendo o doutorado dele na Sorbonne. Nos momentos vagos que ele tinha em Paris, andando pelos sebos, um dia ele se deparou com os manuscritos da pesquisa de Federico Fellini sobre a origem das trupes, a história do palhaço. Ele traz esse material. Um dia ele nos apresenta e diz que queria que a gente pensasse em fazer um trabalho a partir desse material. Aí começa um trabalho importantíssimo, assim para mim, para o Jacó, que foi o que deu essa dimensão, a base, para que a gente construísse, criasse o Grupo “Olho da Rua”. A gente começa então a pesquisar esse material e a fazer uma pesquisa sobre a história do circo no Brasil, a chegada das famílias circenses aqui, os circos europeus, como que isso vai se disseminando aqui no Brasil. A gente pega um gancho, e é aí, eu acho, que começa a minha maior percepção da política e da importância do ator na política. Que é fazer, através da orientação do Zé Roberto, essa leitura do que seja a trupe circense, de como ela representa a sociedade, a pirâmide social: o dono do circo de chapéu, de fraque e cartola no topo da pirâmide; no meio da pirâmide o clow Bianco; e, na base da pirâmide, o Augusto, o Tony de Soirée, o palhaço de nariz vermelho, que representa a classe operária. Ter essa dimensão, dessa hierarquia dentro da trupe espelhada com a hierarquia da sociedade, de como a sociedade é dividida por classe, foi muito importante. E aí a gente começa a perceber, nessa pesquisa, a necessidade de fazer uma análise de como isso se reflete aqui na sociedade brasileira. O advento da chegada da TV nos anos 1950, por exemplo, como isso interfere na vida e no empobrecimento de muitas famílias circenses aqui no Brasil. Nessa pesquisa, a gente visita vários circos e tinha até uma brincadeira que a gente fazia, que era “A lona é velha, mas o buraco é novo”, porque a gente ia nos circos pobres. E é lá no circo pobre que a gente encontra o grande palhaço, ele é a grande estrela, não tem os animais, não tem aquela pirotecnia toda. Então, o que sustenta, o que mantém aquele circo de pé, é a habilidade do palhaço. A gente foi colhendo essas histórias de trupes, o que eles chamam de reprises, essas histórias de palhaço, e a gente monta, então, o nosso primeiro espetáculo, “A Barca da Fuzarca”, que era uma coletânea de toda essa pesquisa.
MCB: Foi em que ano?
CR: Foi em 1985 e 1986 esse período da pesquisa. Em 1987, a gente estreia “A Barca da Fuzarca”, eu tinha acabado de ser mãe.
MCB: Se foi em 1985, então a gente está falando de uma trajetória de 40 anos, não é isso?
CR: Sim.
MCB: Você poderia citar outras montagens que vocês fizeram?
CR: Sim. A gente monta, então, “A Barca da Fuzarca” ainda com o nome “Trupe Risca e Pisca”. Em 88, eu e Jacó trabalhávamos como arte-educadores no Centro Pedagógico da APCEF - Associação dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, e, um dia, a gente soube que havia uma pretensão da nova diretoria dos Sindicatos dos Bancários de montar um departamento cultural, o que era uma coisa inédita na história do movimento sindical. Eu fui até lá com o meu portfólio, que tinha essa história do meu trabalho com o Grupo Teatro Vivo - a gente montou “Viva Olegário”, “Pelos Caminhos de Minas” -, e essa pesquisa do palhaço que culmina no “Barca da Fuzarca”. O pessoal olhou o material e disse que era aquilo que estavam precisando para estruturar o departamento cultural e nos contrata. A partir daí, a gente tem uma base financeira para investir nos nossos trabalhos de teatro. Então a gente monta “O Quê Por quê”, “Um Dia a Casa Cai”, “Tribo dos Libuli” - são várias performances. Dentro do Departamento Cultural dos Sindicato dos Bancários, a gente começa também um processo de ocupação da silhueta urbana de uma maneira que ainda era inédita em Belo Horizonte, que era usar o espaço das ruas, das praças. A gente fazia teatro dentro das agências bancárias, em qualquer lugar da cidade. A gente ocupava a silhueta urbana com intervenções artísticas e era um trabalho muito maluco, porque a gente pegava os jornais do dia, via todas as notícias, e a partir daquilo, daquelas informações, a gente criava uma performance, criava uma intervenção e ia para a rua.
MCB: Ou seja, era, inclusive, um registro do tempo.
CR: Era exatamente um registro do tempo. Se a gente for no acervo documental do Sindicato dos Bancários hoje, a gente vai ver uma crônica teatral da história do Brasil naquele período.
MCB: Ainda que essa sua trajetória desde criança sinaliza isso, mas como e em que momento se dá esse encontro de uma forma mais orgânica com o Movimento Negro?
CR: Foi nesse processo do Departamento Cultural dos Sindicato dos Bancários. A gente tinha um espaço, um bar, que era o Boteco da Sexta. Era um boteco um pouco improvisado, no espaço onde era o restaurante dos bancários, no prédio da sede do sindicato. Quando a categoria conquista o tíquete de alimentação, a gente começa a questionar aquele restaurante ali, pois ele já não era mais necessário. Então a gente faz um projeto de transformar aquele espaço em um espaço cultural de fato. O lugar onde ficavam as panelas industriais, a gente transformou em um palco e em um camarim. Fizemos um concurso e o boteco passou a se chamar Botecário, por uma votação entre os próprios bancários. Já o espaço geral passa então a se chamar Helena Greco.
Eu sinto que o “Viva Olegário” foi a minha estreia enquanto atriz profissional. A minha relação com o Movimento Negro, o que me remete a pensar a possibilidade de um teatro negro, é nesse lugar do Sindicato dos Bancários, que era um lugar que recebia todos os movimentos, os LGBTQIAPN+, o Movimento Negro, o Movimento de Mulheres. E ali eu conheço, tomo contato com figuras fundantes do Movimento Negro, que é Marcos Cardoso, Benilda Brito, Diva Moreira, Cleide Hilda, Rosália Diogo, é ali que eu conheço, a partir de 88. Eu sabia que era negra desde criança, porque o famoso chá revelação eu tive quando eu devia ter talvez uns nove anos, dez anos de idade. Uma vez, em uma ação do Sesc, que tem aquele negócio de cortar cabelo, faz isso, faz aquilo, eu fui, e quando eu me sentei na cadeira da cabeleireira, ela mexeu no meu cabelo e falou “Isso aqui eu não corto, porque isso aqui não tem jeito”. E me mandou levantar. Ali, eu soube que o racismo iria me atingir de forma profunda e brutal. Mas quando eu encontro essas figuras, Marcos Cardoso, Benilda, eu começo a compreender a dimensão da beleza que é ser negra, eu começo a me enxergar como negra e a enxergar a dimensão da potência e da beleza que era ser negra, porque eu olhava para eles e eu via força e via beleza, eu não via submissão diante do racismo, eu via uma outra atitude. E aí eu começo, literalmente, a querer andar com esse povo, falei, é aqui que eu me estabeleço, enquanto artista, enquanto mulher negra, e isso faz toda a diferença. O Marcos Cardoso me provocava muito e me dava umas cutucadas, às vezes eu ficava muito puta com ele, depois eu falava não, ele me fazia refletir, sabe? Ele me fazia enxergar coisas que eu não era capaz de enxergar sem as cutucadas que ele me dava, e aí começa toda a base do meu letramento racial, que foi e continua sendo fundamental na minha vida.
MCB: É impossível conversar com você sobre o teatro sem a gente falar de “Memórias de Bitita”. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, que é tão importante, imagino que para você, assim como é para a cena de Belo Horizonte, a gente está com o desdobramento desse espetáculo até hoje. Então, antes de a gente entrar no cinema, eu queria que você falasse um pouco sobre esse encontro com a Carolina Maria de Jesus.
CR: Em 2014, que, supostamente, seria a data do centenário de Carolina. Eu digo supostamente porque, recentemente, eu me encontrei com um biógrafo de Carolina, que é o Dom Farias, e ele já vem trazendo no próximo livro dados sobre a história de Carolina que vão remexer tudo isso. Mas, em 2014, Benilda Brito, preparando a Marcha das Mulheres, me liga e fala “A gente vai fazer um encontro no café da manhã lá no Mercado Novo, para a preparação da Marcha das Mulheres e eu queria muito que você pudesse vir para fazer aquele trabalho que você faz com poesia”. Já tem um tempo que eu venho trabalhando com as poéticas negras femininas, Esmeralda Ribeiro, várias autoras negras. Eu falei “Ótimo!”. A gente ficou conversando sobre o que fazer e aí a Benilda me diz “Você está lembrando que esse ano é centenário de nascimento de Carolina Maria de Jesus?” Eu falei que não, não tinha me dado conta disso ainda. E ela “Você leu o “Quarto de Despejo”? Eu falei “Olha, eu tive esse livro nas mãos uma vez, lá atrás, muito jovem, e depois disso nunca mais tinha tocado na obra da Carolina”. Para dizer a verdade, eu pouco pensava, porque Carolina até então era tão silenciada, tão apagada, e a gente vem descobrir isso depois, a partir dessa demanda que a Benilda Brito me traz. Eu falei “Vamos por esse caminho”. E aí eu preparei uma performance de 15 minutos. Então eu fui correr atrás do “Quarto de Despejo”, fui atrás de saber quem era essa mulher, Carolina Maria de Jesus, e, na medida que eu vou me deparando com a história dela, eu vou ficando, assim, sem ar, diante da grandeza dessa mulher. E aí eu preparo para esse encontro da “Marcha das Mulheres” uma performance de 15 minutos, sozinha. Para a trilha sonora, eu descubro então que Carolina havia gravado um LP pela RCA Victor, e eu trago então algumas dessas canções para essa performance. Era eu sozinha empurrando um carrinho improvisado, cheio de parafernálias e alguns livros. E assim nasce o projeto “Memórias de Bitita”. Foi tão potente fazer aquela cena ali na preparação da “Marcha das Mulheres”, foi tão vibrante, me tocou tanto e tocou tanto as pessoas que estavam ali, que eu falei “Gente, esse negócio aí dá um caldo, né? Vale a pena investigar mais e aprofundar mais essa história”.
Daí eu mergulho, eu faço, literalmente, um mergulho na vida e na obra de Carolina Maria de Jesus. E aí eu vou ler todas as biografias até então escritas sobre ela, eu vou ler toda a obra de Carolina, eu vou pesquisar lugares da vida dessa mulher que não eram explorados nas biografias, eu vou conversar com o filho dela, o senhor José Carlos, que me conta de própria voz histórias sobre a mãe que ninguém tinha publicado ainda. Eu me lembro de ter tido longas conversas com ele por telefone. E aí eu falo “Mas eu sozinha em cena não basta”. E aí vem essa ideia de fazer com três atrizes, personificando ali Carolina Maria de Jesus em diferentes fases, em diferentes momentos, e de pensar que Carolinas somos nós mulheres negras, né? A partir daí nasce, então, o espetáculo “Memórias de Bitita, o Coração que não Silenciou”. Bitita, como todo mundo sabe, era o apelido dado a ela pelo avô, mas esse subtítulo que eu trago, “O Coração que não Silenciou”, é porque eu vejo nessa mulher, de fato, um coração que não silenciou, a despeito de toda a violência, de toda a miséria, a despeito de tudo que a população negra vive nesse país. Especialmente, quando a gente pensa em Carolina, nos anos pós-abolição, essa mulher não silencia, ela é uma voz que brada as injustiças sociais, ela é uma voz que brada a condição da mulher negra nesse país, ela é uma voz que denuncia onde nós fomos colocados nesse quarto de despejo da sociedade nesses anos pós-abolição. Enfim, Carolina é uma voz que ressoa em mim sempre, sabe?
MCB: Quais são as outras atrizes da montagem?
CR: Laís Lacorte, Eda Costa e eu. Depois Laís Lacorte precisa sair, aí vem a Juliane Lelis, junto comigo e Eda.
MCB: Carlandreia, agora indo para o cinema. Durante a pandemia, você fez alguns trabalhos de audiovisual, não é isso?
CR: Sim.
MCB: Tem o Ei!, não é isso?
R: Sim.
MCB: Como foram esses primeiros trabalhos? Foi uma produção sua?
CR: Sim. A gente, que é do teatro, sofreu muito durante a pandemia, porque a gente é da presença, né? Teatro é presença, e a necessidade de criar foi fazendo com que a gente fosse se virando, nas redes sociais, nessas outras mídias. Daí eu fiz o “Manifesto Blasfêmia”, que eu gravei no meu quarto. O Ei! é interessante porque era para ser um espetáculo de teatro, uma cena de teatro do “Cena Rascunho”, lá do Galpão Cine Horto, que o Adriano Borges, da Estação Criativa, me chama para escrever e dirigir. E aí era aquela loucura de ensaiar pelo zoom, virtualmente. Aí, no final das contas, eu falei “ Adriano, eu não aguento mais ensaiar assim”. A gente, então, foi ensaiar na rua e era uma loucura, né, essa distopia que a pandemia colocou na nossa vida, que era eu numa calçada e ele na outra, do outro lado da rua, porque a gente tinha pavor de se contaminar. A gente ensaiou durante vários dias assim, na rua e em espaços públicos, eu em um lado da rua e ele do outro. Em razão dessa questão do isolamento, o pessoal do Galpão Cine Horto falou “Olha, a gente não vai poder apresentar as cenas presencialmente, então vocês têm que fazer um vídeo de, no máximo, oito minutos, para a gente apresentar. Foi um dilema. Eu falei “Meu Deus do céu, como é que eu vou reduzir isso, cortar esse texto”. Porque era tudo muito encaixadinho, a dramaturgia que eu tinha construído, aí fiz aquele esforço maluco, consegui cortar o texto para oito minutos. Foi, inclusive, o Jacó que encontrou essa locação para a gente em Ibirité, que era uma casa abandonada. A história se passa em um lugar onde o personagem do Adriano seria o último sobrevivente de um Brasil destruído e esfacelado pelo fascismo, e a gente grava ali em uma noite, em plano sequência. Eu falei “Gente, filmar teatro é um horror, nunca fica bom, vamos tentar dar um mínimo de acabamento para essa filmagem, para não parecer uma filmagem tosca de teatro” Aí a gente chamou um câmera, enfim, montamos toda a estrutura necessária, e a gente filmou em uma noite, e eu falei ‘Olha, eu quero tudo em plano sequência’.E ainda brinquei com câmera ‘Olha, você vai plantar bananeira, você vai dar o triplo carpado, você vai se virar, mas eu não quero um corte que seja, vamos direto, plano sequência”. A gente conseguiu fazer, depois de várias tentativas ao longo da noite. Eu costumo dizer que esse curta-metragem conta a história do Brasil, das invasões coloniais à ascensão do nazifascismo.
MCB: Como acontece o cinema para você?
CR: Olha, eu sempre quis fazer, a vida toda. A vida toda eu quis ser atriz de tudo, em tudo onde cabe um trabalho de atriz eu quis estar. E o cinema, como eu falei no começo, sempre marcou muito a minha vida, foi vendo cinema na televisão que eu comecei a fazer teatro de quintal. Em Ibirité tinha um cinema, e eu via muitos filmes lá na tela grande, depois ele fechou, não sei por quê. Ibirité também recebia o famoso cinema de cigano, eles chegavam, montavam uma tenda e passavam filmes, e eu adorava quando ele chegava, eu ia assistir a esses filmes no cinema de cigano. Eu sempre quis fazer cinema, eu sempre achei fascinante, mas era o teatro que ia me levando, me conduzindo. Aí, muito tempo atrás, eu fiz uma participação em um curta, mas ele sumiu, nunca mais soube, nunca tive notícia, que era com o Tiãozinho. Depois, eu fiz uma pequena participação também no filme Revertere AD Locum Tuum (Armando Mendz) de Lotum, também muito pequena, muito pontual. Enfim, mas o desejo sempre latente. Até que em 2022, eu recebo uma ligação, uma mensagem do Jackson (Dias), da Ponta de Anzol Filmes, me chamando se eu queria fazer um teste para um filme, para um curta-metragem que eles iam gravar. Eu gravei, literalmente, sentada na minha cama, encostada na cabeceira, com um celular, o teste do Mãe do Ouro. Gravei, mandei, e aí eles falaram “Nó, é isso, queremos você”.
MCB: Você consegue reviver, lembrar-se da primeira experiência do set?
CR: Foi incrível olhar e ver aquela parafernália toda, que eu acho lindo. Se tem uma coisa que eu acho bonita é um set de cinema, as luzes, aquelas gambiarras de luz, a equipe inteira ali naquele balé, eu adoro esse ambiente. Eu falo que tem sido a minha cachaça predileta, ultimamente, estar em um set de filmagem. O Mãe do Ouro foi todo gravado à noite, eu chegava no set por volta das 5, 6 da tarde e voltava para casa às 6 da manhã. Eram longas noites de gravação, de espera, de conversas com o diretor, com o Maick Hannder, na construção dessa personagem. Eu me lembro que eu tinha uma sensação, um senso de responsabilidade muito grande, porque ali a gente está contando uma história real, mesmo que ficcionada. Aquele feminicídio aconteceu, de fato.
MCB: Familiar, não é isso? Do cineasta.
CR: Exatamente. E um tabu muito grande para ele. Eu me lembro de o Maick me colocar para ouvir áudios do pai e da mãe dele, que só depois de muitos anos conseguem falar sobre esse assunto, e eles contando como foi aquilo. Eu tenho muitas sensações do set do Mãe do Ouro, que foram muito importantes para que o filme acontecesse. Que foi ter ouvido esses áudios, que era nos momentos em que eu queria extrapolar para o choro, e ele me segurava e falava “Não, segura aí”, porque não passa do ponto. Porque é isso, toda a tensão do filme está aí, nessa dor absurda que a personagem Tiana está sentindo pelo feminicídio da irmã, mas ela precisa desvendar, ela precisa buscar. Então ela não consegue nem expor, extrapolar essa dor, né? Porque ela tem que resolver coisas, ela tem que entender o papel do marido ali e o sobrinho que vem parar na mão dela, o filho da irmã.
MCB: É uma estreia poderosa, com uma personagem poderosa, e você ainda ganha o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Brasília.
CR: Isso!
MCB: Como foi receber esse prêmio?
CR: Olha, até hoje eu estou processando isso. Porque é muito louco, eu nunca tinha ido ao Festival de Brasília, o festival mais longevo de cinema que a gente tem no Brasil, talvez na América Latina. E de repente, entre quase mil filmes, a gente é selecionado, eles selecionam, se não me engano, 12 filmes para a mostra competitiva no Festival, e Mãe do Ouro está lá. Para mim, já foi assim “Uau!” E aí, estamos lá, o filme foi exibido, quando terminou a exibição eu saí correndo, falei “Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém”. Eu estava lá com o meu amigo Maurício, um irmão que eu tenho lá em Brasília, ele e a companheira dele, a Beca, tinham ido assistir. Eu me lembro de falar assim “Me tirem daqui, por favor!” E a gente foi para um bar lá em Brasília. O povo ficou me procurando “Cadê a Carlandréia?” Eu sumi após a exibição dele lá no Festival. E aí foi muito interessante, os dias até a noite da premiação, porque as pessoas iam comentando “Nossa, que legal o seu trabalho, que lindo”, e eu “Tá, muito obrigada”. Eu me lembro dos meninos da Ponta de Anzol falando assim “É, eu acho que você vai ganhar o prêmio de Melhor Atriz com esse filme”. E eu falei “Para, eu não quero criar essa expectativa, para mim, estar aqui já é legal pra caramba” Até que, finalmente, chegou a noite da premiação e eu saí de lá com o Candango de Melhor Atriz, e foi uma surpresa incrível.
MCB: E esse prêmio lindo, que é Candango.
CR: Lindo, uma estatueta linda, muito significativa para o cinema nacional. Então, assim, eu fiquei muito honrada, muito feliz. Era uma noite de sábado, dia 7 de dezembro de 2024, e na hora que disseram o meu nome e o prêmio de Melhor Atriz para Carlandréia Ribeiro, eu só consegui pensar em cantar para Oxum. Eu subi lá no palco e recebi o prêmio cantando para ela, porque esse filme é sobre ela também, a personagem, por tudo que eu ouvi sobre ela, sobre a vítima de feminicídio, no caso, a irmã da Tiana, que seria Maria da Ajuda. Ela era uma mulher que carregava um arquétipo Oxumico muito grande, era uma mulher solar, era uma mulher que iluminava os lugares quando chegava e uma mulher que amava, amava muito. E quando ela se apaixona por esse outro homem, o então marido, enfim, que a vê como propriedade e acha que tem o direito de tirar a vida dessa mulher.
MCB: O próximo é o Mandiga? A gente fica meio perdido com as datas de filmagem das produções.
CR: Não, o próximo foi O Caderno de Avenca (Lira Ribas e Aisha Bruno), eu fiz com a Aisha Bruno, eu faço a mãe dela. É um filme super delicado, e essa personagem dessa mãe é muito linda. Depois eu faço Celebrai, que é do Maick Hannder também, está para estrear. Depois eu faço Madorna, com direção do Igor Gomes, e Disciplina, do Affonso Uchoa. Depois eu faço uma participação no Projeto Maravilhas, e aí eu faço Mandinga. É um negócio demorado para os filmes estrearem.
MCB: Porque o Mandinga acabou tendo uma pré-estreia.
CR: Teve uma pré-estreia no Cine Santa Teresa e está percorrendo vários festivais, está fazendo uma carreira muito bonita.
MCB: Você poderia falar sobre cada um desses filmes que você citou?
RC: Sim. Madorna, do Higor Gomes, uma produção da Ponta de Anzol, eu faço a mãe dos protagonistas, uma mulher severa, mais durona, mas também de muito coração, aquela que dá bronca, mas com afeto, gostei muito de fazer. O Caderno de Avenca, eu falei. O Disciplina é um filme interessantíssimo do Affonso Uchoa, ele se passa em uma escola pública, é a vida ali daqueles estudantes. A minha personagem, mais uma vez, é uma mãe que já perdeu um filho, para a vida, talvez, para as mãos do próprio Estado, essa violência contra a juventude negra. Ela é uma empregada doméstica que não tem vida, que vive num looping de trabalho e sofrimento muito grande, e o filho que restou para ela está desaparecido. Ela procura então a escola para pedir ajuda, e lá ela é tratada com desprezo, de uma forma tão violenta. E aí, mais uma vez, a gente vê como as instituições, como o racismo institucional opera sobre esses corpos, sobre essas mães negras e os seus filhos negros nesse país. O Afonso faz uma coisa muito bonita com a minha personagem, com a Marinalva, o que era para ser uma cena pequenininha, ele pega e transforma num grande looping dentro do filme, que fica muito forte, sabe? Que estabelece todo esse discurso sobre essas violências simbólicas, sobre o racismo institucional. Eu acredito que esse filme, na hora que ele chegar para o grande público, ele vai causar um impacto muito grande, não só pela história da Marinalva, mas por toda a história que esse filme traz sobre esse lugar, eu vejo como uma denúncia de como são as escolas. E isso a gente já sabe né? Não é à toa que a arquitetura das escolas se assemelham aos manicômios e aos presídios. Então, eu acho que vai ser um filme muito importante, quando ele chegar para todo mundo ver, vai gerar um debate muito importante.
MCB: Você citou também o Projeto Maravilhas (Cláudio Dias).
CR: Isso. No Maravilhas eu faço a mãe do Will (Soares), é uma cena bonita também, o personagem dele está para estrear um espetáculo, e a mãe é uma evangélica, caretona e tal, mas que quando ali, prestes a ver a estreia do filho, ela cede pelo afeto, sabe? E fortalece esse momento da vida dele com um gesto muito bonito assim.
MCB: E aí tem o Mandinga, de novo, sobre a violência sobre a mulher.
CR: Sim, da Mariana Starling. Eu faço uma advogada, e é muito interessante, porque essa advogada é meio que o ponto de virada do filme, a gente não pode falar muito para não dar spoiler, mas essa advogada é uma chave de virada na vida dessa personagem, que a Kelly Crifer faz maravilhosamente, que está sendo vítima desse assédio, dessa violência sexual.
MCB: E o próximo é o Natal do Silva?
CR: É o Natal do Silva, a série do Gabriel Martins, da Filmes de Plástico.
MCB: Que é o seu primeiro trabalho para a televisão?
CR: Sim, meu primeiro.
MCB: Como foi essa experiência? Como você vê essa ampliação do seu trabalho? Porque a gente sabe também que a televisão ainda pega um outro público. E essa parceria com a Filmes de Plástico? Como foi participar do Natal do Silva?
RC: Foi incrível, eu nunca tinha feito, eu vinha fazendo vários filmes desde então, mas um trabalho de longa duração, aqueles meses ali de imersão naquela história do Natal do Silva, do Gabriel Martins, a oportunidade de contracenar com grandes atores, que eu admiro muito, Rejane Faria, Carlos Francisco. A personagem tem uma riqueza e foi um processo muito bonito, porque a gente pôde ver o crescimento dessas personagens, e eu falo de mim, como que Lúcia, do primeiro set até o final, como que ela vai ascendendo, como ela vai se desenvolvendo e crescendo ali na história. A experiência de trabalhar com uma produtora, como a Filmes de Plástico, que vem de grandes sucessos, como Marte Um, é um ponto na minha carreira que eu considero muito importante, que me deixa com grandes expectativas. Como você está falando, é o primeiro trabalho que vai para a TV, estou cheia de expectativas, doida para ver esse resultado, de como ficou.
MCB: E essa importância das produtoras, a Filmes de Plástico, a Ponta de Anzol, que são essas produtoras que a gente tem aqui em Minas Gerais. Por serem daqui, mas não só por isso, mas também pela trajetória dos seus integrantes, esse olhar para a cidade e para quem habita e quem faz essa cidade..
RC: Isso eu acho sensacional, pensar que a cidade é esse cenário privilegiado por essas duas produtoras e pensar nesse olhar que é de trabalhar com os artistas daqui. Aqui a gente tem grandes artistas, sempre tivemos grandes artistas, grandes atores, grandes atrizes. Quando a gente pensa na dimensão nacional do cinema, é tão importante o olhar dessas produtoras, da Filmes de Plástico, da Ponta de Anzol, de entender a importância de valorizar essa mão de obra incrível que a gente tem aqui. Eu acho que eles ganham muito em fazer isso, o cinema nacional ganha porque também diversifica. Porque acaba que a gente vê televisão, a gente vê novela, a gente vê os filmes nacionais, e é meio que sempre o mesmo rosto ali. E quando essas produtoras ascendem regionalmente e, em Minas Gerais, eu fico vendo assim, há alguns anos atrás a gente tinha cineastas que produziam aqui, mas a gente não tinha essa efervescência.
MCB: Na nossa conversa aqui, você falando do “Teatro Vivo”, do “Olho na Rua”, do trabalho lá no Sindicato dos Bancários, falamos sobre o registro do tempo. E essas produções aqui, da Ponta de Anzol, da Filmes de Plástico, é do tempo e do lugar de que somos. Você já parou para pensar que tem uma coerência grande com a sua trajetória e esses trabalhos?
RC: Tenho pensado, Eu esqueci de contar que, recentemente, eu acabei de filmar o Jardim Vitória, um longa-metragem da Ana Carolina Soares, com um elenco de mulheres muito incríveis, Camila Moreno, Lira Ribas, Herlen Romão, Bramma Bremmer. O Jardim Vitória é um filme de mulheres muito fortes, de mulheres enfrentando as batalhas do dia a dia. E aí, quando você me fala isso, eu tenho sim. Às vezes, eu chego em casa de madrugada, eu tenho muita insônia, eu viro muita madrugada de pirações, de locubrações e, às vezes, criando mesmo, escrevendo. Tem também um trabalho recente, que acho que faz parte disso tudo que a gente está falando, que foi ter escrito e dirigido o espetáculo “Corpo Preto e Surdo”, de trabalhar com uma atriz surda pela primeira vez na vida, sem falar libras. Foi uma experiência de desenvolver várias metodologias para poder alcançar toda a dimensão que o trabalho precisava.
MCB: Tem o “Encontro das Águas”, também, não é isso?
RC: O “Encontro das Águas” é um solo que eu estou fazendo, em que eu trago a minha poética junto com de outras mulheres, de Conceição Evaristo. O “Corpo Preto Surdo” está virando audiovisual agora, a gente está fazendo um documentário, entrei no edital BH nas Telas. Ele está virando um documentário justamente para registrar essas metodologias, esses processos. Então eu tenho pensado muito nisso, de como a Carlandréia, lá do quintal, do seu Valdemar, meu avô, da dona Bárbara e do seu Vaguinho, minha mãe que amava livros, que era cantineira de escola, o meu pai, louco por futebol e motorista de caminhão. O tanto que esses dois me deixaram ser livre, a importância do meu pai e da minha mãe terem entendido a filha deles, lá atrás ainda, de que eu precisava voar, de que eu precisava criar caminhos outros. Todo esse percurso que eu vim fazendo, passando pelo meu processo de politização, pelo meu letramento racial, de me reconhecer negra, de saber a importância daqueles que me trouxeram até aqui, esses movimentos sancofianos que a gente fica fazendo, das nossas trajetórias, e tudo que veio me trazendo para esse momento aqui. Esse ano eu completei 60 anos, e é tão maluco eu pensar “Gente, eu já sou uma velha mulher”. A minha cabeça não é uma cabeça velha, e eu acredito que não vai ser nunca, porque eu aprendi muito cedo que para ser, a gente precisa estar no nosso tempo, viver, presentificar, estar presentificado no nosso tempo, mas também na ancestralidade que nos sustenta aqui. Ser de Candomblé, ter ido para o Candomblé nesse percurso todo. Eu venho de uma família católica, de uma parte da família da minha mãe evangélica, e eu sempre fui meio até aquela que não estava nem em um lugar nem no outro, mas que num determinado momento, já mulher madura, eu compreendo, eu recebo várias intuições, chamados e percepções que me fazem entender esse lugar da ancestralidade, de como que o Candomblé tem feito diferença na minha vida, no meu modo de ser e de estar no mundo.
MCB: Você tem um projeto importante com o Senegal, o“Transatlântico”.
RC: O Projeto “Diálogo Transatlântico”, ter feito esse descruzamento atlântico, esse movimento de ir em casa. Com o Senegal, e que hoje já alcança outros lugares do Continente Africano em termos de diálogo: Moçambique, Nigéria, Mali, Burkina Faso. Tenho estado em diálogo permanente com esses lugares, por meio de artistas, de arte- educadoras, de atores e músicos.
MCB: E também, somando isso tudo, essa escrita maravilhosa que você tem, essa sua relação com o Conceição Evaristo, a forma como você escreve, que é muito sofisticada, muito forte. Não gosto de potente, gosto de forte, que eu acho que traduz nessa escrita tudo que a gente está falando aqui, que você está falando de vivência, não é isso?
RC: É.
MCB: De vivência preta.
RC: De vivência preta, vivência de uma mulher preta, mãe de um filho, de um homem já adulto, atualmente. Irmã de outro, Lucas, meu filho, e Juninho, meu irmão, mas que são dois meninos que eu criei, dois homens pretos, um companheiro incrível, super criativo, que também me sustentou e me deu base. Por exemplo, no “Memórias de Bitita” a direção do Jacó é de uma sensibilidade tão grande, eu sempre brinquei com ele que a energia feminina dele é muito mais latente que a minha. Porque ele cuida do lar, eu não sei de nada do lar, nunca soube direito, eu sempre fui do mundo, sempre fui da estrada, muito mundana. O Jacó sempre foi muito do cuidado com os meninos, com a comida, com as plantas, e eu sempre fui mais da rua, da madrugada.
MCB: Na rua também, nos movimentos políticos, por exemplo, você fez curadoria do FAN BH - Festival de Arte Negra de Belo Horizonte.
RC: Sim.
MCB: Com a Black Josie?
RC: Black Josie e a Karu Torres..
MCB: Ou seja, eu, eu vejo uma coerência muito grande de um movimento que você fez com a sua vida e que foi construindo esse arcabouço todo.
RC: Eu tenho uma relação com o FAN que é uma coisa que eu não sei nem explicar direito. Quando ele começa em 1995 eu fui tomada por aquele arrebatamento de tudo, porque o primeiro FAN, para quem viu, para quem viveu, foi um encontro com um continente de uma amplitude absurda, de que a gente pouco tinha noção daquela diversidade toda, daquilo tudo que a gente teve aqui. E aí começa a minha relação com esse Festival em 95, mesmo ano em que se celebrava 300 anos da imortalidade de Zumbi. Eu participo então da organização da “Marcha Zumbi de Palmares”, que confluiu 100 mil pessoas negras em Brasília. Eu abro o show da “Marcha Zumbi de Palmares”, um palco imenso montado ali de costas para o Congresso Nacional, que recebe aquela marcha. Um palco onde tinha Milton Nascimento, Camila Pitanga, grandes lideranças e artistas nacionais importantíssimos. Eu abro com uma música que eu adoro, havia feito numa mesa de um boteco ali da Rua da Bahia, com o Milton Borges, que era um reggae. Então assim, a minha relação com o FAN vem crescendo como espectadora, como artista, como coordenadora do Ojá, que é esse mercado que acontece dentro do Festival. Como curadora em duas edições, não lembro se é em 2013, acho que 2013 e 2017 como curadora, mas sempre presente ali coordenando o Ojá. Sempre fazendo a conexão com o Continente, porque a gente fala pouco das nossas histórias, as nossas histórias negras, primeiro esses processos de apagamento, os epistemicídios que a gente sofre. Eu sempre me reporto ao Fesman, que é para mim o pai e a mãe do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, que acontece lá em 1968, com Leopoldo Senghor, com aquela galera panafricanista que estava ali pensando, uma África que se expandia para se reconectar com as suas diásporas.
MCB: Para a gente encerrar, as duas únicas perguntas fixas do site: Qual foi o último filme brasileiro a que você assistiu?
RC: O último filme brasileiro que eu assisti…Bom, eu queria falar de um que eu vi em Brasília e que eu amei, que é Outra Vez no Oeste (Erico Rassi), parece que até entrou na lista para o Oscar agora, que eu amei. O último filme brasileiro a que eu assisti foi com uma turma aqui de Belo Horizonte, o Tudo o que você podia ser (Ricardo Alves Jr), com Aisha Bruno, Will Soares
MCB: E por fim, qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e por quê?
RC: Zezé Motta. A Zezé é uma dessas referências. Assim como eu disse que quando eu assistia televisão na minha infância o Samy Davis Jr. era uma referência preta para mim no cinema, quando eu vejo Zezé Mota, de tudo que ela fez na televisão e no cinema e também na música, ela é essa referência para mim. Eu fiquei muito feliz porque no Festival, na 57ª edição do Festival do Cinema Brasileiro de Brasília, ela foi homenageada e foi a edição que eu fui pela primeira vez com um filme feito aqui em Belo Horizonte e voltei de lá com o Candango. Então, eu acho que serviu para estabelecer de fato na minha vida essa mulher como uma grande referência, de uma artista negra, mulher brasileira.
MCB: Carlandréia tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer acrescentar?
RC: Primeiro, eu quero agradecer muito a você, meu amor, meu amigo queridíssimo que eu amo tanto. E agradecer a tudo, ao universo, a tudo que me trouxe até aqui, a todos que fizeram de mim quem eu sou, sabe? Eu, agora que fiz 60 anos, eu fiz um texto que eu publiquei no meu Instagram que eu digo, assim “Eu agradeço a todo mundo que, de alguma maneira, tocou minha vida para o bem ou para o mal, eu agradeço”, e é isso. E eu agradeço a alegria dessa oportunidade de poder exercer a minha profissão, sabe? De fazer o que eu mais amo fazer na vida, que é atuar. E a delícia que é fazer cinema, né? Assim, o que eu sempre quis e agora ele chegou e eu quero que ele permaneça até onde eu puder.
MCB: Muito obrigada pela entrevista.
RC: Obrigada eu.
Entrevista realizada presencialmente no dia 20 de setembro de 2025.
Foto: Acervo Pessoal

Entrevista realizada presencialmente no dia 20 de setembro de 2025.
Foto: Acervo Pessoal