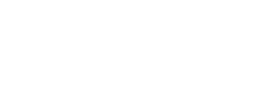Vanessa Santos
 Vanessa Santos nasceu em Belo Horizonte (MG). É professora de cinema, curadora, produtora, pesquisadora, gestora e nome destaque na reflexão e difusão do cinema. Com formação em jornalismo, mestrado em comunicação e doutorado em pesquisa sobre dispositivos móveis para espacialização e personalização de narrativas, tem trajetória importante na reflexão cinematográfica. “Meu caminho para o cinema eu diria que se deu numa espécie de infiltração lenta e processual. Cresci em um ambiente onde as conversas, a escuta e as histórias, sejam elas contadas, lembradas, inventadas, tinham muito valor. Essa facilidade para a comunicação oral e a curiosidade pelas pessoas e pelo mundo me levou a cursar jornalismo. Naquela época ainda não havia em Belo Horizonte uma graduação em Cinema e Audiovisual, mas desde sempre me interessava muito o universo da cultura e das imagens, estáticas e em movimento”.
Vanessa Santos nasceu em Belo Horizonte (MG). É professora de cinema, curadora, produtora, pesquisadora, gestora e nome destaque na reflexão e difusão do cinema. Com formação em jornalismo, mestrado em comunicação e doutorado em pesquisa sobre dispositivos móveis para espacialização e personalização de narrativas, tem trajetória importante na reflexão cinematográfica. “Meu caminho para o cinema eu diria que se deu numa espécie de infiltração lenta e processual. Cresci em um ambiente onde as conversas, a escuta e as histórias, sejam elas contadas, lembradas, inventadas, tinham muito valor. Essa facilidade para a comunicação oral e a curiosidade pelas pessoas e pelo mundo me levou a cursar jornalismo. Naquela época ainda não havia em Belo Horizonte uma graduação em Cinema e Audiovisual, mas desde sempre me interessava muito o universo da cultura e das imagens, estáticas e em movimento”.
Professora reconhecida de cinema, foi também coordenadora de Cinema e de audiovisual, na UNA, onde acompanha de perto os estudantes egressos no audiovisual, assim como o avanço das tecnologias e dispositivos. “Entrei para a coordenação do curso de Cinema e Audiovisual da Una em 2019, e encontrei uma sala de aula muito diferente daquela em que me formei. Era um ambiente claramente mais diverso, em termos de classe, gênero e raça. Por isso mesmo, é difícil falar em um perfil único de estudante. Havia, na verdade, uma pluralidade de mundos, trajetórias e expectativas relacionadas ao cinema coexistindo ali. Estou falando de experiências e universos muito distintos… Uma parte importante do corpo discente era formada por jovens vindos de escolas públicas, que chegaram à universidade graças ao Prouni e às políticas de acesso ao ensino superior. Muitos trabalhavam durante o dia para conseguir se manter no curso. Alguns vinham de cidades da Região Metropolitana, encarando longos deslocamentos diários. Em comum, muitos destes carregavam a alegria e o orgulho de serem os primeiros da família a ingressar em uma graduação e, mais especificamente, em um curso na área das Artes".
A experiência no cinema é ampla: coordenou o Cine Santa Tereza - de junho de 2022 a dezembro de 2024 -, cinema público e um dos poucos de rua em Belo Horizonte; atua na produção e na direção de produção, em filmes como Kevin, de Joana Oliveira e Praia Formosa, de Júlia De Simone - “Atuar na direção de produção de Kevin foi uma experiência transformadora, tanto profissional quanto pessoal. Filmar em Uganda exigiu um deslocamento profundo, que não é só geográfico, mas também cultural e afetivo”; na gestão de projetos da produtora Anavilhana; e na curadoria de festivais e mostras importantes, como FestCurtasBH, Semana do Cinema Negro, Forumdoc BH. “O processo de seleção é, nesse sentido, uma escuta, escuta das obras, das vozes que elas carregam e também das pessoas que compõem a equipe, com suas formações, repertórios e dissensos. E é nesse atrito, delicado, político, e por muitas vezes tenso também, que se desenha mostras que reflitam não apenas uma soma de filmes, mas uma visão crítica do que está pulsando no universo do cinema”.
Vanessa Santos integra galeria de pensadores negros que vêm fazendo toda a diferença na reflexão e difusão do cinema negro, como Tatiana Carvalho Costa, Janaina Oliveira, Lorena Rocha, Viviane Pistache, Heitor Augusto, Gabriel Araújo, Kênia Freitas e Juliano Gomes. “Sim, a presença de profissionais negras e negros na curadoria tem crescido nos últimos anos, mas ainda está longe da proporção necessária para transformar estruturalmente o campo. Esses nomes que você cita, e tantos outros que vêm se consolidando, não representam apenas uma ampliação numérica, representam a emergência de outra epistemologia da curadoria. É uma curadoria que parte de outras referências, de outros repertórios de mundo, de outras formas de sensibilidade e de leitura da imagem. E isso altera completamente o modo como olhamos, organizamos e contextualizamos o cinema”
Vanessa Santos conversou com o site Mulheres do Cinema e repassou sua trajetória: a formação, o interesse pelo cinema, o ofício como professora, o papel do cinema na formação das pessoas, a experiência como coordenadora de sala de cinema, a produção, a curadoria, o Cinema Negro, e muito mais.
Mulheres do Cinema Brasileiro: Para começar: nome, data de nascimento, cidade em que nasceu e formação.
Vanessa Santos: Meu nome é Vanessa Santos, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de junho de 1980. Sou Doutora em Comunicação pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, Espanha, com pesquisa dedicada às narrativas digitais, geolocalizadas e interativas. Tenho também o título de mestre por esta mesma Universidade, no Programa Interdisciplinar de Ciência Cognitiva e Meios Interativos, em que pesquisei aplicações de realidade aumentada e uso de dispositivos móveis para espacialização e personalização de narrativas. Anterior a isso, cursei um mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, na linha de pesquisa em Imagem e Som, com foco no documentário brasileiro da virada do milênio, e suas estratégias narrativas e estéticas na representação do espaço urbano. Sou graduada em Jornalismo, pela antiga FAFI-BH, hoje Centro Universitário UNI-BH.
MCB: Quando e como se deu o direcionamento de sua carreira para o cinema?
VS: Meu caminho para o cinema eu diria que se deu numa espécie de infiltração lenta e processual. Cresci em um ambiente onde as conversas, a escuta e as histórias, sejam elas contadas, lembradas, inventadas, tinham muito valor. Essa facilidade para a comunicação oral e a curiosidade pelas pessoas e pelo mundo me levou a cursar jornalismo. Naquela época ainda não havia em Belo Horizonte uma graduação em Cinema e Audiovisual, mas desde sempre me interessava muito o universo da cultura e das imagens, estáticas e em movimento. Ainda na faculdade, acabei conhecendo e me juntando a outros colegas que também tinham esse mesmo interesse, e naquela época foi que comecei a fazer oficinas, cursos livres e a trabalhar voluntariamente em filmes de outras pessoas. Foi também neste período que tive a oportunidade de fazer um documentário chamado Aqui Estaremos Bem, sobre a Colônia Santa Isabel em Betim. Ainda que com recursos próprios e contando com a atuação voluntária de amigos nesta realização, o filme acabou ganhando repercussão: Ney Matogrosso veio a Belo Horizonte, gravou algumas cenas e fez a narração do documentário, fizemos um lançamento na sala Humberto Mauro, exibimos o filme na Rede Minas e licenciamos ele para o Canal Brasil. Tudo isso, de certa maneira, me incentivou bastante a seguir nesse caminho do audiovisual. Depois de me formar, decidi tentar o mestrado em cinema, mas tive que seguir trabalhando com jornalismo e deixar os estudos quase que como um hobby, ou um sonho a ser trilhado. Pouco a pouco, fui tomando gosto e me envolvendo com o ensino do audiovisual em projetos sociais. Foi nessa atuação junto ao que é conhecido como vídeo comunitário, que percebi como o cinema era uma ferramenta poderosa de mobilização social e de criação coletiva. Trabalhei em ONGs e também em um projeto do PNUD - Programa das Nações Unidas e Ministério da Cultura, na implementação do Programa Cultura Viva/Pontos de Cultura. Foram 3 anos rodando o Brasil em processos formativos em audiovisual; envolvida em uma ação de inclusão digital muito pautada por um ativismo em defesa do uso e do desenvolvimento de softwares e hardwares livres. Essas vivências deste projeto chamado Cultura Digital foram muito importantes para mim, me levaram a outras formas de pensar o cinema, não só em seus processos de produção, mas também em sua interface com a tecnologia e as dinâmicas interativas, quase artesanais, em uma lógica da bricolagem e do “Do It Yourself”. O tempo que passei na Europa, o mestrado e o doutorado que fiz lá foram muito consequência disso, tanto em termos de pesquisa tecnológica quanto de prática e desenvolvimento artístico. Quando voltei para o Brasil é que esse direcionamento, digamos que definitivo, para o cinema aconteceu. Fui entendendo que o cinema era efetivamente um espaço de trabalho e uma possibilidade real de atuação, e digo real porque esse é um período muito marcado por políticas afirmativas que acaba por abrir portas que antes não pareciam abertas para mim. Pouco a pouco, fui aproveitando as oportunidades que surgiram, adentrando nesse setor e também repensando e afirmando o meu lugar nele. Desde então, tenho atuado em diversas frentes, no ensino, na curadoria e na produção cinematográfica.
MCB: Você é Doutora em Comunicação, em que pesquisou narrativas digitais interativas. Poderia falar um pouco sobre essa pesquisa?
VS: Minha pesquisa acadêmica está muito relacionada ao interesse por formas inovadoras de contar e de experimentar histórias. Investigo como as narrativas audiovisuais se transformam diante da interatividade, especialmente em plataformas digitais. Estudei como dispositivos móveis e redes sociotécnicas reorganizam experiências de fruição e criam novos modos de engajamento narrativo. Interessei-me sobretudo por formas não lineares, narrativas que se desdobram conforme a interação do público, narrativas corporificadas em que a audiência precisa interagir com o corpo, pelo espaço. Interessa-me, sobretudo, a dimensão político-estética dessas formas narrativas. Pensar interatividade é pensar agência, participação, autoria ampliada, questões que também atravessam minha atuação e aquilo que acredito dos processos sociais e artísticos. No mestrado em Barcelona, minha pesquisa estava inserida no contexto de um projeto do Fundo Europeu chamado CEEDs - Collective Experience of Empathic Data Systems, dedicado ao estudo de como minerar, gerar sentido, sistemas e narrativas personalizadas a partir de grandes bases de dados. Meu projeto especificamente trabalhava com o banco de dados do Holocausto, desenvolvendo um aplicativo de realidade aumentada para o Bergen-Belsen Museum, na Alemanha. No doutorado, sigo com essa pesquisa voltada para a espacialização e a geolocalização de dados, mas meu foco passa a ser pensar em como essas narrativas podem ganhar o espaço urbano, concebido como um espaço híbrido em que a virtualidade dialoga e se sobrepõe à materialidade das cidades, ajudando a desvelar camadas de histórias e de tempos, e criando outros sentidos para nossas vivências nestes espaços. Fui para Brighton trabalhar e acompanhar um grupo inglês que é referência em projetos desenvolvidos nessa área, chamado Blast Theory. Projetos que aliam performance, audiovisual, jogos e tecnologia. Quando voltei a Barcelona, estive em residência artística em um centro de produção e pesquisa em artes visuais, chamado Hangar. Lá, e no contexto da pesquisa do doutorado, tive a oportunidade de desenvolver outro trabalho que marcou minha trajetória profissional: “Chronica Mobilis” - uma performance audiovisual interativa, geolocalizada e com dinâmica de jogo. Esse trabalho diz muito sobre meu pensamento sobre essas formas audiovisuais que saem dos espaços fechados para ganhar o espaço público, que nos faz voltar o olhar para as vivências e as questões importantes no contexto das cidades. “Chronica Mobilis”, por exemplo, tem como tema central a gentrificação de um bairro de Barcelona, e leva as pessoas para a rua para vivenciar e nos mostrar como isso se dá ao longo dos tempos. Meu foco nessas pesquisas de mestrado e doutorado estiveram muito em como utilizar a arte locativa enquanto forma de artivismo, seja para refletir sobre o espaço urbano ou sobre a própria experiência humana.
MCB: Você foi coordenadora de Cinema e Audiovisual do Centro Universitário UNA. Qual é o perfil do estudante que, à sua época no cargo, procurou a cadeira de cinema na Faculdade?
VS: Entrei para a coordenação do curso de Cinema e Audiovisual da Una em 2019, e encontrei uma sala de aula muito diferente daquela em que me formei. Era um ambiente claramente mais diverso, em termos de classe, gênero e raça. Por isso mesmo, é difícil falar em um perfil único de estudante. Havia, na verdade, uma pluralidade de mundos, trajetórias e expectativas relacionadas ao cinema coexistindo ali. Estou falando de experiências e universos muito distintos… Uma parte importante do corpo discente era formada por jovens vindos de escolas públicas, que chegaram à universidade graças ao Prouni e às políticas de acesso ao ensino superior. Muitos trabalhavam durante o dia para conseguir se manter no curso. Alguns vinham de cidades da Região Metropolitana, encarando longos deslocamentos diários. Em comum, muitos destes carregavam a alegria e o orgulho de serem os primeiros da família a ingressar em uma graduação e, mais especificamente, em um curso na área das Artes. Havia também estudantes que buscavam uma espécie de recomeço ou de realinhamento de rota. Pessoas que haviam iniciado graduações em áreas como exatas ou biológicas, muitas vezes para atender expectativas familiares, e que decidiram finalmente assumir o desejo antigo de fazer cinema. Um terceiro aspecto que marcou muito foi também a presença significativa de estudantes que precisavam de apoio psicopedagógico. Os cursos da área de artes, de modo geral, tendem a acolher subjetividades mais complexas, e o cinema se mostrava um espaço de abrigo e de expressão para esses jovens. O que une esses perfis tão distintos, penso eu, é um sentido de propósito de dominar a técnica para alcançar seu sonho, seja o de atuar em grandes produções do cinema industrial, ou o de construir caminhos mais autorais no cinema independente. Todos, acredito, chegam ali movidos por uma vontade de encontrar, no audiovisual, um espaço possível de criação e expressão.
MCB: Poderia citar alguns desafios que uma Faculdade de cinema enfrenta para dar conta das demandas do setor, vide a multiplicidade de dispositivos e da intersecção de linguagens que marcam o audiovisual brasileiro contemporâneo?
VS: Um dos principais desafios de uma Faculdade de Cinema hoje, na minha opinião, é formar profissionais capazes não apenas de operar novos dispositivos, mas de compreender os atravessamentos éticos, estéticos e sociopolíticos dessas linguagens. Atualizar o parque tecnológico é muito importante, mas não se trata só disso e sim de pensar a tecnologia de forma crítica, o que inclui discutir algoritmos, políticas de plataforma, direitos autorais, acessibilidade, sustentabilidade das carreiras e as desigualdades estruturais que atravessam o audiovisual brasileiro. Há também o desafio da heterogeneidade dos estudantes. A universidade precisa criar estratégias pedagógicas que acolham essa diferença, sem reproduzir exclusões e sem nivelar por baixo. Há, ainda, o desafio que não é só dos nossos tempos, que trata-se de conectar formação e mercado. O audiovisual brasileiro contemporâneo é marcado por intersecções de linguagens, parcerias interdisciplinares, modos coletivos de criação e circuitos diversos de financiamento. Preparar os estudantes para esse ecossistema demanda uma formação que articule técnica, pensamento crítico, pesquisa e capacidade de colaboração. Formar para o audiovisual hoje é lidar simultaneamente com a rapidez da inovação tecnológica, a complexidade dos novos ecossistemas de criação e a urgência de formar profissionais que não apenas executem, mas que pensem, e sobretudo se engajem e lutem pelo cinema nacional.
MCB: Você atua há muitos anos como professora de cinema. O que mais te fascina nessa profissão? Ou seria também um ofício?
VC: Ser professora, para mim, é mais do que ocupação, é um ofício. Me fascina acompanhar o desenvolvimento individual de cada um. Na graduação, são 4 anos juntos; e convivemos com esses alunos em um dos momentos mais significativos da vida, de formação de identidade, de posicionamento no mundo. É muito bonito ver um estudante em busca de algo que ele almeja na vida, não só em termos profissionais, mas de algo que faça sentido para eles enquanto sujeitos no mundo. E o conhecimento ilumina caminhos e liberta de dogmas e pensamentos limitantes. É gratificante interagir com isso, poder compartilhar o que se sabe, em especial com aqueles historicamente privados deste acesso ao ambiente universitário. É gratificante poder descobrir junto. É isso, eu aprendo a aprender junto com eles e depois o olho brilha quando a gente vê eles seguindo o rumo que escolheram na vida, se lançando mesmo em busca daquilo que querem. Sonhar junto com eles é muito bonito!
MCB: Nas décadas de 1950 a 1990, sobretudo, o cinema tinha um papel de formação existencial na vida das pessoas. O formato de fruição pelas salas de cinemas foi se alterando até chegar no formato atual de salas de shopping e streamings. Como você vê esse papel do cinema atualmente na formação das pessoas?
VS: O cinema talvez não ocupe mais aquela centralidade institucionalizada que marcou o século XX, a ida ao cinema como ritual social, como programa de família, como acontecimento urbano. Mas isso não significa que sua potência se perdeu. O que mudou foi a forma de acesso, não a sua capacidade de formar, sensibilizar e transformar. O cinema permanece essencial como experiência sensível. Hoje vivemos imersos em um fluxo incessante de imagens, mas a maior parte delas não nos convida nem à reflexão nem ao espanto, são imagens rápidas, funcionais, descartáveis. O cinema, ao contrário, ainda é uma das poucas linguagens que permite a experiência do mergulho, de desacelerar, de sentir o tempo, de se colocar diante de outras vidas e outras perspectivas com uma atenção que o cotidiano muitas vezes não permite. E se, por um lado, essa experiência cinematográfica hoje se dá de modo mais fragmentado, híbrido, multiplataforma, por outro lado ela se tornou mais democrática. O cinema chega a mais lugares, encontra mais pessoas e cria novas formas de presença. E ainda é profundamente transformador quando o filme encontra quem precisa encontrá-lo. Acredito também que precisamos reivindicar o cinema como lazer. Há algo importante em reconhecer que a fruição cinematográfica não precisa ser sempre “formativa” ou “transformadora” no sentido clássico. Ela pode ser descanso, prazer, fuga, companhia; um espaço de respiro e de imaginação, e isso também educa, também forma e amplia nossas experiências no mundo, quando um filme faz sentido para sua trajetória, ajuda a nomear algo, a simbolizar uma experiência, ou simplesmente a viver uma hora e meia de pausa. A experiência mudou, mas o cinema permanece como essa arte que nos devolve a nós mesmas, pelo pensamento, pela emoção ou pelo puro prazer de assistir.
MCB: Você coordenou o Cine Santa Tereza, um dos poucos cinemas de rua de Belo Horizonte. Como você avalia essa experiência?
VS: O Cine Santa Tereza, por ser um dos poucos cinemas de rua de Belo Horizonte, carrega uma dimensão simbólica e afetiva muito particular: ele é, ao mesmo tempo, patrimônio, política pública e encontro comunitário. Programá-lo significou pensar o cinema como instrumento de acesso cultural, de memória coletiva e de afirmação da diversidade. E a premissa de democratizar o acesso vem, tanto no sentido de ampliar o contato do público com uma programação diversa e qualificada, quanto no sentido de abrir espaço para que cineastas independentes possam exibir suas obras numa sala de cinema, rompendo, ainda que parcialmente, o gargalo histórico da distribuição no Brasil. Em um cenário em que grande parte dos filmes autorais, regionais ou de baixo orçamento raramente chegam ao circuito comercial, cinemas públicos como o Cine Santa Tereza funcionam como um lugar onde esses filmes podem encontrar seus públicos. Esse entendimento me exigiu olhar para a cidade em suas camadas: seus públicos, seus territórios, seus repertórios e desigualdades. A curadoria ali não era apenas estética; era também social, pedagógica e política. O desafio foi construir uma programação que acolhesse desde cineastas locais até retrospectivas internacionais. Há uma necessidade de exercitar uma escuta contínua e um compromisso real com a pluralidade e a inclusão. Aprendi muito sobre políticas culturais, sobre a complexidade da gestão pública e sobre como uma sala de cinema pública pode, e deve, funcionar como um equipamento vivo, orientado pelo interesse público. Houve muitos desafios, como a limitação de recursos, a necessidade de formação e fidelização de públicos, a articulação institucional e a manutenção de uma programação constante e de qualidade. Foi uma experiência fundamental na minha trajetória e que marcou profundamente minha compreensão do que significa pensar cinema no Brasil hoje.
MCB: Você tem trajetória também como técnica de cinema: Diretora de Produção e Produtora Executiva. Como e quando se deu essa passagem para atrás das câmeras?
VS: Minha relação com a produção começa ainda na faculdade, onde eu já me envolvia nessas produções e projetos mais amadores que realizávamos. Durante os anos trabalhando com formação audiovisual em oficinas, eu também atuava muito nessa perspectiva técnica, sobretudo filmando e editando; acabei me tornando uma referência na edição de vídeo com softwares livres. Esses processos formativos são profundamente coletivos e a divisão entre as funções é porosa, todos fazem um pouco de tudo, e eu naturalmente ocupava esse lugar de articulação e condução do processo. A transição para a produção profissional, em equipes maiores e com funções bem delimitadas, acontece em 2018, quando a Joana Oliveira me convida para assumir a Direção de Produção de Kevin, longa-metragem coproduzido pela Anavilhana. Essa experiência amplia completamente meu repertório, era uma equipe reduzida, mas havia a complexidade de produzir uma filmagem que aconteceria em um país estrangeiro: Uganda. Depois de Kevin, voltei a trabalhar com a Anavilhana na produção executiva de Praia Formosa, longa-metragem da Julia De Simone. Nesse caso, já se tratava de uma produção de grande porte, com uma equipe expressiva e demandas significativas de produção. Recentemente, trabalhei na coordenação de produção e produção executiva de outros dois filmes de diretoras mulheres: Minha África imaginária, da Tatiana Carvalho; e o primeiro longa da cineasta Everlane Morais, ainda em fase de pós-produção. Meu interesse é atuar em produções e projetos que para mim têm alguma ressonância.
MCB: O longa Kevin (2021), de Joana Oliveira, foi rodado em Uganda. Como foi atuar na produção desse filme e como foi essa parceria com a cineasta?
VS: Atuar na direção de produção de Kevin foi uma experiência transformadora, tanto profissional quanto pessoal. Filmar em Uganda exigiu um deslocamento profundo, que não é só geográfico, mas também cultural e afetivo. Estávamos lidando com outro país, outra lógica de produção, outro ritmo de vida e de trabalho, outras dinâmicas de comunicação. Nada era exatamente “pré-fórmula”; tudo dependia de diálogo constante, escuta e adaptação. E isso, para mim, sempre foi uma parte bonita da produção, a possibilidade de criar pontes. Era uma equipe pequena, majoritariamente de mulheres, algumas pessoas negras neste grupo, e o mais fantástico de tudo, estávamos filmando em Uganda! Como mulher negra, estar naquele território africano, acompanhando uma história e personagem marcada pelo universo e questões femininas, teve um impacto íntimo. A produção não era só gestão e logística, era também uma experiência de reconhecimento e de encontro com outras formas de estar no mundo. Joana foi fundamental para que esse processo acontecesse de maneira tão fluida. Ela é uma diretora que confia na equipe, que trabalha com afeto e cuidado, e que cria uma atmosfera em que a colaboração é realmente possível.
MCB: Em Praia Formosa (2024) você volta a trabalhar com uma mulher, a cineasta Julia De Simone. Como foi atuar na produção executiva desse filme, e que tem, mais uma vez, a mulher no centro da ação?
VS: Praia Formosa foi minha segunda experiência trabalhando com uma diretora mulher em um longa-metragem, e isso não é um detalhe, significou aprofundar uma maneira de produzir que valoriza a escuta, o cuidado e a complexidade das histórias centradas em mulheres. Como produtora executiva, meu papel era articular condições para que o filme existisse. Filmamos no Rio de Janeiro, e foi muito bonito ver uma equipe tão diversa neste filme, com pessoas de Minas Gerais, do Rio, da Bahia. Foi importante ver as diretorias de área sendo ocupadas por mulheres, ver uma equipe diversa em termos de gênero e também de raça, ver pessoas pretas em posições criativas importantes. Aprendi muito com toda a equipe e com este filme. Foram vários desafios, em especial o fato de que filmamos em plena pandemia, com todas as restrições e cuidados que o período demandava. Trabalhar no Praia Formosa também reforçou algo que venho percebendo na minha trajetória, de que há uma potência muito particular quando mulheres se juntam para contar histórias que atravessam o corpo feminino. É como se a própria forma de produzir carregasse traços do que está na tela: ética, cuidado e atenção às subjetividades.
MCB: Curadoria de Festivais é outra seara em que tem atuação constante. Poderia citar algumas e falar um pouco sobre essa experiência?
VS: Integro, desde 2019, a Comissão de Seleção da Mostra Competitiva Internacional do FesticurtasBH, o que considero como uma experiência formativa da minha trajetória como curadora. Ali, ao assistir um volume expressivo de filmes todos os anos, aprendi muita coisa sobre cinema e sobre o próprio processo curatorial. Cada obra é um gesto singular, um olhar específico produzido a partir de experiências, traumas, afetos e desejos. O trabalho de uma equipe de seleção, penso eu, é justamente escutar esses olhares em sua singularidade e, ao mesmo tempo, compreender o que eles dizem quando colocados lado a lado. O conjunto dos filmes sempre revela algo sobre o cinema contemporâneo que não está em nenhum filme isoladamente. Curadoria, para mim, é um gesto radicalmente coletivo. Não apenas porque se faz em equipe, mas porque nasce do encontro entre sensibilidades que se deixam atravessar pelas imagens. O processo de seleção é, nesse sentido, uma escuta, escuta das obras, das vozes que elas carregam e também das pessoas que compõem a equipe, com suas formações, repertórios e dissensos. E é nesse atrito, delicado, político, e por muitas vezes tenso também, que se desenha mostras que reflitam não apenas uma soma de filmes, mas uma visão crítica do que está pulsando no universo do cinema. Além dessa longa trajetória no Festicurtas, atuei também na equipe de curadoria da primeira edição da Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, em que estive envolvida na mostra “Cine-Escrituras Pretas”, dedicada a mapear parte da produção brasileira contemporânea realizada por cineastas negros. Ali, entendi com mais nitidez que curar é também tramar genealogias, produzir memória, reordenar ausências. Voltei à Semana na 3ª edição, desta vez com foco nos cinemas africanos e da diáspora, na mostra “Cinemas do Caribe Hoje”, que expandiu ainda mais meu horizonte sobre o cinema negro contemporâneo. Em 2025, pela primeira vez, integrei a equipe da Mostra Contemporânea Brasileira do forumdoc.bh, onde o cinema é pensado em diálogo direto com lutas territoriais, formas de vida comunitária e disputas simbólicas no país. Essa é outra experiência que me ajuda a pensar e a entender como os processos de produção do cinema podem ser tão distintos, e a reafirmar que a curadoria é uma prática política, escolher filmes é escolher conversas possíveis, priorizar mundos, sustentar debates. Mas é, igualmente, um exercício de cuidado com as imagens, com quem as faz e com quem as vê.
MCB: A presença de negras e negros em curadorias tem crescido? Você, Tatiana Carvalho Costa, Janaina Oliveira, Lorena Rocha, Viviane Pistache, Heitor Augusto, Gabriel Araújo, Kênia Freitas e Juliano Gomes são alguns nomes de excelência que me vêm imediatamente como nomes incontornáveis.
VS: Sim, a presença de profissionais negras e negros na curadoria tem crescido nos últimos anos, mas ainda está longe da proporção necessária para transformar estruturalmente o campo. Esses nomes que você cita, e tantos outros que vêm se consolidando, não representam apenas uma ampliação numérica, representam a emergência de outra epistemologia da curadoria. É uma curadoria que parte de outras referências, de outros repertórios de mundo, de outras formas de sensibilidade e de leitura da imagem. E isso altera completamente o modo como olhamos, organizamos e contextualizamos o cinema. Quando pessoas negras assumem posições de decisão, o próprio ecossistema se desloca, novas genealogias são traçadas, filmes antes invisibilizados ganham centralidade, e debates que antes eram marginais passam a estruturar a paisagem crítica. Ainda é um processo em construção, atravessado por disputas e assimetrias, mas é inegável que essa presença tem transformado profundamente o campo, em uma perspectiva estética, política, e institucionalmente.
MCB: A "Semana do Cinema Negro", da qual você é uma das curadoras, chega à terceira edição. É um espaço importante de difusão, reflexão e formação. Como avalia a "Semana" dentro do Panorama de Mostras e Festivais em Belo Horizonte e nacionalmente?
VS: A "Semana do Cinema Negro" vem se tornando ano a ano em um espaço absolutamente fundamental no panorama das mostras e festivais, tanto em Belo Horizonte quanto nacionalmente. Sua força está em articular, de maneira integrada, exibição, debate, crítica, formação de público e fortalecimento de redes. Mais do que um evento, ela se firma como um território de produção de pensamento, onde os cinemas negros é discutido não apenas como categoria estética, mas como campo político, histórico e comunitário. Avalio a "Semana" como um espaço onde cinema, política e comunidade se encontram de maneira radical. É ali que conseguimos construir memória, reinscrevendo filmes, trajetórias e arquivos que por tanto tempo foram marginalizados. É ali também onde conseguimos projetar futuro, entendendo as novas formas de imaginação e de linguagem que realizadoras e realizadores negros têm produzido. Sua repercussão nacional se deve justamente a essa perspectiva ampla. A "Semana" não se limita a exibir filmes, mas cria conversas, constelações, redes de afeto e pensamento. Ela contribui para reconfigurar o próprio modo como pensamos o cinema brasileiro. E cinema negro é cinema brasileiro!
MCB: Como você vê o panorama do Cinema Negro brasileiro atualmente? Quais são as temáticas mais recorrentes?
VS: O panorama do Cinema Negro brasileiro hoje é vibrante, múltiplo e, sobretudo, em expansão. Estamos diante de uma geração de realizadoras e realizadores que não precisa mais provar a existência de um “cinema negro”, mas que afirma suas próprias estéticas, metodologias e políticas de criação. Há uma pluralidade muito evidente: filmes profundamente autorais convivem com produções experimentais, documentários ensaísticos, obras de forte ancoragem comunitária e identitária, narrativas ficcionais que tensionam gênero, linguagem e forma. As temáticas recorrentes continuam orbitando questões estruturais, como racismo, território, identidade, ancestralidade, traumas e violências do Estado, memória; mas são abordadas hoje a partir de deslocamentos importantes. Vejo um interesse crescente por pensar afetos, intimidades, cotidianos; por imaginar futuros e fabulações; por revisitar arquivos e recontar histórias sob outras lentes. É como se estivéssemos num momento em que não apenas respondemos às urgências do presente, mas ampliamos nossa imaginação política sobre o que pode ser um cinema feito por pessoas negras no Brasil.
MCB: Voce poderia citar alguns destaques do cinema negro brasileiro atual?
VS: É sempre difícil listar nomes num campo tão pulsante, mas alguns trabalhos recentes têm marcado de maneira muito contundente a cena contemporânea. Entre as cineastas, penso imediatamente em Viviane Ferreira, cujas obras articulam política, memória e território de modo muito preciso; Glenda Nicácio, que revitaliza o gesto coletivo dentro do audiovisual; Everlane Moraes, com sua densidade poética e rigor formal; Safira Moreira, que tensiona arquivo, apagamento e afeto com uma sensibilidade única; Milena Manfredini, com um cinema experimental tecendo diálogo com as artes visuais. Entre os realizadores, destacaria André Novais Oliveira, pela delicadeza com que filma o cotidiano e as dinâmicas familiares; Lincoln Péricles, cujo cinema é uma fricção constante entre política, estética e experiência periférica. Mas talvez o maior destaque não esteja apenas nos nomes individuais, e sim na constelação que eles formam. O cinema negro brasileiro atual não é uma coleção de exceções, é um movimento vivo, coletivo, sustentado por redes, curadorias, cineclubes, pesquisadoras, produtoras e políticas de afirmação. É essa rede que garante que novos filmes continuem a surgir, e que novas vozes possam se inscrever com força e autonomia no cenário nacional.
MCB: Você está envolvida em mais algum projeto no cinema?
VS: Em 2025, passei a atuar na gestão de projetos da produtora Anavilhana, e integrei também a produção executiva do próximo filme da cineasta Everlane Moraes. Sigo envolvida nos processos de curadoria e lecionando para o curso de Cinema e Audiovisual da Una.
MCB: Para terminar, as duas únicas perguntas fixas do site: Qual o último filme brasileiro a que assistiu?
VS: Um dos últimos filmes brasileiros que assisti e que me marcou profundamente foi Cais, da Safira Moreira. Não foi o último, mas menciono ele porque é uma obra que permanece reverberando em mim, não apenas pela delicadeza da abordagem, mas sobretudo pela inventividade com que Safira se apropria da linguagem cinematográfica, criando um regime de imagens e sons que joga com elementos da mise-en-scène e da corporalidade do tempo para compor uma poética bastante singular e, diria eu, alinhada a uma cosmovisão e poética afro-brasileira. Ela convoca imagens, símbolos, presenças e temporalidades que escapam ao olhar ocidental, em um reformular da própria linguagem para que o cinema possa acolher outras ontologias e modos de sentir. Safira articula o visível e o invisível, o cotidiano e o sagrado, de forma bastante orgânica, e o filme emerge dessa escuta profunda dos gestos, das matérias, dos afetos e das ausências. A maneira como Safira trata o luto, a memória e a ancestralidade não é ilustrativa, é ritualística! O movimento entre o som das máquinas, o preparo do dendê, o trabalho das mãos, o silêncio das dunas, o fluxo da água e a respiração de uma mãe com seu filho cria um cinema que não se limita a representar. Cais, para mim, é uma experiência rara, um filme em que forma e sensibilidade se entrelaçam com precisão profunda, e onde a paisagem deixa de ser cenário para tornar-se território emocional e espiritual. É um gesto de cinema que se desloca, que gera trânsito e fluxo, que cria pontes entre os mundos material e espiritual. Tenho me interessado muito por esse “cinema ritual”, daqueles que permanecem a trabalhar dentro da gente, mesmo depois que a projeção termina.
MCB: Qual mulher do cinema brasileiro, de qualquer época e de qualquer área, você deixa registrada na sua entrevista como uma homenagem e o porquê?
VS: Aproveito essa oportunidade para deixar registrada minha homenagem à Joyce Prado, que fez sua passagem recentemente, de maneira tão precoce. Joyce faz parte de uma geração de realizadoras negras extremamente aguerridas, que reconfiguraram modos de produção e o próprio olhar no audiovisual, especialmente no que diz respeito às narrativas negras e às questões de gênero e identidade. Muito jovem, ela abriu caminhos com coragem, tensionando estruturas e ampliando horizontes para outras realizadoras. Atuou como diretora e roteirista; muito conhecida por seu longa Chico Rei entre Nós (2019). Foi também cofundadora da APAN – Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, uma das iniciativas mais importantes da última década no enfrentamento ao racismo institucional no audiovisual brasileiro; hoje um dos principais pilares de transformação do setor. E Joyce é parte essencial desse legado. A escolha de homenageá-la é um gesto de reconhecimento do que Joyce Prado representa, é afirmar que seu movimento permanece, que sua obra e sua militância seguem inspirando. É reconhecer que ela mudou o cinema brasileiro e que sua visão, de certa maneira, estará iluminando os caminhos que toda uma geração segue construindo agora.
MCB: Muito obrigado pela entrevista.
Entrevista realizada por texto no dia 12 de dezembro de 2025.Foto: Acervo pessoal

Veja também sobre ela